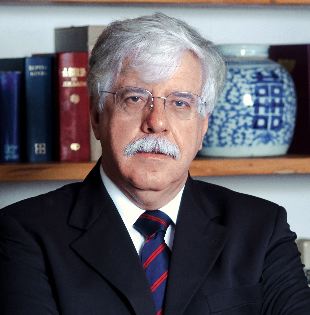Gelatina pode ajudar no tratamento da hipertensão
Substância é feita da pele de bovinos e suínos
EPTV Campinas
Gelatina contra Hipertensão
28/02/2007 - 21:46 - Uma pesquisa da Unicamp desenvolveu uma gelatina feita com pele de bovinos e suínos que pode, em breve, atuar como tratamento coadjuvante no controle da tensão arterial acima do normal, a chamada hipertensão, doença que atinge entre 15 e 20% dos brasileiros.
A gelatina foi testada em ratos e a hipertensão foi reduzida entre 20% e 25%. Em humanos, pode ter resultados semelhantes e reduzir até 10% da pressão arterial. O produto ainda não foi testado em humanos e não há uma data prevista ainda.
Segundo a pesquisadora, Mariza Faria, é a primeira vez que uma gelatina feita com pele de bovinos e suínos é testada. Estudos semelhantes foram feitos com substâncias retiradas do leite, soja e trigo, mas na Europa e Japão.
Médicos alertam que não existe ainda nenhum produto que substitua os remédios no tratamento da hipertensão.
O aposentado João Batista segue orientação médica em seu tratamento. Além dos remédios, reduziu a quantidade de sal consumida, aumentou a ingestão de verduras e pratica esportes, como hidroginástica e exercícios na bicicleta.
sexta-feira, 2 de março de 2007
Este "eu quero" rendeu ontem jantar no Piantella, entre o representante do partido etico com outro representante do partido etico.
quinta-feira, 1 de março de 2007
Para quem quer se deliciar com o texto de Hegel....
Ein Lehrstück gegen stereotype Denkformen ist der folgende Text, den Hegel 1807 verfaßte, man kann ihn getrost lesen als ob er gerade heute verfaßte wäre.
G.W.F. Hegel
Wer denkt abstrakt
Denken? Abstrakt? - Sauve qui peut! Rette sich wer kann! So höre ich schon einen vom Feinde erkauften Verräter ausrufen, der diesen Aufsatz dafür ausschreit, daß hier von Metaphysik die Rede sein werde. Denn _Metaphysik_ ist das Wort, wie _abstrakt_ und beinahe auch _Denken_, ist das Wort, vor dem jeder mehr oder minder wie vor einem mit der Pest behafteten davonläuft.
Es ist aber nicht so bös gemeint, daß, was denken und was abstrakt sei, hier erklärt werden sollte. Der schönen Welt ist nichts so unerträglich als das Erklären. Mit selbst ist es schrecklich genug, wenn einer zu erklären anfängt, denn zur Not verstehe ich alles selbst. Hier zeigte sich die Erklärung des Denkens und des Abstrakten ohnehin schon als völlig überflüssig; denn gerade nur, weil die schöne Welt schon weiß, was das Abstrakte ist, flieht sie davor. Wie man das nicht begehrt, was man nicht kennt, so kann man es auch nicht hassen.
Auch wird es nicht darauf angelegt, hinterlistigerweise die schöne Welt mit dem Denken oder dem Abstrakten versöhnen zu wollen; etwa daß unter dem Scheine einer leichten Konservation das Denken und das Abstrakte eingeschwärzt werden sollte, so daß es unbekannterweise, und ohne eben einen Abscheu zu erweckt zu haben, sich in die Gesellschaft eingeschlichen hätte und gar von der Gesellschaft selbst unmerklich hereingezogen oder, wie die Schwaben sich ausdrücken, hereingezäunselt worden wäre und nun dem Autor dieser Verwicklung diesen sonst fremden Gast, nämlich das Abstrakte, aufdeckte, den die ganze Gesellschaft unter einem anderen Titel als einen guten Bekannten behandelt und anerkannt hätte. Solche Erkenntnisgrenzen, wodurch die Welt wider Willen belehrt werden soll, haben den nicht zu entschuldigenden Fehler an sich, daß sie zugleich beschämen und der Maschinist sich einen kleinen Ruhm erkünsteln wollte, so daß jene Beschämung und diese Eitelkeit die Wirkung aufheben, denn sie stoßen eine um diesen Preis erkaufte Belehrung vielmehr wieder hinweg.
Ohnehin wäre die Anlegung eines solchen Plans schon verdorben; denn zu seiner Ausführung wird erfordert, daß das Wort des Rätsels nicht zum voraus ausgesprochen sei. Dies ist aber durch die Aufschrift schon geschehen; in dieser, wenn dieser Aufsatz mit solcher Hinterlist umginge, hätten die Worte nicht gleich von Anfang auftreten dürfen, sondern wie der Minister in der Komödie, das ganze Spiel hindurch im Überrocke herumgehen und erst in der letzten Szene ihn aufknöpfen und den Stern der Weisheit aufblitzen lassen müssen. Die Aufknöpfung eines metaphysischen Überrocks nähme sich hier nicht einmal so gut aus wie die Aufknöpfung des ministriellen, denn was jene an den Tag brächte, wäre weiter nichts als ein paar Worte; denn das Beste vom Spaße sollte ja eigentlich darin liegen, daß es sich zeigte, daß die Gesellschaft längst im Besitze der Sache selbst war; sie gewönne also am Ende nur den Namen, dahingegen der Stern des Ministers etwas Reelleres, einen Beutel mit Geld, bedeutet.
Was Denken, was abstrakt ist - daß dies jeder Anwesende wisse, wird in guter Gesellschaft vorausgesetzt, und in solcher befinden wir uns. Die Frage ist allein danach, _wer_ er sei, der abstrakt denke. Die Absicht ist, wie schon erinnert, nicht die, sie mit diesen Dingen zu versöhnen, ihr zuzumuten, sich mit etwas Schwerem abzugeben, ihr ins Gewissen darüber zu reden, daß sie leichtsinnigerweise so etwas vernachlässige, was für ein mit Vernunft begabtes Wesen rang- und standesgemäß sei. Vielmehr ist die Absicht, die schöne Welt mit sich selbst zu versöhnen, wenn sie sich anders eben nicht ein Gewissen über diese Vernachlässigung macht, aber doch vor dem abstrakten Denken als vor etwas Hohem eine gewissen Respekt wenigstens innerlich hat und davon wegsieht, nicht weil es ihr zu gering, sondern weil es ihr zu hoch, nicht weil es zu gemein, sondern zu vornehm, oder umgekehrt, weil es ihr eine Espèce, etwas Besonderes zu sein scheint, etwas wodurch man nicht in der allgemeinen Gesellschaft sich auszeichnet, wie durch einen neuen Putz, sondern wodurch man sich vielmehr, wie durch ärmliche Kleidung oder auch durch reiche, wenn sie aus alt gefaßten Edelsteinen oder einer noch so reichen Stickerei besteht, die aber längst chinesisch geworden ist, von der Gesellschaft ausschließt oder sich darin lächerlich macht.
Wer denkt abstrakt? Der ungebildete Mensch, nicht der gebildete. Die gute Gesellschaft denkt darum nicht abstrakt, weil es zu leicht ist, weil es zu niedrig ist, niedrig nicht dem äußeren Stande nach, nicht aus einem leeren Vornehmtun, das sich über das wegzusetzen stellt, was es nicht vermag, sondern wegen der inneren Geringheit der Sache.
Das Vorurteil und die Achtung für das abstrakte Denken ist so groß, daß feine Nasen hier eine Satire oder Ironie zum voraus wittern werden; allein, da sie Leser des _Morgenblattes_ sind, wissen sie, daß auf eine Satire ein Preis gesetzt ist und daß ich also ihn lieber zu verdienen glauben und darum konkurrieren als hier schon ohne weiteres meine Sachen hergeben würde.
Ich brauche für meinen Satz nur Beispiele anzuführen, von denen jedermann zugestehen wird, daß sie ihn enthalten. Es wird also ein Mörder zur Richtstätte geführt. Damen machen vielleicht die Bemerkung, daß er ein kräftiger, schöner, interessanter Mann ist. Jenes Volk findet die Bemerkung entsetzlich: was ein Mörder schön? wie kann man so schlecht denkend sein und einen Mörder schön nennen; ihr seid wohl etwas nicht viel Besseres! Dies ist ein Sittenverderbnis, die unter den vornehmen Leuten herrscht, setzt vielleicht der Priester hinzu, der den Grund der Dinge und die Herzen kennt.
Ein Menschenkenner sucht den Gang auf, den die Bildung des Verbrechers genommen, findet in seiner Geschichte schlechte Erziehung, schlechte Familienverhältnisse des Vaters und der Mutter, irgendeine ungeheure Härte bei einem leichteren Vergehen dieses Menschen, die ihn gegen die bürgerliche Ordnung erbitterte, eine erste Rückwirkung dagegen, die ihn daraus vertrieb und es ihm jetzt nur durch Verbrechen sich noch zu erhalten möglich machte. - Es kann wohl Leute geben, die, wenn sie solches hören, sagen werden: der will diesen Mörder entschuldigen! Erinnere ich mich doch, in meiner Jugend einen Bürgermeister klagen gehört zu haben, daß es die Bücherschreiber zu weit treiben und Christentum und Rechenschaffenheit ganz auszurotten suchen; es habe einer eine Verteidigung des Selbstmordes geschrieben; schrecklich, gar zu schrecklich! - Es ergab sich aus weiterer Nachfrage, daß _Werthers_ Leiden verstanden waren.
Dies heißt abstrakt gedacht, in dem Mörder nichts als dies Abstrakte, daß er ein Mörder ist, zu sehen und durch diese einfache Qualität alles übrige menschliche Wesen an ihm zu vertilgen. Ganz anders eine feine, empfindsame Leipziger Welt. Sie bestreute und beband das Rad und den Verbrecher, der darauf geflochten war, mit Blumenkränzen. - Dies ist aber wieder die entgegengesetzte Abstraktion. Die Christen mögen wohl Rosenkranzerei oder vielmehr Kreuzroserei treiben, das Kreuz mit Rosen umwinden. Das Kreuz ist der längst geheiligte Galgen und Rad. Es hat seine einseitige Bedeutung, das Werkzeug entehrender Strafe zu sein, verloren und kennt im Gegenteil die Vorstellung des höchsten Schmerzes und der tiefsten Verwerfung, zusammen mit der freudigsten Wonne und göttlicher Ehre. Hingegen das Leipziger Kreuz, mit Veilchen und Klatschrosen eingebunden, ist eine Kotzebuesche Versöhnung, eine Art liederlicher Verträglichkeit der Empfindsamkeit mit dem Schlechten.
Ganz anders hörte ich einst eine gemeine alte Frau, ein Spitalweib, die Abstraktion des Mörders töten und ihn zur Ehre lebendig machen. Das abgeschlagene Haupt war aufs Schaffot gelegt, und es war Sonnenschein; wie doch so schön, sagte sie, Gottes Gnadensonne _Binders_ Haupt beglänzt! - Du bist nicht wert, daß dich die Sonne bescheint, sagt man zu einem Wicht über den man sich entzürnt. Jene Frau sah, daß der Mörderkopf von der Sonne beschienen wurde und es also auch noch wert war. Sie erhob ihn von der Strafe des Schaffots in die Sonnengnade Gottes, brachte nicht durch ihr Veilchen und ihre empfindsame Eitelkeit die Versöhnung zustande, sondern sah in der höheren Sonne ihn zu Gnaden aufgenommen.
Alte, ihre Eier sind faul, sagt die Einkäuferin zur Hökerfrau. Was, entgegnet diese, meine Eier faul? Sie mag mir faul sein! Sie soll mir das von meinen Einern sagen? Sie? Haben ihren Vater nicht die Läuse an der Landstraße aufgefressen, ist nicht ihre Mutter mit den Franzosen fortgelaufen und ihre Großmutter im Spital gestorben, - schaff sie sich für ihr Flitterhalstuch ein ganzen Hemd an; man weiß wohl, wo sie das Halstuch und die Mützen her hat; wenn die Offiziere nicht wären, wär jetzt manche nicht so geputzt, und wenn die gnädigen Frauen mehr auf ihre Haushaltung sähen, säße manche im Stockhause, - flick sie sich nur die Löcher in den Strümpfen! - Kurz, sie läßt keinen guten Faden an ihr. Sie denkt abstrakt und subsumiert sie nach Halstuch, Mütze, Hemd usf. wie nach den Fingern und anderen Partien, auch nach dem Vater und der ganzen Sippschaft, ganz allein unter das Verbrechen, daß sie die Eier faul gefunden hat; alles an ihr ist durch und durch und durch mit faulen Eiern gefärbt, dahingegen jene Offiziere, von denen die Hökersfrau sprach - wenn anders, wie sehr zu zweifeln, etwas dran ist -, ganz andere Dinge an ihr zu sehen bekommen mögen.
Um von der Magd auf den Bedienten zu kommen, so ist kein Bedienter schlechter dran als bei einem Manne von wenigem Stande und wenigem Einkommen, und um so besser daran, je vornehmer der Herr ist. Der gemeine Mensch denkt wieder abstrakter, er tut vornehm gegen den Bedienten und verhält sich zu diesem nur als einem Bedienten; an diesem einen Prädikate hält er fest. Am besten befindet sich der Bediente bei den Franzosen. Der vornehme Mann ist familiär mit dem Bedienten, der Franzose sogar gut Freund mit ihm; dieser führt, wenn sie allein sind, das große Wort, man sehe Diderot Jacque et son maître, der Herr tut nichts als Prisen-Tabak nehmen und nach der Uhr sehen und läßt den Bedienten in allem Übrigen gewähren. Der vornehme Mann weiß, daß der Bediente nicht nur Bedienter ist, sondern auch die Stadtneuigkeiten weiß, die Mädchen kennt, gute Anschläge im Kopfe hat; er fragt ihn darüber und der Bediente darf sagen, was er über das weiß, worüber der Prinzipial frug. Beim französischen Herrn darf der Bediente nicht nur dies, sondern auch die Materie aufs Tapet bringen, seine Meinung haben und behaupten, und wenn der Herr etwas will, so geht es nicht mit Befehl, sondern er muß dem Bedienten zuerst seine Meinung einräsonieren und ihm ein gutes Wort darum geben, daß seine Meinung die Oberhand behält.
In Militär kommt derselbe Unterschied vor; beim preußischen kann der Soldat geprügelt werden, er ist also eine Kanaille; denn was geprügelt zu werden das passive Recht hat, ist eine Kanaille. So gilt der gemeine Soldat dem Offizier für dies Abstraktum eines prügelbaren Subjekts, mit dem ein Herr, der Uniform und _Porte d'épée_ hat, sich abgeben muß, und das ist, um sich dem Teufel zu ergeben.
Extraido de http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr91.htm
G.W.F. Hegel
Wer denkt abstrakt
Denken? Abstrakt? - Sauve qui peut! Rette sich wer kann! So höre ich schon einen vom Feinde erkauften Verräter ausrufen, der diesen Aufsatz dafür ausschreit, daß hier von Metaphysik die Rede sein werde. Denn _Metaphysik_ ist das Wort, wie _abstrakt_ und beinahe auch _Denken_, ist das Wort, vor dem jeder mehr oder minder wie vor einem mit der Pest behafteten davonläuft.
Es ist aber nicht so bös gemeint, daß, was denken und was abstrakt sei, hier erklärt werden sollte. Der schönen Welt ist nichts so unerträglich als das Erklären. Mit selbst ist es schrecklich genug, wenn einer zu erklären anfängt, denn zur Not verstehe ich alles selbst. Hier zeigte sich die Erklärung des Denkens und des Abstrakten ohnehin schon als völlig überflüssig; denn gerade nur, weil die schöne Welt schon weiß, was das Abstrakte ist, flieht sie davor. Wie man das nicht begehrt, was man nicht kennt, so kann man es auch nicht hassen.
Auch wird es nicht darauf angelegt, hinterlistigerweise die schöne Welt mit dem Denken oder dem Abstrakten versöhnen zu wollen; etwa daß unter dem Scheine einer leichten Konservation das Denken und das Abstrakte eingeschwärzt werden sollte, so daß es unbekannterweise, und ohne eben einen Abscheu zu erweckt zu haben, sich in die Gesellschaft eingeschlichen hätte und gar von der Gesellschaft selbst unmerklich hereingezogen oder, wie die Schwaben sich ausdrücken, hereingezäunselt worden wäre und nun dem Autor dieser Verwicklung diesen sonst fremden Gast, nämlich das Abstrakte, aufdeckte, den die ganze Gesellschaft unter einem anderen Titel als einen guten Bekannten behandelt und anerkannt hätte. Solche Erkenntnisgrenzen, wodurch die Welt wider Willen belehrt werden soll, haben den nicht zu entschuldigenden Fehler an sich, daß sie zugleich beschämen und der Maschinist sich einen kleinen Ruhm erkünsteln wollte, so daß jene Beschämung und diese Eitelkeit die Wirkung aufheben, denn sie stoßen eine um diesen Preis erkaufte Belehrung vielmehr wieder hinweg.
Ohnehin wäre die Anlegung eines solchen Plans schon verdorben; denn zu seiner Ausführung wird erfordert, daß das Wort des Rätsels nicht zum voraus ausgesprochen sei. Dies ist aber durch die Aufschrift schon geschehen; in dieser, wenn dieser Aufsatz mit solcher Hinterlist umginge, hätten die Worte nicht gleich von Anfang auftreten dürfen, sondern wie der Minister in der Komödie, das ganze Spiel hindurch im Überrocke herumgehen und erst in der letzten Szene ihn aufknöpfen und den Stern der Weisheit aufblitzen lassen müssen. Die Aufknöpfung eines metaphysischen Überrocks nähme sich hier nicht einmal so gut aus wie die Aufknöpfung des ministriellen, denn was jene an den Tag brächte, wäre weiter nichts als ein paar Worte; denn das Beste vom Spaße sollte ja eigentlich darin liegen, daß es sich zeigte, daß die Gesellschaft längst im Besitze der Sache selbst war; sie gewönne also am Ende nur den Namen, dahingegen der Stern des Ministers etwas Reelleres, einen Beutel mit Geld, bedeutet.
Was Denken, was abstrakt ist - daß dies jeder Anwesende wisse, wird in guter Gesellschaft vorausgesetzt, und in solcher befinden wir uns. Die Frage ist allein danach, _wer_ er sei, der abstrakt denke. Die Absicht ist, wie schon erinnert, nicht die, sie mit diesen Dingen zu versöhnen, ihr zuzumuten, sich mit etwas Schwerem abzugeben, ihr ins Gewissen darüber zu reden, daß sie leichtsinnigerweise so etwas vernachlässige, was für ein mit Vernunft begabtes Wesen rang- und standesgemäß sei. Vielmehr ist die Absicht, die schöne Welt mit sich selbst zu versöhnen, wenn sie sich anders eben nicht ein Gewissen über diese Vernachlässigung macht, aber doch vor dem abstrakten Denken als vor etwas Hohem eine gewissen Respekt wenigstens innerlich hat und davon wegsieht, nicht weil es ihr zu gering, sondern weil es ihr zu hoch, nicht weil es zu gemein, sondern zu vornehm, oder umgekehrt, weil es ihr eine Espèce, etwas Besonderes zu sein scheint, etwas wodurch man nicht in der allgemeinen Gesellschaft sich auszeichnet, wie durch einen neuen Putz, sondern wodurch man sich vielmehr, wie durch ärmliche Kleidung oder auch durch reiche, wenn sie aus alt gefaßten Edelsteinen oder einer noch so reichen Stickerei besteht, die aber längst chinesisch geworden ist, von der Gesellschaft ausschließt oder sich darin lächerlich macht.
Wer denkt abstrakt? Der ungebildete Mensch, nicht der gebildete. Die gute Gesellschaft denkt darum nicht abstrakt, weil es zu leicht ist, weil es zu niedrig ist, niedrig nicht dem äußeren Stande nach, nicht aus einem leeren Vornehmtun, das sich über das wegzusetzen stellt, was es nicht vermag, sondern wegen der inneren Geringheit der Sache.
Das Vorurteil und die Achtung für das abstrakte Denken ist so groß, daß feine Nasen hier eine Satire oder Ironie zum voraus wittern werden; allein, da sie Leser des _Morgenblattes_ sind, wissen sie, daß auf eine Satire ein Preis gesetzt ist und daß ich also ihn lieber zu verdienen glauben und darum konkurrieren als hier schon ohne weiteres meine Sachen hergeben würde.
Ich brauche für meinen Satz nur Beispiele anzuführen, von denen jedermann zugestehen wird, daß sie ihn enthalten. Es wird also ein Mörder zur Richtstätte geführt. Damen machen vielleicht die Bemerkung, daß er ein kräftiger, schöner, interessanter Mann ist. Jenes Volk findet die Bemerkung entsetzlich: was ein Mörder schön? wie kann man so schlecht denkend sein und einen Mörder schön nennen; ihr seid wohl etwas nicht viel Besseres! Dies ist ein Sittenverderbnis, die unter den vornehmen Leuten herrscht, setzt vielleicht der Priester hinzu, der den Grund der Dinge und die Herzen kennt.
Ein Menschenkenner sucht den Gang auf, den die Bildung des Verbrechers genommen, findet in seiner Geschichte schlechte Erziehung, schlechte Familienverhältnisse des Vaters und der Mutter, irgendeine ungeheure Härte bei einem leichteren Vergehen dieses Menschen, die ihn gegen die bürgerliche Ordnung erbitterte, eine erste Rückwirkung dagegen, die ihn daraus vertrieb und es ihm jetzt nur durch Verbrechen sich noch zu erhalten möglich machte. - Es kann wohl Leute geben, die, wenn sie solches hören, sagen werden: der will diesen Mörder entschuldigen! Erinnere ich mich doch, in meiner Jugend einen Bürgermeister klagen gehört zu haben, daß es die Bücherschreiber zu weit treiben und Christentum und Rechenschaffenheit ganz auszurotten suchen; es habe einer eine Verteidigung des Selbstmordes geschrieben; schrecklich, gar zu schrecklich! - Es ergab sich aus weiterer Nachfrage, daß _Werthers_ Leiden verstanden waren.
Dies heißt abstrakt gedacht, in dem Mörder nichts als dies Abstrakte, daß er ein Mörder ist, zu sehen und durch diese einfache Qualität alles übrige menschliche Wesen an ihm zu vertilgen. Ganz anders eine feine, empfindsame Leipziger Welt. Sie bestreute und beband das Rad und den Verbrecher, der darauf geflochten war, mit Blumenkränzen. - Dies ist aber wieder die entgegengesetzte Abstraktion. Die Christen mögen wohl Rosenkranzerei oder vielmehr Kreuzroserei treiben, das Kreuz mit Rosen umwinden. Das Kreuz ist der längst geheiligte Galgen und Rad. Es hat seine einseitige Bedeutung, das Werkzeug entehrender Strafe zu sein, verloren und kennt im Gegenteil die Vorstellung des höchsten Schmerzes und der tiefsten Verwerfung, zusammen mit der freudigsten Wonne und göttlicher Ehre. Hingegen das Leipziger Kreuz, mit Veilchen und Klatschrosen eingebunden, ist eine Kotzebuesche Versöhnung, eine Art liederlicher Verträglichkeit der Empfindsamkeit mit dem Schlechten.
Ganz anders hörte ich einst eine gemeine alte Frau, ein Spitalweib, die Abstraktion des Mörders töten und ihn zur Ehre lebendig machen. Das abgeschlagene Haupt war aufs Schaffot gelegt, und es war Sonnenschein; wie doch so schön, sagte sie, Gottes Gnadensonne _Binders_ Haupt beglänzt! - Du bist nicht wert, daß dich die Sonne bescheint, sagt man zu einem Wicht über den man sich entzürnt. Jene Frau sah, daß der Mörderkopf von der Sonne beschienen wurde und es also auch noch wert war. Sie erhob ihn von der Strafe des Schaffots in die Sonnengnade Gottes, brachte nicht durch ihr Veilchen und ihre empfindsame Eitelkeit die Versöhnung zustande, sondern sah in der höheren Sonne ihn zu Gnaden aufgenommen.
Alte, ihre Eier sind faul, sagt die Einkäuferin zur Hökerfrau. Was, entgegnet diese, meine Eier faul? Sie mag mir faul sein! Sie soll mir das von meinen Einern sagen? Sie? Haben ihren Vater nicht die Läuse an der Landstraße aufgefressen, ist nicht ihre Mutter mit den Franzosen fortgelaufen und ihre Großmutter im Spital gestorben, - schaff sie sich für ihr Flitterhalstuch ein ganzen Hemd an; man weiß wohl, wo sie das Halstuch und die Mützen her hat; wenn die Offiziere nicht wären, wär jetzt manche nicht so geputzt, und wenn die gnädigen Frauen mehr auf ihre Haushaltung sähen, säße manche im Stockhause, - flick sie sich nur die Löcher in den Strümpfen! - Kurz, sie läßt keinen guten Faden an ihr. Sie denkt abstrakt und subsumiert sie nach Halstuch, Mütze, Hemd usf. wie nach den Fingern und anderen Partien, auch nach dem Vater und der ganzen Sippschaft, ganz allein unter das Verbrechen, daß sie die Eier faul gefunden hat; alles an ihr ist durch und durch und durch mit faulen Eiern gefärbt, dahingegen jene Offiziere, von denen die Hökersfrau sprach - wenn anders, wie sehr zu zweifeln, etwas dran ist -, ganz andere Dinge an ihr zu sehen bekommen mögen.
Um von der Magd auf den Bedienten zu kommen, so ist kein Bedienter schlechter dran als bei einem Manne von wenigem Stande und wenigem Einkommen, und um so besser daran, je vornehmer der Herr ist. Der gemeine Mensch denkt wieder abstrakter, er tut vornehm gegen den Bedienten und verhält sich zu diesem nur als einem Bedienten; an diesem einen Prädikate hält er fest. Am besten befindet sich der Bediente bei den Franzosen. Der vornehme Mann ist familiär mit dem Bedienten, der Franzose sogar gut Freund mit ihm; dieser führt, wenn sie allein sind, das große Wort, man sehe Diderot Jacque et son maître, der Herr tut nichts als Prisen-Tabak nehmen und nach der Uhr sehen und läßt den Bedienten in allem Übrigen gewähren. Der vornehme Mann weiß, daß der Bediente nicht nur Bedienter ist, sondern auch die Stadtneuigkeiten weiß, die Mädchen kennt, gute Anschläge im Kopfe hat; er fragt ihn darüber und der Bediente darf sagen, was er über das weiß, worüber der Prinzipial frug. Beim französischen Herrn darf der Bediente nicht nur dies, sondern auch die Materie aufs Tapet bringen, seine Meinung haben und behaupten, und wenn der Herr etwas will, so geht es nicht mit Befehl, sondern er muß dem Bedienten zuerst seine Meinung einräsonieren und ihm ein gutes Wort darum geben, daß seine Meinung die Oberhand behält.
In Militär kommt derselbe Unterschied vor; beim preußischen kann der Soldat geprügelt werden, er ist also eine Kanaille; denn was geprügelt zu werden das passive Recht hat, ist eine Kanaille. So gilt der gemeine Soldat dem Offizier für dies Abstraktum eines prügelbaren Subjekts, mit dem ein Herr, der Uniform und _Porte d'épée_ hat, sich abgeben muß, und das ist, um sich dem Teufel zu ergeben.
Extraido de http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr91.htm
Alguns amigos, colegas, inimigos e indiferentes, cobram-me a utilização do par direita/esquerda, quando se trata de minha crítica aos militantes. Tanto os setores da direita quanto os da esquerda que me conhecem sabem perfeitamente que não tenho o hábito (próprio dos militantes...) de rotular um pensamento ou pessoa segundo aquelas categorias. Antes de tudo, diante de uma enunciação, pergunto —seguindo a tradição jurídica prezada por I. Kant— sobre o fato indicado e sobre o estatuto de verdade do que se disse ou se escreveu.
Não quero saber se o fulano é de direita, esquerda, centro, católico, protestante, homosexual, heterosexual, sei lá o que mais. Quem me dá a honra de ler o que escrevo, sabe que sempre insisto em citar o texto de Hegel intitulado "Quem pensa abstrato?". Resumindo: certa jovem reclama para uma velhinha que vendia ovos na feira: "os ovos que a senhora me vendeu na semana passada estavam podres". Vejam bem: ovos são ovos e podem apodrecer nas mãos de qualquer um, honesto ou desonesto. Trata-se de um fato possível e previsível. Uma velhinha honesta, em atos e pensamentos, responderia: "traga-me os ovos podres e os trocarei". Com isso, ela garantiria que a frase da jovem seria provada ou não.
Mas, prossegue Hegel, não foi este o caminho empreendido pela vendedora macróbia. Furiosa, ela retruca de imediato :"Quem é você para dizer que os ovos vendidos por mim estão podres ?". A réplica tem a marca da má fé. A jovem enunciou algo sobre objetos que poderiam ser verificados. A velha responde apelando para a subjetividade, deslocando o campo da questão. E já no "quem é você", percebe-se o contra ataque próprio do sofista (seja ele bisonho, seja ele bem treinado na escola de Gorgias).
E prossegue a velhinha : "então não sabemos que seu pai ferido na guerra foi abandonado num asilo? E que sua mãe fugiu com um soldado francês, e também não sabemos como e onde você arruma dinheiro para comprar estes vestidos e fitas bonitos?". Aí a antilogia chegou ao máximo da má fé. Na impossibilidade de provar sua honesta posição, porque isto implicaria passar pelo estado dos ovos vendidos, a velha prefere, em vez de se defender, atacar. Assim, ficamos sabendo que se os ovos da feirante estão podres, também que as pessoas ligadas à sua adversária são podres (o pai é doente, a mão é covarde e adúltera, a mocinha é puta). O que se prova com tudo isso? Que nos pensamentos e nas ações é preciso ir aos fatos completos, à lógica, ao caráter das pessoas, sem rotulá-las.
Conheço pessoas de direita que respeitam fatos, sabem deduzir elementos lógicos uns dos outros, agem de modo reto e sem subterfúgios como os da velhota. Elas não acusam as idéias contrárias às suas, e seus enunciadores, de podridão (noética ou moral). Buscam pensar sobre os objetos (os ovos) que os seus adversários de esquerda ou de centro (alto ou baixo, pouco importa) lhe pedem que analisem. Nada perdem de suas convicções, por exemplo, quando lêem autores contrários ao que pensam. Aliás, não têm medo de ler aqueles autores. E mostram respeito por autores que pensam de modo diferente do seu, pois são os seus sparrings, os ajudam a fortalecer suas razões. Tais pessoas jamais serão militantes, no sentido boçal e habitual do termo. Elas não juram pelos seus mestres de pensamento, examinam pessoalmente os escritos e as falas de todos os que participam da ordem social. E decidem com base em seu próprio juízo, sem auxílio do papai Hitler e derivados contemporâneos.
Conheço pessoas de esquerda......[seguem exatamente as mesmas palavras do § acima até Hitler e derivados contemporâneos, troquem por favor por Stalin e seus derivados contemporâneos].
Um indício de pessoa de direita e de esquerda honestas e leais a si mesmas e aos outros, é a gentileza, a cortesia, o respeito pelos seres humanos. Quando alguém imagina ter o direito de menosprezar outros humanos, neles colocando apelidos, acusando-os de idiotice ou animalidade, temos a clara nota: trata-se de um militante e, portanto, de péssimo caráter. Olhem para o rosto dos militantes (de direita e de esquerda...) : quando "conversam" com alguém que não respeitam (e, por definição, só respeitam que pensa igual a eles, ou não pensa...) deixam os olhos vagando pela sala, pelo teto, pela janela, aguentando apenas até a hora em que o suposto inimigo pare de falar. Aí, sem levar em conta, minimamente, o que foi dito, repetem as suas verdades em frases estereotipadas.
Militantes me recordam as crianças que, nas cidades históricas brasileiras, se oferecem para mostrar igrejas, monumentos, museus, etc. "Esta igreja foi erguida em 1759 por X, por ordem do Rei de Portugal...etc". Se um turista pergunta: "mas quem pagou a construção?" ou uma outra pergunta não prevista no script, a criança olha feio para o incômodo indivíduo e recomeça: "Esta igreja foi erguida....". Militante é o que aprendeu um vade mecum e, com ele, aprendeu também a odiar quem não entra nos moldes discursivos e práticos do circulo ao qual ele, o militante, pertence.
Ficamos assim: tenho amigos de esquerda e de direita. Eles que me perdoem, mas recuso o procedimento de suas greis. Odeio ler análises de livros, filmes, partidos, religiões, etc. quando logo nas primeiras frases e insultos percebo os dedos da velhinha hegeliana que aponta para subjetividades, quando questões factuais e objetivas (os ovos estão podres?) surgem. A má fé dá-me engulhos. Um pouco de polidez no trato seria relevante, neste Brasil atrasado em todos os planos, sobretudo nos ideológicos.
Um abraço!
Roberto Romano
Não quero saber se o fulano é de direita, esquerda, centro, católico, protestante, homosexual, heterosexual, sei lá o que mais. Quem me dá a honra de ler o que escrevo, sabe que sempre insisto em citar o texto de Hegel intitulado "Quem pensa abstrato?". Resumindo: certa jovem reclama para uma velhinha que vendia ovos na feira: "os ovos que a senhora me vendeu na semana passada estavam podres". Vejam bem: ovos são ovos e podem apodrecer nas mãos de qualquer um, honesto ou desonesto. Trata-se de um fato possível e previsível. Uma velhinha honesta, em atos e pensamentos, responderia: "traga-me os ovos podres e os trocarei". Com isso, ela garantiria que a frase da jovem seria provada ou não.
Mas, prossegue Hegel, não foi este o caminho empreendido pela vendedora macróbia. Furiosa, ela retruca de imediato :"Quem é você para dizer que os ovos vendidos por mim estão podres ?". A réplica tem a marca da má fé. A jovem enunciou algo sobre objetos que poderiam ser verificados. A velha responde apelando para a subjetividade, deslocando o campo da questão. E já no "quem é você", percebe-se o contra ataque próprio do sofista (seja ele bisonho, seja ele bem treinado na escola de Gorgias).
E prossegue a velhinha : "então não sabemos que seu pai ferido na guerra foi abandonado num asilo? E que sua mãe fugiu com um soldado francês, e também não sabemos como e onde você arruma dinheiro para comprar estes vestidos e fitas bonitos?". Aí a antilogia chegou ao máximo da má fé. Na impossibilidade de provar sua honesta posição, porque isto implicaria passar pelo estado dos ovos vendidos, a velha prefere, em vez de se defender, atacar. Assim, ficamos sabendo que se os ovos da feirante estão podres, também que as pessoas ligadas à sua adversária são podres (o pai é doente, a mão é covarde e adúltera, a mocinha é puta). O que se prova com tudo isso? Que nos pensamentos e nas ações é preciso ir aos fatos completos, à lógica, ao caráter das pessoas, sem rotulá-las.
Conheço pessoas de direita que respeitam fatos, sabem deduzir elementos lógicos uns dos outros, agem de modo reto e sem subterfúgios como os da velhota. Elas não acusam as idéias contrárias às suas, e seus enunciadores, de podridão (noética ou moral). Buscam pensar sobre os objetos (os ovos) que os seus adversários de esquerda ou de centro (alto ou baixo, pouco importa) lhe pedem que analisem. Nada perdem de suas convicções, por exemplo, quando lêem autores contrários ao que pensam. Aliás, não têm medo de ler aqueles autores. E mostram respeito por autores que pensam de modo diferente do seu, pois são os seus sparrings, os ajudam a fortalecer suas razões. Tais pessoas jamais serão militantes, no sentido boçal e habitual do termo. Elas não juram pelos seus mestres de pensamento, examinam pessoalmente os escritos e as falas de todos os que participam da ordem social. E decidem com base em seu próprio juízo, sem auxílio do papai Hitler e derivados contemporâneos.
Conheço pessoas de esquerda......[seguem exatamente as mesmas palavras do § acima até Hitler e derivados contemporâneos, troquem por favor por Stalin e seus derivados contemporâneos].
Um indício de pessoa de direita e de esquerda honestas e leais a si mesmas e aos outros, é a gentileza, a cortesia, o respeito pelos seres humanos. Quando alguém imagina ter o direito de menosprezar outros humanos, neles colocando apelidos, acusando-os de idiotice ou animalidade, temos a clara nota: trata-se de um militante e, portanto, de péssimo caráter. Olhem para o rosto dos militantes (de direita e de esquerda...) : quando "conversam" com alguém que não respeitam (e, por definição, só respeitam que pensa igual a eles, ou não pensa...) deixam os olhos vagando pela sala, pelo teto, pela janela, aguentando apenas até a hora em que o suposto inimigo pare de falar. Aí, sem levar em conta, minimamente, o que foi dito, repetem as suas verdades em frases estereotipadas.
Militantes me recordam as crianças que, nas cidades históricas brasileiras, se oferecem para mostrar igrejas, monumentos, museus, etc. "Esta igreja foi erguida em 1759 por X, por ordem do Rei de Portugal...etc". Se um turista pergunta: "mas quem pagou a construção?" ou uma outra pergunta não prevista no script, a criança olha feio para o incômodo indivíduo e recomeça: "Esta igreja foi erguida....". Militante é o que aprendeu um vade mecum e, com ele, aprendeu também a odiar quem não entra nos moldes discursivos e práticos do circulo ao qual ele, o militante, pertence.
Ficamos assim: tenho amigos de esquerda e de direita. Eles que me perdoem, mas recuso o procedimento de suas greis. Odeio ler análises de livros, filmes, partidos, religiões, etc. quando logo nas primeiras frases e insultos percebo os dedos da velhinha hegeliana que aponta para subjetividades, quando questões factuais e objetivas (os ovos estão podres?) surgem. A má fé dá-me engulhos. Um pouco de polidez no trato seria relevante, neste Brasil atrasado em todos os planos, sobretudo nos ideológicos.
Um abraço!
Roberto Romano
No Blog Perolas de Alvaro Caputo....

xael.org/norman/dessins/dessins.html

www.blogg.org/blog-11160-themes-blagounette_p...
Os totalitarismos sãõ~profundamente amargos, sem humor. E as ditaduras que herdaram o figado azedo das doutrinas totalitárias, também nunca tiveram bom humor. Militantes de esquerda ou direita são constipados (em todos os sentidos, inclusive noético). Daí a sua truculência habitual. Lembro-me que na ditadura militar, o Pasquim significou um dos esteios mais fortes da oposição, rindo à solta dos patéticos governantes. No Convento dos Dominicanos de Juiz de Fora, em 1965, foram confiscados dicionários com capa vermelha, e outras jóias. O inesquecível Ponte Preta recolheu apenas uma parcela minima do Festival de Besteiras que Assola o País. Rir é um meio de continuar vivo, com saúde. "Rindo, dizer coisas sérias" pode-se ler em Aristóteles. Lembram-se também da caçada empreendida pelo monge louco contra o riso, no cativante romance de Humberto Eco? Volto ao mote: militantes e militares não riem. Sendo parentes (militar/militante) na sua casa familiar a ordem é nunca rir e sempre prender e arrebentar que possui humor. Alguns militantes da antiga oposição, que hoje é governo, já tinham o fígado adoecido. Depois que seus líderes subiram aos palácios, ficaram ainda piores.
Todo o palavrório acima é para dizer que apreciei muito, embora discordando de algumas frases, da matéria trazida hoje no Blog Pérolas, de Alvaro Caputo. Leiam e se deliciem:
"Chapeuzinho Vermelho - Diferentes maneiras de contar a mesma história:
JORNAL NACIONAL
(William Bonner): "Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem...".
(Fátima Bernardes): "... mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia".
FANTÁSTICO
(Glória Maria): "... que gracinha, gente. Vocês não vão acreditar, mas essa menina linda aqui foi retirada viva da barriga de um lobo,
não é mesmo?"
CIDADE ALERTA
(Datena): "... onde é que a gente vai parar, cadê as autoridades?
Cadê as autoridades? ! A menina ia para a casa da avozinha a pé! Não tem transporte público! Não tem transporte público! E foi devorada viva... Um lobo, um lobo safado. Põe na tela!! Porque eu falo mesmo, não tenho medo de lobo, não tenho medo de lobo, não."
REVISTA VEJA
Lulla sabia das intenções do lobo.
REVISTA CLÁUDIA
Como chegar à casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos
no caminho.
REVISTA NOVA
Dez maneiras de levar um lobo à loucura na cama.
REVISTA MARIE-CLAIRE
Na cama com o lobo e a vovó.
FOLHA DE S. PAULO
Legenda da foto: "Chapeuzinho, à direita, aperta a mão de seu salvador". Na matéria, box com um zoólogo explicando os hábitos
alimentares dos lobos e um imenso infográfico mostrando como Chapeuzinho foi devorada e depois salva pelo lenhador.
O ESTADO DE S. PAULO
Lobo que devorou Chapeuzinho seria filiado ao PT.
ZERO HORA
Avó de Chapeuzinho nasceu no RS.
AQUI
Sangue e tragédia na casa da vovó
REVISTA CARAS (Ensaio fotográfico com Chapeuzinho na semana seguinte)
Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala a CARAS: "Até ser devorada, eu não dava valor para muitas coisas da vida. Hoje sou outra
pessoa"
PLAYBOY (Ensaio fotográfico no mês seguinte)
Veja o que só o lobo viu.
REVISTA ISTO É
Gravações revelam que lobo foi assessor de político influente.
Lulla
O lobo não pode ser condenado, ele não teve escola na infância.
Berzoini
Este dossiê Lobo é falso, foi plantado pelo PSDB
G MAGAZINE (Ensaio fotográfico com lenhador)
Lenhador usa o machado e mostra o pau".
Mulher do Mantega
O Lobo foi Hiper-Gentil!!! Inclusive vou me reencontrar com ele na Ilha de Caras...
Padre Júlio Lancelloti
Ele vai ser protegido pela pastoral do Lobo-Menor.
Diogo Mainardi
A PTrobras vai financiar um diretor de cinema petista para contar a história sob o ponte de vista do Lobo.
Reinaldo Azevedo
Tem que baixar a idade penal dos Lobos para 16 anos.
Renato Janine Ribeiro
São tantas a emoções que não sei como filósofo o que dizer. Mas o Lobo pode apresentar sua tese no Capes.
=============
E no mesmo blog Pérolas, de Alvaro Caputo, uma piada politicamente correta, julguem o que julgarem os amigos da ditadura Fidel Castro:
En Cuba, un niño regresa de la escuela a su casa, cansado y hambriento y le pregunta a su mamá:
-"Mamá, ¿que hay de comer?
-"Nada, mi hijo."
El niño mira hacia el loro que tienen y pregunta:
-"Mamá, ¿por qué no loro con arroz?"
-"No hay arroz."
-"¿Y loro al horno?"
-"No hay gas."
-"¿Y loro en la parrilla eléctrica?"
-"No hay electricidad."
-"¿Y loro frito?"
-"No hay aceite."
El loro contentísimo gritaba:
-"¡¡¡VIVA FIDEL!!! ¡¡¡VIVA FIDEL!!!"
01/03/2007 - 13h42
Carga tributária bate recorde e atinge 38,8% do PIB em 2006, diz IBPT
da Folha Online
A carga tributária brasileira atingiu 38,80% do PIB em 2006, o que representa um crescimento de 0,98 ponto percentual em relação a 2005, quando alcançou 37,82%, segundo projeções do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). Os dados são baseados no PIB brasileiro que cresceu 2,9% em 2006, segundo divulgou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Em valores, o total da arrecadação tributária, nos três níveis (federal, estadual e municipal), passou de R$ 732,87 bilhões para R$ 815,07 bilhões, de 2005 para 2006, crescimento nominal de R$ 82,2 bilhões.
Segundo projeção do instituto, cada brasileiro pagou de tributos em média R$ 4.434,68 em 2006, ou seja R$ 447,23 a mais que em 2005.
Em relação ao PIB, os tributos federais representaram 27,12%, os estaduais 10,08% e os municipais, 1,6%. Do total da arrecadação, os federais são responsáveis por 69,91%, os estaduais 25,97% e, os municipais 4,12%.
O presidente do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral, disse que "o excesso de tributação retira poder de compra dos salários ao mesmo tempo em que aumenta o preço final das mercadorias e serviços, retraindo o consumo, afastando investimentos produtivos e dificultando a geração de empregos formais".
Segundo histórico do instituto, a carga tributária registrou queda, durante o governo Lula, apenas em 2003, com recuo de 0,30 ponto percentual. Em 2004, a alta foi de 1,26% e, em 2005, de 1,02.
Durante os oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária teve redução apenas em 1996, de 1,61 ponto percentual, nos demais anos, de 1995 e 2002, a carga tributária cresceu. As altas foram de 0,31 ponto percentual (1995), 0,18 (1997), 1,86 (1998), 1,98 (1999), 1,53 (2000), 0,84 (2001) e 2,16 (2002)
Carga tributária bate recorde e atinge 38,8% do PIB em 2006, diz IBPT
da Folha Online
A carga tributária brasileira atingiu 38,80% do PIB em 2006, o que representa um crescimento de 0,98 ponto percentual em relação a 2005, quando alcançou 37,82%, segundo projeções do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). Os dados são baseados no PIB brasileiro que cresceu 2,9% em 2006, segundo divulgou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Em valores, o total da arrecadação tributária, nos três níveis (federal, estadual e municipal), passou de R$ 732,87 bilhões para R$ 815,07 bilhões, de 2005 para 2006, crescimento nominal de R$ 82,2 bilhões.
Segundo projeção do instituto, cada brasileiro pagou de tributos em média R$ 4.434,68 em 2006, ou seja R$ 447,23 a mais que em 2005.
Em relação ao PIB, os tributos federais representaram 27,12%, os estaduais 10,08% e os municipais, 1,6%. Do total da arrecadação, os federais são responsáveis por 69,91%, os estaduais 25,97% e, os municipais 4,12%.
O presidente do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral, disse que "o excesso de tributação retira poder de compra dos salários ao mesmo tempo em que aumenta o preço final das mercadorias e serviços, retraindo o consumo, afastando investimentos produtivos e dificultando a geração de empregos formais".
Segundo histórico do instituto, a carga tributária registrou queda, durante o governo Lula, apenas em 2003, com recuo de 0,30 ponto percentual. Em 2004, a alta foi de 1,26% e, em 2005, de 1,02.
Durante os oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária teve redução apenas em 1996, de 1,61 ponto percentual, nos demais anos, de 1995 e 2002, a carga tributária cresceu. As altas foram de 0,31 ponto percentual (1995), 0,18 (1997), 1,86 (1998), 1,98 (1999), 1,53 (2000), 0,84 (2001) e 2,16 (2002)
O crepúsculo das Universidades públicas estaduais do Paraná
Jornal da Ciência ( 3212, de 28 de Fevereiro de 2007)
O crepúsculo das Universidades públicas estaduais do Paraná-
Marcos Cesar Danhoni Neves
(secretário regional da SBPC no Paraná. )
Durante os últimos 16 anos (e agora mais outros quatro...) o Paraná foi governado por dois homens públicos de projeção nacional: Roberto Requião e Jaime Lerner. Figuras políticas divergentes, ambos partilham, porém, uma característica comum: o descaso pelas Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado e pelo seu imenso patrimônio humano, de ensino, de ciência, de tecnologia e de cultura. Lerner, em oito anos de governo, concedeu um reajuste pífio à categoria docente e funcional das Universidades, permitindo que uma greve generalizada nas Instituições se prolongasse por infindáveis seis meses.
Requião, apostando na desintegração da carreira docente, concedeu ajustes diferenciados à categoria docente e aprovou um plano de carreiras para os servidores técnicos e administrativos (PCCS) que estabeleceu uma das mais gritantes “disfuncionalidades” que temos notícia: um funcionário concursado como técnico de nível superior (somente com a graduação) ganha hoje um salário duas vezes superior àquele concedido ao professor auxiliar (piso para toda a carreira docente universitária); um outro, com especialização e com poucos anos “de casa” pode ter seu salário igualado a de um professor assistente (com Mestrado); um outro, com dez anos de Instituição e duas especializações poderá ganhar o equivalente a um professor adjunto (com Doutorado). Sempre lutamos pela recuperação das perdas salariais e, em última instância, pela valorização do ensino e da pesquisa nas Instituições Públicas de Ensino Superior (IES) do Paraná. O PCCS veio nessa direção, porém, desacompanhado de uma recuperação da massa salarial docente, as IES públicas transformaram-se em centros meramente de formação técnica, desestimulando a pesquisa, a produção científica de qualidade, a formação de quadros pós-graduados.
A tremenda “disfuncionalidade” acabou por piorar um quadro que já vinha se deteriorando desde a desastrada administração Lerner.
Essa “disfuncionalidade” tem, pois, gerado custos excessivamente elevados para as Instituições e para o povo paranaense que, em última instância, as mantêm com o labor de cada centavo investido de seus impostos pagos.
Poderíamos elencar aqui algumas das conseqüências, imediatas ou não, dessa política deliberada de destruição das IES públicas do Estado do Paraná:
i) a evasão docente qualificada atingiu, nos últimos quatro anos, a impressionante cifra de 15% do quadro de mestres e doutores;
ii) Programas de Mestrado e Doutorado das Universidades Públicas do Paraná, em conseqüência, têm sofrido para manter ou alavancar suas avaliações diante da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior-MEC);
iii) queda iminente da produção científica, tecnológica e cultural;
iv) o bizarro quadro de professores auxiliares que estão deixando suas funções docentes para prestarem concursos para cargos de técnicos de nível superior, uma vez que o salário pago é o dobro daquela categoria;
v) a migração para Universidades Federais e Estaduais Paulistas, que pagam salários melhores;
vi) a destruição, a longo prazo, do investimento aplicado na formação de pesquisadores. Um Mestre hoje forma-se em dois anos, e um Doutor, em quatro. Se imaginarmos um “calendário do atraso” que pudesse marcar os anos jogados fora para cada evasão qualificada, teríamos, no caso da Universidade Estadual de Maringá, com 172 docentes que deixaram seus empregos nos últimos quatro anos, um atraso que superaria 600 anos! Esse desestímulo será uma herança trágica de dois governos paranaenses, nos colocando, até o momento, na Idade Média da Academia e da (má) política;
vii) A Fundação de Fomento a Pesquisa do Estado (Fundação Araucária) dispõe de recursos irrisórios pela quantidade e qualidade de pesquisa realizada pelas IES Estaduais. Para se ter uma pálida idéia, a Fundação, até o momento, não tem um programa de concessão permanente de bolsas para a formação de mestres e doutores e seu orçamento é inferior ao menor dos programas do MEC-SESu.
Além de todo esse quadro desalentador (e devastador!), existe uma outra ação desse governo que tem servido para catalisar o processo de evasão: a quase proibição de pesquisadores deixarem o país para apresentar trabalhos em conferências/simpósios/congressos internacionais, completar a formação (Doutorado ou Pós-Doutorado no exterior) e/ou interagir com outros grupos de pesquisa. Através de um mecanismo que beira ao fascismo, o Decreto 5098, de 19/07/2005 (“dispondo sobre pedidos de afastamento ao exterior, dos servidores das instituições estaduais de ensino”), o governador do Paraná estipula os seguintes critérios para afastamento ao exterior:
- uma única saída por ano;
- dois ou mais docentes, em trabalhos de co-autoria ou mesmo com trabalhos diferentes, não podem ter atendidos seus pedidos para o mesmo evento: somente um poderá ser autorizado a sair;
- os pedidos de saída devem vir acompanhados das seguintes exigências: i) aceite da Instituição receptora traduzido pelo docente; ii) documento que comprove o financiamento da viagem (se do exterior, com tradução); iii) o trabalho a ser apresentado se, em língua estrangeira, deve ser também traduzido.
Todas as exigências demonstram características peculiares desse governo:
- a mais básica: a extrema incompetência da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, incapaz de ler e compreender diferentes línguas (e aqui estou limitando-me à língua inglesa e espanhola);
- a necessidade de traduzir documentos que já estão aprovados, seja na Instituição receptora, seja nas Agências de Fomento;
- a necessidade do pesquisador-docente passar pelo constrangimento de re-submeter um trabalho ao Estado que já foi aprovado seja pela Instituição receptora, seja pela Agência de Fomento.
Ano passado, durante uma conferência internacional que participei em Amsterdam (Holanda), discuti com vários colegas da Itália, França e Alemanha a situação que vige hoje no Paraná sobre a questão de afastamento para o exterior, quando eu próprio fui vítima de uma negativa do governo, mesmo tendo recebido apoio do CNPq. Eles sorriram desconcertados e, jocosamente, disseram que isso seria aceitável se eu fosse um cidadão da Coréia do Norte, da China ou do Afeganistão... É esse o estado de “Direito” que vivemos em nossas Academias públicas de Ensino Superior do Paraná. Enquanto isso o fluxo da evasão docente qualificada continua se intensificando dia-a-dia. No relógio do atraso, somando todos os anos de qualificação perdidos com a evasão, não é de se espantar que o atual governo do Estado nos mergulhe na Idade da Pedra. Falta pouco ... O estrago está feito ... mas ainda é possível um ponto de inflexão. A pergunta que resta é: será realmente possível?!?
O crepúsculo das Universidades públicas estaduais do Paraná-
Marcos Cesar Danhoni Neves
(secretário regional da SBPC no Paraná. )
Durante os últimos 16 anos (e agora mais outros quatro...) o Paraná foi governado por dois homens públicos de projeção nacional: Roberto Requião e Jaime Lerner. Figuras políticas divergentes, ambos partilham, porém, uma característica comum: o descaso pelas Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado e pelo seu imenso patrimônio humano, de ensino, de ciência, de tecnologia e de cultura. Lerner, em oito anos de governo, concedeu um reajuste pífio à categoria docente e funcional das Universidades, permitindo que uma greve generalizada nas Instituições se prolongasse por infindáveis seis meses.
Requião, apostando na desintegração da carreira docente, concedeu ajustes diferenciados à categoria docente e aprovou um plano de carreiras para os servidores técnicos e administrativos (PCCS) que estabeleceu uma das mais gritantes “disfuncionalidades” que temos notícia: um funcionário concursado como técnico de nível superior (somente com a graduação) ganha hoje um salário duas vezes superior àquele concedido ao professor auxiliar (piso para toda a carreira docente universitária); um outro, com especialização e com poucos anos “de casa” pode ter seu salário igualado a de um professor assistente (com Mestrado); um outro, com dez anos de Instituição e duas especializações poderá ganhar o equivalente a um professor adjunto (com Doutorado). Sempre lutamos pela recuperação das perdas salariais e, em última instância, pela valorização do ensino e da pesquisa nas Instituições Públicas de Ensino Superior (IES) do Paraná. O PCCS veio nessa direção, porém, desacompanhado de uma recuperação da massa salarial docente, as IES públicas transformaram-se em centros meramente de formação técnica, desestimulando a pesquisa, a produção científica de qualidade, a formação de quadros pós-graduados.
A tremenda “disfuncionalidade” acabou por piorar um quadro que já vinha se deteriorando desde a desastrada administração Lerner.
Essa “disfuncionalidade” tem, pois, gerado custos excessivamente elevados para as Instituições e para o povo paranaense que, em última instância, as mantêm com o labor de cada centavo investido de seus impostos pagos.
Poderíamos elencar aqui algumas das conseqüências, imediatas ou não, dessa política deliberada de destruição das IES públicas do Estado do Paraná:
i) a evasão docente qualificada atingiu, nos últimos quatro anos, a impressionante cifra de 15% do quadro de mestres e doutores;
ii) Programas de Mestrado e Doutorado das Universidades Públicas do Paraná, em conseqüência, têm sofrido para manter ou alavancar suas avaliações diante da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior-MEC);
iii) queda iminente da produção científica, tecnológica e cultural;
iv) o bizarro quadro de professores auxiliares que estão deixando suas funções docentes para prestarem concursos para cargos de técnicos de nível superior, uma vez que o salário pago é o dobro daquela categoria;
v) a migração para Universidades Federais e Estaduais Paulistas, que pagam salários melhores;
vi) a destruição, a longo prazo, do investimento aplicado na formação de pesquisadores. Um Mestre hoje forma-se em dois anos, e um Doutor, em quatro. Se imaginarmos um “calendário do atraso” que pudesse marcar os anos jogados fora para cada evasão qualificada, teríamos, no caso da Universidade Estadual de Maringá, com 172 docentes que deixaram seus empregos nos últimos quatro anos, um atraso que superaria 600 anos! Esse desestímulo será uma herança trágica de dois governos paranaenses, nos colocando, até o momento, na Idade Média da Academia e da (má) política;
vii) A Fundação de Fomento a Pesquisa do Estado (Fundação Araucária) dispõe de recursos irrisórios pela quantidade e qualidade de pesquisa realizada pelas IES Estaduais. Para se ter uma pálida idéia, a Fundação, até o momento, não tem um programa de concessão permanente de bolsas para a formação de mestres e doutores e seu orçamento é inferior ao menor dos programas do MEC-SESu.
Além de todo esse quadro desalentador (e devastador!), existe uma outra ação desse governo que tem servido para catalisar o processo de evasão: a quase proibição de pesquisadores deixarem o país para apresentar trabalhos em conferências/simpósios/congressos internacionais, completar a formação (Doutorado ou Pós-Doutorado no exterior) e/ou interagir com outros grupos de pesquisa. Através de um mecanismo que beira ao fascismo, o Decreto 5098, de 19/07/2005 (“dispondo sobre pedidos de afastamento ao exterior, dos servidores das instituições estaduais de ensino”), o governador do Paraná estipula os seguintes critérios para afastamento ao exterior:
- uma única saída por ano;
- dois ou mais docentes, em trabalhos de co-autoria ou mesmo com trabalhos diferentes, não podem ter atendidos seus pedidos para o mesmo evento: somente um poderá ser autorizado a sair;
- os pedidos de saída devem vir acompanhados das seguintes exigências: i) aceite da Instituição receptora traduzido pelo docente; ii) documento que comprove o financiamento da viagem (se do exterior, com tradução); iii) o trabalho a ser apresentado se, em língua estrangeira, deve ser também traduzido.
Todas as exigências demonstram características peculiares desse governo:
- a mais básica: a extrema incompetência da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, incapaz de ler e compreender diferentes línguas (e aqui estou limitando-me à língua inglesa e espanhola);
- a necessidade de traduzir documentos que já estão aprovados, seja na Instituição receptora, seja nas Agências de Fomento;
- a necessidade do pesquisador-docente passar pelo constrangimento de re-submeter um trabalho ao Estado que já foi aprovado seja pela Instituição receptora, seja pela Agência de Fomento.
Ano passado, durante uma conferência internacional que participei em Amsterdam (Holanda), discuti com vários colegas da Itália, França e Alemanha a situação que vige hoje no Paraná sobre a questão de afastamento para o exterior, quando eu próprio fui vítima de uma negativa do governo, mesmo tendo recebido apoio do CNPq. Eles sorriram desconcertados e, jocosamente, disseram que isso seria aceitável se eu fosse um cidadão da Coréia do Norte, da China ou do Afeganistão... É esse o estado de “Direito” que vivemos em nossas Academias públicas de Ensino Superior do Paraná. Enquanto isso o fluxo da evasão docente qualificada continua se intensificando dia-a-dia. No relógio do atraso, somando todos os anos de qualificação perdidos com a evasão, não é de se espantar que o atual governo do Estado nos mergulhe na Idade da Pedra. Falta pouco ... O estrago está feito ... mas ainda é possível um ponto de inflexão. A pergunta que resta é: será realmente possível?!?
O colega Marcio Pochmann, da Unicamp.

Estudo de Marcio Pochmann revela que o
Sudeste é hoje o maior pólo de expulsão de mão-de-obra do país
A nova geoeconomia do emprego
ÁLVARO KASSAB
A região Sudeste deixou de ser o centro privilegiado do movimento migratório, transformando-se atualmente no principal pólo de expulsão de mão-de-obra do Brasil, além de registrar um dos piores indicadores da produção e do emprego no país. Essas constatações estão na pesquisa "Nova geoeconomia do emprego no Brasil: um balanço de 15 anos nos Estados da federação", coordenada pelo economista Marcio Pochmann, professor do Instituto de Economia (IE) e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit) da Unicamp.
Em quatro anos, 215 mil deixaram o Sudeste
De acordo com a pesquisa, o protagonismo de São Paulo e de Estados vizinhos – sobretudo Rio de Janeiro e Minas Gerais – é hoje desempenhado pelas regiões Centro-Oeste e Norte, onde estão as áreas de fronteira agropecuária e de extrativismo mineral. Os novos Estados líderes – Amazonas, Mato Grosso e Goiás à frente – detêm os melhores resultados na evolução do PIB, e conseqüentemente, a maior absorção de migrantes de todo o país.
Pochmann revela que o estudo, de âmbito nacional, buscava interpretar algumas hipóteses formuladas no Brasil ao longo da década de 1990. Uma das mais recorrentes dava conta de que os empregos não estavam mais nas metrópoles, mas sim nas pequenas e nas médias cidades. Para fundamentar a pesquisa, foram utilizadas fontes primárias de informações, todas oficiais, que constam de levantamentos feitos pelo IBGE entre os anos de 1990 e 2005, tanto no que diz respeito à população como ao comportamento do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados. "A investigação tratou de analisar, de forma simultânea, o mercado de trabalho e a economia dos Estados nas cinco grandes regiões", revela o economista.
A pesquisa mostra que, com a crise da dívida externa [início da década de 1980], "o Brasil passou a dar sinais de abandono do longo ciclo de rápida expansão econômica, que era acompanhado pelo movimento de estruturação do mercado de trabalho". De acordo com o documento formulado por Pochmann e sua equipe, "o que se verifica nos últimos 25 anos corresponde à fase de semi-estagnação econômica, simultaneamente perseguida do movimento de desestruturação do mercado de trabalho". Para exemplificar, Pochmann revela números emblemáticos: entre os anos de 1990 e 2005, o PIB brasileiro cresceu somente 2,41% (média anual), enquanto a expansão média anual da População Economicamente Ativa (PEA) foi de 2,76%.
De descompasso em descompasso, a estagnação respingou no chamado padrão migratório nacional. O estudo mostra que, durante os primeiros quatro anos da década de 2000, o saldo líquido entre saídas e entradas de migrantes foi negativo em mais de 215 mil pessoas no Sudeste, enquanto no período imediatamente anterior havia sido positivo – na casa de quase meio milhão de migrantes.
O coordenador da pesquisa observa que a débâcle dos Estados do Sudeste é a principal constatação do estudo. Razões históricas e econômicas corroboram a importância dos números recentes. Conforme lembra Pochmann, São Paulo foi, ao longo do século XX, sobretudo entre as décadas de 1930 e 1980, "o estado-locomotiva" do Brasil. Esse crescimento, analisa Pochmann, era diretamente responsável pela integração nacional e, em última instância, pelo desenvolvimento das demais regiões do país. "Ainda que fosse um crescimento fundamentado numa industrialização concentrada, aquilo que se organizou em São Paulo de uma certa maneira supria o mercado nacional", avalia Pochmann.
Em razão desse crescimento rápido, São Paulo protagonizou a expansão e a estruturação do mercado de trabalho, com base no assalariamento, no baixo desemprego e na forte capacidade de absorção do movimento migratório. "Tivemos gente de todos os Estados vindo para cá em busca de oportunidades, o que possibilitou a expansão da classe média, uma das características de São Paulo".
Supõe-se que esse estado de coisas tenha começado a mudar a partir da década de 1980. O que o estudo faz é provar que, já a partir de meados da década de 1990, as mudanças consolidaram-se. "Os Estados que protagonizaram a expansão econômica, no período anterior, encontram-se atualmente nos últimos vagões", constata Pochmann.
O Rio de Janeiro, por exemplo, é o Estado com menor ritmo de expansão econômica no período compreendido entre 1990 e 2005. São Paulo vem em seguida, com o segundo pior desempenho econômico. "Enquanto Estados como Amazonas e Mato Grosso vêm crescendo a um ritmo de expansão chinesa, de 7% a 8% ao ano, São Paulo e Rio crescem a um ritmo haitiano, menos de 2% ao ano, média inclusive inferior à brasileira", revela Pochmann.
A baixa expansão da atividade econômica gerou a desestruturação do mercado de trabalho. A região Sudeste, particularmente São Paulo, registrou um forte movimento de expulsão de mão-de-obra, especialmente aquela desempregada. "Em sua maioria, são nordestinos que voltaram às suas cidades de origem ou se dirigiram àqueles Estados que hoje lideram o crescimento econômico, sobretudo Amazonas e Mato Grosso", constata Pochmann.
Paradoxo - Mas essa descentralização não é boa para o país? Poderia, mas os resultados estão aquém do desejado. A começar de outra constatação – contraditória, à primeira vista - da pesquisa: os Estados que tiveram maior crescimento econômico são, também, aqueles em que o desemprego mais cresceu. As razões não são poucas, mas algumas, segundo Pochmann, saltam aos olhos.
Segundo o professor do IE, a expansão econômica das regiões Centro-Oeste e Norte está vinculada à produção de baixo valor agregado e de pouco conteúdo tecnológico. São produtos primários ou derivados do extrativismo mineral, normalmente vinculados à produção de alimentos ou à pecuária. "São, de fato, fronteiras. Mas, apesar do importante impacto no mercado de trabalho, são incapazes de dar emprego para os habitantes locais e, sobretudo, para os migrantes que vão em busca de melhores oportunidades", constata.
Duas são as razões principais para a origem dessa distorção, explica Pochmann. A primeira, em particular, está relacionada ao fato de a mão-de-obra ser pouco intensiva, ao contrário da industrialização. "Essa mão-de-obra não está vinculada à industrialização, ao setor de serviços e à fronteira tecnológica de última geração". Em segundo lugar, porque se trata de um tipo de expansão econômica que não "puxa" o crescimento do país. "São atividades fortemente vinculadas às exportações, como é o caso da soja. Essas regiões são, de uma certa forma, reflexo do que ocorre na economia internacional. O crescimento da atividade econômica dá-se apenas localmente. Do ponto de vista da renda, o efeito de contaminação é mínimo". Dessa maneira, observa Pochmann, o que faz do Mato Grosso um Estado rico não é o fato de produzir soja, mas sim o de ter um comprador estrangeiro disposto a adquirir o produto.
Na realidade, avalia Pochmann, o que há é um quadro de uma "certa fragmentação" do espaço nacional, na medida em que não é totalmente verdadeira a tese de que exista descentralização e homogeneidade do mercado de trabalho. Além de não conseguir absorver a totalidade da mão-de-obra, esses novos centros de expansão econômica não dispõem, de forma significativa, de postos de trabalho para a geração de empregos para a classe média, em razão dos motivos explicitados pelo pesquisador. "São, em geral, empregos de um salário mínimo".
Ademais, lembra Pochmann, esse novo padrão migratório é diferente daquele registrado com mais intensidade na década de 1970, quando predominava, nos estados do Sudeste, a chegada de trabalhadores de baixa escolaridade oriundos da zona rural, que disputavam vagas em postos de trabalho mais simples. "Nos dias de hoje, verificamos que esse movimento migratório se dá sob um perfil de outra natureza, ou seja, trata-se de uma migração urbana, de cidade para a cidade, e não mais do campo para a cidade".
Essa nova legião, explica Pochmann, é formada também por profissionais de maior escolaridade e com alguma experiência profissional, que disputam um lugar ao sol num nível de trabalho intermediário e/ou superior. Ocorre, então, uma pressão por vagas de trabalho de classe média. A realidade, porém, fala mais alto. "As vagas são insuficientes para dar conta de uma sociedade relativamente estratificada em que a mobilidade social é a principal referência. Mais de 90% das vagas abertas são de até dois salários mínimo mensais. Na verdade, estamos construindo uma sociedade polarizada entre ricos e pobres", diagnostica Pochmann.
Embora acredite que sejam factíveis as ações que visem o desenvolvimento de políticas de enriquecimento e de valorização da cadeia produtiva local, o pesquisador prega que a saída para o impasse está na formulação de uma política nacional de desenvolvimento regional. Nesse sentido, avalia Pochmann, o Plano de Aceleração Econômica (PAC), recém-anunciado pelo governo federal, pode oferecer algumas soluções, embora ainda esteja longe de ser um "projeto encorpado".
"Pelo menos é a primeira vez, desde o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento [PND, criado no governo Geisel], que a questão do desenvolvimento regional é recolocada na mesa, ainda que seja a partir de uma lista de obras a serem feitas", observa o economista.
Na opinião de Pochmann, torna-se urgente a implantação de medidas que estanquem essas distorções. O professor do IE lembra que o Brasil deixou de ser um país que recebia imigrantes para ser um "exportador" de mão-de-obra, especialmente a qualificada. Estima-se que entre 140 mil e 160 mil pessoas deixem o país a cada ano. "É a tal fuga de cérebros. Trata-se de um paradoxo num país de baixa escolaridade. Justamente aquele segmento mais qualificado, que mais se esforçou para conseguir seus objetivos, não encontra uma colocação".
E mo Estado de Sãõ~Paulo....
O Estado de S. Paulo
Metade dos sem emprego é jovem
Marcelo Rehder
Um em cada dois brasileiros desempregados tem de 15 a 24 anos. Pressionado pelo baixo crescimento econômico, o número de jovens desocupados mais que dobrou em dez anos, saltando de 2,1 milhões para 4,4 milhões de pessoas. No mesmo período, a participação desse segmento no total de desempregados passou de 47,6% para 49,6%, indicando que a escassez de novos postos de trabalho afetou muito mais os jovens do que as demais faixas etárias.
Os números são de um levantamento feito pelo economista Márcio Pochmann, do Centro de Estudos de Economia Sindical e do Trabalho, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 1995 e 2005.
Dos 8,9 milhões de desempregados que existiam em 2005 (último dado disponível), 4,5 milhões tinham menos de 15 anos e mais de 24 anos. Em 1995, eram 2,4 milhões em um total de 4,5 milhões de pessoas sem emprego no País.
De 1995 para 2005, a taxa de desemprego dos jovens aumentou de 11,4% para 19,4% da População Economicamente Ativa (PEA)- um salto de 70,2%. A população jovem somava 35,1 milhões em 2005.
Para as demais faixas etárias, a desocupação cresceu 44,3%, passando de 4,3% para 6,2%. No geral, a taxa de desemprego nacional aumentou 52,4% - de 6,1% para 9,3% da PEA.
“A situação do jovem no mercado de trabalho se agravou nos últimos anos, apesar dos esforços do governo para melhorar as condições de ingresso no primeiro emprego”, diz Pochmann.
O problema, segundo ele, é o baixo crescimento do País, insuficiente para a abertura de vagas para todos que entram no mercado de trabalho. Entre 1995 e 2005, o Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no País) teve crescimento médio de 2,6% ao ano.
Nesse período, houve ingresso de 2,2 milhões de pessoas, em média, por ano no mercado de trabalho a cada ano. Desse total, 414 mil tinham entre 15 e 24 anos de idade.
“Normalmente, o jovem já enfrenta dificuldade para encontrar uma ocupação”, afirma o economista da Unicamp. “Numa situação em que não há emprego para todos, há um estrangulamento na entrada do jovem no mercado de trabalho.”
Pochmann ressalta que até mesmo vagas que tradicionalmente são ocupadas por jovens passam a ser disputadas por profissionais experientes que se encontram desempregados.“Existe uma legião de desempregados dispostos a aceitar qualquer condição para ter uma nova ocupação.”
Apenas 10,4% das vagas criadas entre 1995 e 2005 foram ocupadas por jovens. Nesse período, foram abertos 17,5 milhões de postos de trabalho em todo o País. Desse total, 1,8 milhão foram para pessoas de 15 a 24 anos de idade. Nesse mesmo período, 4,1 milhões de jovens passaram a disputar uma vaga no mercado de trabalho.
“A cada 100 jovens que entraram nesse mercado no período de referência, somente 45 encontraram algum tipo de ocupação, enquanto 55 ficaram desempregados.”
O levantamento mostra que a taxa de desemprego entre os jovens subiu mais para as mulheres do que para os homens no período pesquisado. A alta foi de 77,3% para o sexo feminino e de 57,7%, para o masculino.
A pesquisa revelou também que houve aumento de 14,4% na taxa de jovens que estudam. Em 1995, apenas 40,9% dos jovens ocupados ou desempregados estudavam. Em 2005, essa taxa subiu para 65,3%.
Envoyant l'aveuglement et la misère de l'homme, et ces [61] contrariétés
étonnantes qui se découvrent dans sa nature, et regardant tout l'univers muet,
et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de
l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il
deviendra en mourant ; j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté
endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître
où il est, et sans avoir aucun moyen d'en sortir. Et sur cela j'admire comment
on n'entre pas en désespoir d'un si misérable état. Je vois d'autres personnes
auprès de moi de semblable nature. Je leur demande s'ils sont mieux instruits
que moi, et ils me disent que non. Et sur cela ces misérables égarés ayant
regardé autour d'eux, et ayant vu quelques objets plaisants s'y sont donnés, et
s'y sont attachés. Pour moi je n'ai pu m'y arrêter, ni me reposer dans la
société de ces personnes semblables à moi, misérables comme moi, impuissantes
comme moi. Je vois qu'ils ne m'aideraient pas à mourir : je [62] mourrai seul :
il faut donc faire comme si j'étais seul : or si j'étais seul, je ne bâtirais
pas des maisons, je ne m'embarrasserais point dans des occupations tumultuaires,
je ne chercherais l'estime de personne, mais je tâcherais seulement de découvrir
la vérité.
Pascal, Pensamentos.
étonnantes qui se découvrent dans sa nature, et regardant tout l'univers muet,
et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de
l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il
deviendra en mourant ; j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté
endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître
où il est, et sans avoir aucun moyen d'en sortir. Et sur cela j'admire comment
on n'entre pas en désespoir d'un si misérable état. Je vois d'autres personnes
auprès de moi de semblable nature. Je leur demande s'ils sont mieux instruits
que moi, et ils me disent que non. Et sur cela ces misérables égarés ayant
regardé autour d'eux, et ayant vu quelques objets plaisants s'y sont donnés, et
s'y sont attachés. Pour moi je n'ai pu m'y arrêter, ni me reposer dans la
société de ces personnes semblables à moi, misérables comme moi, impuissantes
comme moi. Je vois qu'ils ne m'aideraient pas à mourir : je [62] mourrai seul :
il faut donc faire comme si j'étais seul : or si j'étais seul, je ne bâtirais
pas des maisons, je ne m'embarrasserais point dans des occupations tumultuaires,
je ne chercherais l'estime de personne, mais je tâcherais seulement de découvrir
la vérité.
Pascal, Pensamentos.
Formas diversas do sublime?
Para o debate, informaçoes sobre o liberalismo pratico de John Locke.


Glausser, Wayne : Locke and Blake: A Conversation across the Eighteenth Century
( University Press of Florida, 1998)
"Locke participated in the institutions of slavery in two basic ways. First, he invested in slave-trading companies. Second, he acted as secretary and, to some degree, policy advisor to three different groups involved in the affairs of the American colonies, including the provision and regulation of slaves.
Facts about the investments are solid enough, if not complete. (Investment records in the seventeenth century were often discarded after a transaction was finished.) Locke put money in two companies whose commercial activities depended on slavery: the Royal African Company and a company of adventurers formed to develop the Bahaman Islands. The first of these was explicitly a slave-trading enterprise. Locke invested six hundred pounds in the Royal African Company, shortly after its formation in 1672. Ashley had invested two thousand pounds, which made him the third largest investor. Locke's investment, then, was no inconsequential matter, either to the company or to Locke, who was always careful with his money.
The Royal African Company was formed in 1672 to trade along the West Coast of Africa and primarily to provide the slaves considered indispensable by planters in America. It was chartered to replace the Company of Royal Adventurers into Africa, which had proved unsuccessful in its ten years of operation. The new company included more businessmen and fewer nobles and was determined to attend more to profits than to subtle affairs of state. Certainly Locke was the sort of investor they sought; and Ashley, despite being a nobleman, had a great interest in the mercantile practicalities of American plantations. Ashley as a young man had owned acreage and slaves in Barbados, as well as a fourth share in the Rose, a slave-trading ship.
The new Royal African Company named him sub-governor, a post which he held through 1673, and until 1677 he served in its Court of Assistants. No doubt Locke and Ashley looked carefully both at the company's charter--which granted a monopoly for the trade of "Gold, Silver, Negroes, Slaves," and any other minor Guinea goods--and at a report of its first year's activities, which mentions gold, elephants' teeth, and a few other items but places by far the greatest emphasis on slave shipping and slave factories. The slaves, this report assures, "are sent to all his Majesty's American Plantations, which cannot subsist without them." The Royal African Company fared better than its predecessor, although it was never successful enough to justify its monopoly, and it had trouble meeting the considerable demand for slaves. Ashley sold his stock in 1677 for a reasonable profit, and no doubt Locke did likewise, although not necessarily at the same time.
Locke also invested in a company of Bahamas adventurers. Here again he was collaborating with Ashley. Ashley and five other Carolina proprietors had been granted the Bahaman Islands, and in 1672 they formed a company with eleven "Adventurers to Bahamas" to pursue development. Locke was one of the eleven adventurers. He initially invested one hundred pounds; before long he doubled his share by taking over the hundred-pound investment of his friend John Mapletoft. Fox Bourne calculates that Locke thus "became altogether responsible for a ninth" of the project and guesses that he actually spent much more than two hundred pounds.
We know only a few details about Locke's Bahamas adventure, but some historical background can help. In A History of the Bahamas, Michael Craton explains the terms of the proprietors' grant: they were to stimulate planting and trading of profitable crops, in a colony that had been struggling under Spanish and then English rule. The plantations supported by Locke and the other adventurers were using slaves, of course. Craton cites a 1671 census of the islands recording 443 slaves out of a total population of 1,097. Another document has been found, from about the time of the adventurers, computing the "expense of settling and improving the Bahama Islands for the first three years." According to this estimate, three hundred families would need to bring along six hundred slaves (costing thirty pounds each) and to "trade for 4,000 negroes per annum, being 8,000 for the first two years . . . at 25 pounds per head." The adventurers were evidently not up to these stakes, and planters in the Bahamas complained that the proprietors and their company provided insufficient support. Locke and his patron, however, remained interested in the Bahamas. Shaftesbury tried to bolster planters' confidence with plans for new crops and a hereditary nobility. Locke attended to Bahamian matters for some years, and apparently at one point he was considering a more active involvement in planting. This can be inferred from a letter to Locke from his friend Sir Peter Colleton, a West Indies planter: "I find I am your partner in the Bahama trade which will turn to accompt if you meddle not with planting, but if you plant otherwise then for provizion for your factor you will have your whole stock drowned in a plantation and bee never the better for it . . . If other men will plant there, I mean the Bahamas, hinder them not, they improve our province, but I would neither have you nor my lord ingadge in it." Fox Bourne interprets the letter as Colleton discouraging Locke from managing a full plantation at a great distance; Craton reads it differently and infers that Locke had inquired about moving to the Bahamas as a planter. Either way, Locke apparently entertained notions of increasing his moderate but serious participation in American planting and trade.
His second kind of participation in the institutions of slavery called for investments of time rather than money. Locke held three relevant administrative positions: secretary to the Lords Proprietors of Carolina, secretary to the Council of Trade and Plantations, and commissioner of the Board of Trade.
In the first of these positions he helped Ashley and seven other noblemen who had been granted proprietorship of Carolina in 1663. Locke acted as a secretary for them and probably as an advisor--but to what extent remains uncertain. The most significant document in the Carolina papers is the Fundamental Constitutions of Carolina, which sets out an interesting mixture of liberal policies and restrictive social hierarchies. A scheme of nobility was invented; Locke was granted the second highest rank of "Landgrave" and fortyeight thousand acres that came with the title. Most relevant to our discussion is a provision that "every freeman of Carolina shall have absolute power and authority over his negro slave of what opinion or religion soever" ( Works, 10:196). The proprietors thus clarified that the religious freedom granted Carolina slaves did not imply another sort of freedom. Scholars have variously proposed that Locke (a) authored the entire Carolina constitution (there is a manuscript in Locke's hand, and many editions of his work include it); (b) had no part in it, except as amanuensis; and (c) effectively coauthored it with Ashley. Most recent scholars have argued for this third conclusion, which seems the most plausible, given the two men's respect for each other.
But did Locke endorse the slavery clause? There is evidence that he disagreed with at least one other clause, establishing the Church of England; so some would like to assume a similar objection to the slavery clause. Such an objection seems unlikely, however. Not only did he go on to make the slave investments already described, but in the much later commentaries to St. Paul, Locke carefully restated the distinction between religious and civil freedom articulated in the Carolina constitution. According to the constitution, slaves are free to attend the church of their choice, "but yet no slave shall hereby be exempted from that civil dominion his master hath over him, but be in all other things in the same state and condition he was in before." Here is part of Locke's paraphrase of St. Paul, 1 Corinthians 7:20-24: "Christianity gives not anyone any new privilege to change the state . . . which he was in before. Wert thou called, being a slave? . . . In whatsoever state a man is called, in the same he is to remain, notwithstanding any privileges of the gospel, which gives him no dispensation, or exemption, from any obligation he was in before"; to which he adds this commentary: "The thinking themselves freed by Christianity, from the ties of civil society and government, was a fault, it seems, that those Christians were very apt to run into" ( Works 8:116). Apparently Locke could endorse the Carolina slavery clause without qualms, even if he did not himself compose it.
Locke's other two offices were government appointments. In 1673 he became secretary to the Council of Trade and Plantations, a position he held for over a year. As secretary he had to correspond with proprietors, governors, planters, merchants, and anyone else connected with the colonies who brought a complaint, made a proposal, or held useful information. Much of the council's work went toward expediting the triangular trade of slaves, sugar, and manufactured goods. One of the council's directives was to oversee the provision of slaves and to investigate disputes between the chartered slaving company and the American plantations. (As we have seen, Locke held investments on both sides of such disputes; putting him in an interested but neutral position.) For over a year, then, Locke spent much of his time immersed in these matters. But it is difficult to say how actively he contributed to the council's decisions: "In all the voluminous correspondence . . . [there is nothing] to show how far he acted merely as a secretary, and how far he initiated the proceedings that he had to direct." There is no such uncertainty about Locke's second stint as colonial administrator. In 1696, he took office as a commissioner of the new Board of Trade, created to solve problems such as poor colonial government, piracy, and abused or ineffective trade regulations. In this position he was unquestionably an active policy-maker. Cranston concludes that "documents of the Board of Trade make abundantly clear, that Locke was the leading Commissioner in nearly everything which was undertaken." This opinion has been reinforced by Peter Laslett, who emphasizes Locke's contribution to the board's formation and early policies. He served until 1700, when he became too ill to continue.
Lagrima sobre a necessidade

Folha de São Paulo
1/03/2007, p. 02
MARIA SYLVIA CARVALHO FRANCO
Lágrima sobre a necessidade
AO DEBATER delitos e penas, convém atentar às idéias que informam a ordem social vigente. Por séculos, travam-se combates por uma vida justa, igualitária e livre, em um mundo contraditório, que nega esses princípios e corrói o padrão liberal, hoje batizado "neo".
J. Locke enunciou os pressupostos do liberalismo ao basear estado natural e governo civil no direito à propriedade. Este deriva da posse e uso do "poder" que o homem tem sobre seu corpo e suas virtualidades: ao efetivar essa força no mundo, e deste apoderar-se, o indivíduo se autoconstitui e se humaniza. Todos têm a propriedade inalienável de si mesmos: "o labor de seu corpo e o trabalho de suas mãos são propriamente seus". Também o mundo é formado pelo ato humano: sem este, a natureza é deserto, "waste land".
Dessa apropriação derivam os atributos humanos: "Nada é mais evidente que as criaturas da mesma espécie e ordem, nascidas para as mesmas vantagens da natureza e uso das mesmas faculdades, devam ser iguais entre si, sem sujeição". A taxinomia, método da história natural, capta propriedade, igualdade e liberdade como inerentes a seres da mesma categoria. Só os espécimens completos unem-se para resguardar "suas vidas, liberdades e bens". A ciência natural dá-se, aí, como política: a igualdade específica define as regras para legitimar a desigualdade e discernir o inferior.
Esse quadro remete à idéia de crime, quebra da lei e punição. A igualdade dos membros plenos da espécie (os proprietários) implica a desigualdade dos que negam a regra, os degenerados. Perigosos, devem ser extintos como predadores: leões, lobos, tigres, aves de rapina.
A pena de morte cabe mesmo a delitos menores. Aplica-se até ao ladrão que não feriu nem atentou contra a vida de sua presa, pois a simples ameaça à liberdade pode colocar em risco tudo o mais. Do furto, deduz-se o ataque ao indivíduo em sua integridade: vida, liberdade, posses. O roubo deve ser pago com a morte: roubar os bens materiais é roubar a vida.
A lei da natureza, conhecida e aplicada pelos proprietários, só é real como força repressiva, do contrário seria vã. O poder de "todos" concentra-se em "cada um" e converte-se no comando de uns sobre outros. A igualdade funda o domínio. Mesmo as prerrogativas do magistrado deduzem-se das condutas correntes. O estado de natureza prolonga-se na sociedade civil. Sem cogitar a gênese do crime, Locke insiste no rigor do castigo, evidenciando a força compacta que originou as desigualdades modernas. Irremissível, o criminoso deve ser extirpado. Se fiel esse triste retrato, aos que recusam a truculência nada mais restaria que uma lágrima sobre a necessidade.

=====================================================================
O título do artigo acima é inspirado na análise de Hegel sobre os estoicos. O filósofo alemão diz que os resignados estoicos, que acreditam na racionalidade do mundo e na necessidade dos eventos, só podem mesmo deitar uma lágrima (não muitas, porque seria signo de desespero) sobre a lei de ferro que rege o mundo natural e humano.
RR
quarta-feira, 28 de fevereiro de 2007
Entrevista quando ocorreu o lançamento do livro O Desafio do Islam.
O SOTAQUE TEXANO DA RAZÃO DE ESTADO
Folha de São Paulo
Márcio Senne de Moraes
da Redação
Professor de filosofia da Universidade Estadual de Campinas, Roberto Romano está lançando "O Desafio do Islã e Outros Desafios" (ed. Perspectiva), em que debate os grandes impasses e problemas que pairam sobre as sociedades ocidentais. "Há um grande perigo quando [George W.] Bush proclama, mesmo que implicitamente, a superioridade do mundo ocidental. Ele usa a razão de Estado com sotaque, o que a torna quase ininteligível para outros países ou outras culturas", diz o autor de, entre outros, "Conservadorismo Romântico" e "Lux in Tenebris", na entrevista a seguir.
O sr. diz que o ideal iluminista de transparência foi destruído pela razão de Estado. Qual é a conseqüência disso?
A conseqüência é que houve, concomitantemente, um espalhamento da razão bélico-tecnológica e da estratégia, utilizadas pela razão de Estado, e que não existiu uma disseminação da base da própria razão, que é muito mais ampla que a razão de Estado. Se há um ideal de razão, que foi herdado dos gregos, elaborado pelos romanos e teve uma forte tintura do pensamento judaico-cristão e do islã, ele acaba sendo desprezado nessa lógica. Se desconsiderarmos o que foi feito no mundo islâmico no que tange à matemática, à ótica, à medicina e à transmissão dos textos filosóficos gregos à cultura cristã, não teremos a totalidade da experiência histórica da razão.
Com a expansão do Ocidente -feita a partir de uma base tecnológica herdada de outras culturas-, houve uma fragmentação do fato racional. Nos movimentos atuais, que substituíram os movimentos pela descolonização, existem as microrrazões que operam com uma lógica própria. Ainda não há, portanto, uma possibilidade de diálogo desses vários segmentos com um fundo racional mais amplo. Há as grandes potências, que usam um idioleto da razão, como no caso de Bush e de Tony Blair, e os vários movimentos terroristas que operam segundo seus idioletos. Há uma espécie de babel política, cuja saída é praticamente impossível, já que cada um desses setores tem sua lógica própria. Isso impede que o sonho de regulação universal seja concretizado.
Mas o projeto da paz perpétua não é algo utópico?
Sim, na prática. Contudo ele contém uma idéia de razão, da qual Kant é o grande representante, que pôde modificar um pouco o antigo status quo. O problema é que, na vida pública, nunca há ganhos definitivos. Gosto de uma frase de Diderot, que era visto como alguém que acreditava no progresso, que diz que uma nação pode chegar a um nível bastante elevado de civilização e, em seguida, regredir.
Nesse contexto, as políticas aplicadas pela atual administração americana são um retrocesso?
Sim. Há um grande perigo quando Bush proclama, mesmo que implicitamente, a superioridade do mundo ocidental. Ele observa as prioridades do Ocidente a partir de uma lógica privada e usa a razão de Estado com sotaque, o que a torna quase ininteligível para outros países ou outras culturas. A disputa ocorrida na ONU entre a União Européia, liderada pela França e pela Alemanha, e os EUA mostra essa impossível tradução da razão de Estado americana. Todavia não se trata apenas de um fenômeno de lógica ou de racionalidade. Há uma disputa pelo poder. Paris e Berlim não têm uma atitude filantrópica, já que têm planos típicos de uma potência.
A mídia, segundo seu livro, tornou-se um mero instrumento da política externa americana, que é classificada de "xenófoba". Não há mais imprensa livre nos EUA?
Não, não posso imaginar que, em algum lugar do mundo, não haja ao menos um pouco de liberdade de imprensa. Por uma questão filosófica, não creio que tenha existido na história um Estado totalitário ou uma sociedade verdadeiramente totalitária.Nesse caso, não haveria nenhuma possibilidade de ruptura ou de movimentação nesses Estados. Se dissermos que a URSS ou a Alemanha nazista foi um totalitarismo pleno, negligenciaremos as resistências silenciadas e as fraturas, imaginando que houvesse um bloco indissolúvel entre a sociedade e o Estado. Até na URSS, havia imprensa clandestina. No caso americano, até na grande imprensa, existem fraturas e vozes divergentes, embora haja uma tentativa de controle por parte do governo. O Estado americano tem uma tradição democrática que ainda não foi vencida pelas tendências encarnadas por Bush. Como o momento em que escrevi meus textos era muito tenso, talvez meu tom reflita essa tensão.
O princípio que guia a guerra ao terror liderada por Bush é: "Nós contra eles". Que impacto esse princípio tem sobre o mundo islâmico?
O efeito é devastador. A retórica de Bush é algo surpreendente para mim, pois a sociologia e a antropologia americanas são muito refinadas, tendo uma grande capacidade de influência sobre as decisões políticas e sobre os sistemas de regulação. Noto que o padrão da sociologia dos EUA continua alto. Mas o que acontece com esse saber quando um grupo essencialmente fundamentalista assume o governo e utiliza um discurso tosco sobre diferenças culturais? Temos algumas pistas quando vemos que até textos da CIA foram negligenciados pelo governo em alguns casos. Trata-se de algo assustador. No caso de um governo que tem uma forte vontade de dominar, seria vital levar em conta as diferenças culturais para buscar estabelecer pontes, deixando de lado, portanto, a idéia de que o jogo é travado entre "nós" e "eles". Há um tipo de autismo nos EUA que leva a atos nocivos a seus próprios interesses.
Qual é a razão desse fenômeno?
Uma das causas internas é o fato de o exercício da Presidência ter-se tornado muito forte. Ou seja, o Legislativo é cada vez mais subordinado ao Executivo. Essa atribuição ditatorial do presidente deixou o Executivo menos atento ao diálogo com sua própria sociedade e com países estrangeiros. O descolamento do Executivo do restante do Estado é perigoso.
Qual é o grande desafio representado pelo islã?
Ele diz respeito ao "nós" usado pelo governo americano. É tentador para nós, que vivemos num meio impregnado de valores cristãos, acusar o islã de ser a matriz do terrorismo. Isso faz com que esqueçamos nossa própria história. Afinal, há uma tradição na cultura judaico-cristã de uso da adaga para fazer justiça. Isso foi muito usado nos séculos 17 e 18. Contudo não podemos esquecer que temos grande responsabilidade pela tecnologia e pela racionalização do terror. Temos doutrinas, lógicas e técnicas. E, quando se trata do terror político mais radical, devemos lembrar que ele foi inventado na cultura ocidental, tendo até dado início à Primeira Guerra Mundial -começada após o atentado de Sarajevo. Assim, o desafio do islã é o nosso desafio. Só poderemos entender o terrorismo islâmico se compreendermos nosso próprio terrorismo. É por isso que quis pôr em meu livro um texto sobre Erasmo, um pensador clássico ocidental que pregava uma relação de tolerância com o islã.
Folha de São Paulo
Márcio Senne de Moraes
da Redação
Professor de filosofia da Universidade Estadual de Campinas, Roberto Romano está lançando "O Desafio do Islã e Outros Desafios" (ed. Perspectiva), em que debate os grandes impasses e problemas que pairam sobre as sociedades ocidentais. "Há um grande perigo quando [George W.] Bush proclama, mesmo que implicitamente, a superioridade do mundo ocidental. Ele usa a razão de Estado com sotaque, o que a torna quase ininteligível para outros países ou outras culturas", diz o autor de, entre outros, "Conservadorismo Romântico" e "Lux in Tenebris", na entrevista a seguir.
O sr. diz que o ideal iluminista de transparência foi destruído pela razão de Estado. Qual é a conseqüência disso?
A conseqüência é que houve, concomitantemente, um espalhamento da razão bélico-tecnológica e da estratégia, utilizadas pela razão de Estado, e que não existiu uma disseminação da base da própria razão, que é muito mais ampla que a razão de Estado. Se há um ideal de razão, que foi herdado dos gregos, elaborado pelos romanos e teve uma forte tintura do pensamento judaico-cristão e do islã, ele acaba sendo desprezado nessa lógica. Se desconsiderarmos o que foi feito no mundo islâmico no que tange à matemática, à ótica, à medicina e à transmissão dos textos filosóficos gregos à cultura cristã, não teremos a totalidade da experiência histórica da razão.
Com a expansão do Ocidente -feita a partir de uma base tecnológica herdada de outras culturas-, houve uma fragmentação do fato racional. Nos movimentos atuais, que substituíram os movimentos pela descolonização, existem as microrrazões que operam com uma lógica própria. Ainda não há, portanto, uma possibilidade de diálogo desses vários segmentos com um fundo racional mais amplo. Há as grandes potências, que usam um idioleto da razão, como no caso de Bush e de Tony Blair, e os vários movimentos terroristas que operam segundo seus idioletos. Há uma espécie de babel política, cuja saída é praticamente impossível, já que cada um desses setores tem sua lógica própria. Isso impede que o sonho de regulação universal seja concretizado.
Mas o projeto da paz perpétua não é algo utópico?
Sim, na prática. Contudo ele contém uma idéia de razão, da qual Kant é o grande representante, que pôde modificar um pouco o antigo status quo. O problema é que, na vida pública, nunca há ganhos definitivos. Gosto de uma frase de Diderot, que era visto como alguém que acreditava no progresso, que diz que uma nação pode chegar a um nível bastante elevado de civilização e, em seguida, regredir.
Nesse contexto, as políticas aplicadas pela atual administração americana são um retrocesso?
Sim. Há um grande perigo quando Bush proclama, mesmo que implicitamente, a superioridade do mundo ocidental. Ele observa as prioridades do Ocidente a partir de uma lógica privada e usa a razão de Estado com sotaque, o que a torna quase ininteligível para outros países ou outras culturas. A disputa ocorrida na ONU entre a União Européia, liderada pela França e pela Alemanha, e os EUA mostra essa impossível tradução da razão de Estado americana. Todavia não se trata apenas de um fenômeno de lógica ou de racionalidade. Há uma disputa pelo poder. Paris e Berlim não têm uma atitude filantrópica, já que têm planos típicos de uma potência.
A mídia, segundo seu livro, tornou-se um mero instrumento da política externa americana, que é classificada de "xenófoba". Não há mais imprensa livre nos EUA?
Não, não posso imaginar que, em algum lugar do mundo, não haja ao menos um pouco de liberdade de imprensa. Por uma questão filosófica, não creio que tenha existido na história um Estado totalitário ou uma sociedade verdadeiramente totalitária.Nesse caso, não haveria nenhuma possibilidade de ruptura ou de movimentação nesses Estados. Se dissermos que a URSS ou a Alemanha nazista foi um totalitarismo pleno, negligenciaremos as resistências silenciadas e as fraturas, imaginando que houvesse um bloco indissolúvel entre a sociedade e o Estado. Até na URSS, havia imprensa clandestina. No caso americano, até na grande imprensa, existem fraturas e vozes divergentes, embora haja uma tentativa de controle por parte do governo. O Estado americano tem uma tradição democrática que ainda não foi vencida pelas tendências encarnadas por Bush. Como o momento em que escrevi meus textos era muito tenso, talvez meu tom reflita essa tensão.
O princípio que guia a guerra ao terror liderada por Bush é: "Nós contra eles". Que impacto esse princípio tem sobre o mundo islâmico?
O efeito é devastador. A retórica de Bush é algo surpreendente para mim, pois a sociologia e a antropologia americanas são muito refinadas, tendo uma grande capacidade de influência sobre as decisões políticas e sobre os sistemas de regulação. Noto que o padrão da sociologia dos EUA continua alto. Mas o que acontece com esse saber quando um grupo essencialmente fundamentalista assume o governo e utiliza um discurso tosco sobre diferenças culturais? Temos algumas pistas quando vemos que até textos da CIA foram negligenciados pelo governo em alguns casos. Trata-se de algo assustador. No caso de um governo que tem uma forte vontade de dominar, seria vital levar em conta as diferenças culturais para buscar estabelecer pontes, deixando de lado, portanto, a idéia de que o jogo é travado entre "nós" e "eles". Há um tipo de autismo nos EUA que leva a atos nocivos a seus próprios interesses.
Qual é a razão desse fenômeno?
Uma das causas internas é o fato de o exercício da Presidência ter-se tornado muito forte. Ou seja, o Legislativo é cada vez mais subordinado ao Executivo. Essa atribuição ditatorial do presidente deixou o Executivo menos atento ao diálogo com sua própria sociedade e com países estrangeiros. O descolamento do Executivo do restante do Estado é perigoso.
Qual é o grande desafio representado pelo islã?
Ele diz respeito ao "nós" usado pelo governo americano. É tentador para nós, que vivemos num meio impregnado de valores cristãos, acusar o islã de ser a matriz do terrorismo. Isso faz com que esqueçamos nossa própria história. Afinal, há uma tradição na cultura judaico-cristã de uso da adaga para fazer justiça. Isso foi muito usado nos séculos 17 e 18. Contudo não podemos esquecer que temos grande responsabilidade pela tecnologia e pela racionalização do terror. Temos doutrinas, lógicas e técnicas. E, quando se trata do terror político mais radical, devemos lembrar que ele foi inventado na cultura ocidental, tendo até dado início à Primeira Guerra Mundial -começada após o atentado de Sarajevo. Assim, o desafio do islã é o nosso desafio. Só poderemos entender o terrorismo islâmico se compreendermos nosso próprio terrorismo. É por isso que quis pôr em meu livro um texto sobre Erasmo, um pensador clássico ocidental que pregava uma relação de tolerância com o islã.
Outra antiga entrevista a Radio Onu, sobre a fuga de cerebros...
Ciência
2) Radio ONU: FUGA DE CÉREBROS PREOCUPA COMUNIDADE CIENTÍFICA
Entrevista com ROBERTO ROMANO, professor de Ética e Filosofia Política da UNICAMP.
http://www.un.org/av/radio/portuguese/roberto030721.ram
São Tomé e Príncipe
Ciência: fuga de cérebros preocupa comunidade científica
De acordo com estimativas da ONU, os baixos salários, o desemprego, a falta de investimentos e de políticas públicas para a defesa e promoção da ciência constituem as principais causas responsáveis pela fuga de talentos da África e da América Latina para os países industrializados.
Segundo uma pesquisa da Organização Internacional de Migração (OIM) mais de 40 mil cientistas latino-americanos abandonam anualmente seus países para instalar-se nas nações ricas.
No continente africano – indica a agência – cerca de 20 mil profissionais deixam todos os anos seus países com o mesmo propósito.
Tema de grande preocupação das Nações Unidas, a questão da fuga de cérebros foi recentemente debatida, em Recífe, na 55a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia da UNICAMP, afirma que o debate da questão pela ONU – apoiado pelas autoridades academicas – é absolutamente fundamental.
Roberto Romano:
“Acho uma tarefa digna, dos maiores elogios. Constitui uma das maiores preocupações das autoridades acadêmicas brasileiras. Mesmo assim, não estamos levando em conta as verdadeiras dimensões desse fenômeno mundial. Conhecemos dados existentes na Rússia, no México e em outros países, mas os problemas da América Latina são assustadores. Na África, a situação é ainda mais dolorosa. O continente que está numa situação complicadíssma, em termos antropológicos, está perdendo um grande número cérebros. Creio, que do ponto de vista internacional é hora de se pensar efetivamente no aprofundamento do saber, na circulação das idéias. O que parece estar ocorrendo é uma circulação de indivíduos e pouca circulação dos saberes. A ONU tem um papel fundamental nessa área.”
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)
2) Radio ONU: FUGA DE CÉREBROS PREOCUPA COMUNIDADE CIENTÍFICA
Entrevista com ROBERTO ROMANO, professor de Ética e Filosofia Política da UNICAMP.
http://www.un.org/av/radio/portuguese/roberto030721.ram
São Tomé e Príncipe
Ciência: fuga de cérebros preocupa comunidade científica
De acordo com estimativas da ONU, os baixos salários, o desemprego, a falta de investimentos e de políticas públicas para a defesa e promoção da ciência constituem as principais causas responsáveis pela fuga de talentos da África e da América Latina para os países industrializados.
Segundo uma pesquisa da Organização Internacional de Migração (OIM) mais de 40 mil cientistas latino-americanos abandonam anualmente seus países para instalar-se nas nações ricas.
No continente africano – indica a agência – cerca de 20 mil profissionais deixam todos os anos seus países com o mesmo propósito.
Tema de grande preocupação das Nações Unidas, a questão da fuga de cérebros foi recentemente debatida, em Recífe, na 55a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia da UNICAMP, afirma que o debate da questão pela ONU – apoiado pelas autoridades academicas – é absolutamente fundamental.
Roberto Romano:
“Acho uma tarefa digna, dos maiores elogios. Constitui uma das maiores preocupações das autoridades acadêmicas brasileiras. Mesmo assim, não estamos levando em conta as verdadeiras dimensões desse fenômeno mundial. Conhecemos dados existentes na Rússia, no México e em outros países, mas os problemas da América Latina são assustadores. Na África, a situação é ainda mais dolorosa. O continente que está numa situação complicadíssma, em termos antropológicos, está perdendo um grande número cérebros. Creio, que do ponto de vista internacional é hora de se pensar efetivamente no aprofundamento do saber, na circulação das idéias. O que parece estar ocorrendo é uma circulação de indivíduos e pouca circulação dos saberes. A ONU tem um papel fundamental nessa área.”
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)
Uma antiga entrevista, antes que a Universidade do ABC fosse criada. Vale pelas analises da Universidade em geral.
Professor aponta valor da universidade no Grande ABC
Danilo Angrimani
Do Diário do Grande ABC
Os países que empregaram recursos em suas universidades, desde o final da Idade Média até hoje, encontram-se no topo do mundo. Os que não fizeram isto, como o Brasil, nunca chegam à hegemonia, são dominados, apesar de sua pujança natural e humana. Este é o principal argumento do professor Roberto Romano, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Altos Estudos de Paris, na defesa da Universidade Pública Federal no Grande ABC. Romano lembra que essa aspiração – de reivindicar a criação de uma instituição de ensino pública – é legítima e remonta ao passado. Na época do Brasil-Colônia, o professor assinala, Portugal proibia a leitura até de livros científicos. Por isso, “os inconfidentes tinham como programa de governo instaurar no Brasil fábricas e universidades”.
Segundo o professor-titular da Unicamp, ao formar estudantes e professores para o uso de técnicas e conhecimentos amplos e profundos, a universidade entregará ao Grande ABC e ao país um conjunto de pessoas capazes de assimilar ciências e técnicas e passá-las à indústria, ao comércio, à gestão da coisa pública.
Romano é autor de vários livros, o último deles O Desafio do Islã e Outros Desafios, foi também coordenador do setor acadêmico da Frente em Defesa da Ciência e Tecnologia Nacional e assessor de vários fundações de auxílio à pesquisa.
Leia a entrevista, concedida com exclusividade ao Diário:
Diário – Quando surgiu a primeira universidade da história e em quais circunstâncias políticas?
Roberto Romano – A primeira universidade instaurada em plenitude foi a de Bolonha, no século XI. Ao contrário das outras que vieram depois dela, cujo interesse era centrado em Teologia, Medicina e Direito, Bolonha tinha um forte sentido jurídico. Ela foi mantida pela corporação de advogados, os quais tudo fizeram para dar aos estudos um significado laico. A preferência pelo Direito explica-se com base nas carências do comércio (que então renascia com as cidades, contra os feudos fechados e auto-suficientes), e pela estruturação nova dos poderes medievais, a Igreja Romana e os estados que naquele período davam seus primeiros passos. A cidade-estado na Itália era uma realidade naqueles tempos e assim foi até o século XVIII. Na vida privada, no comércio, no plano diplomático e na teoria do Estado a Universidade de Bolonha foi a grande referência.
Diário – De que maneira as universidades ajudaram determinadas civilizações a conquistar avanços técnicos e científicos?
Romano – Nas universidades medievais, os europeus aprenderam técnicas de ótica vindas dos árabes; cálculos e álgebra, astronomia; produção de instrumentos novos para a guerra; técnicas de construção civil; medicina. Eles também herdaram os saberes da filosofia, da política e do direito grego e romano, guardados nos mosteiros e nas bibliotecas dos árabes, em manuscritos. Com semelhante cabedal, os viajantes europeus e os pesquisadores tiveram o treino inicial que lhes permitiu emprestar mais tarde técnicas do extremo oriente, como a manipulação da pólvora e uso de armas de fogo (sobretudo as chinesas), dando-lhes uma eficácia letal nunca vista anteriormente. Com o Renascimento, a universidade guardou conhecimentos e os transmitiu às novas gerações.
Diário – Havia na época a mesma burocracia e o carreirismo que sufoca algumas instituições?
Romano – Na Renascença, as mesmas universidades tinham deixado de ser instrumentos de acúmulo e passagem de saberes e se tornaram órgãos burocráticos a serviço dos estados nacionais, da igreja ou dos mercadores. A maior parte das ciências naturais, das inovações técnicas, das humanidades, foi cultivada fora e contra a universidade. Como diz um dos maiores historiadores da Idade Média, Jacques Le Goff, a universidade, depois do século XVI, passou a ser apenas a “corporação dos queimadores de livros”. Neste movimento, a universidade foi mais um poderoso meio de conservação de saberes já adquiridos e menos um instrumento de inovação. Descartes, Spinoza, Francis Bacon, Leibniz e quase todos os grandes nomes da ciência moderna e da filosofia, tiveram problemas com a universidade. Mas, sem ela, pode-se afirmar, o saber de outras culturas (grega, árabe, indiana, chinesa) não teria passado à Europa e ao mundo moderno.
Diário – Qual o papel que uma universidade pública teria em uma região, como o Grande ABC, que enfrenta dificuldades, sendo o esvaziamento industrial a mais urgente?
Romano – Em primeiro lugar, a universidade serve para trazer saberes mundiais. Ao formar estudantes e professores para o uso de técnicas e conhecimentos amplos e profundos, ela ao mesmo tempo entregará à região e ao país um conjunto de pessoas capazes de assimilar ciências e técnicas e passá-las à indústria, ao comércio, à gestão da coisa pública. Para que isto se consiga, entretanto, é preciso que o ensino e a pesquisa sejam feitos com seriedade e rigor científico. Slogans e esperanças sem lastro, apenas tornam a população, os empresários, os trabalhadores, mais alheios à verdadeira essência do saber atual. Vender esperanças de ascensão social, ou similares, pode ser um caminho perigoso de auto-engano coletivo. A pesquisa e o ensino verdadeiros exigem laboratórios avançados, com instrumentos caros, com pesquisadores bem pagos, com alunos protegidos na sua labuta. A universidade custa caro em todo mundo.
Diário – Mas vale a pena?
Romano – Os países que empregaram recursos em suas universidades, desde o final da Idade Média até hoje, encontram-se no topo do mundo. Os que não tiveram esta prática, como o Brasil (durante toda a colônica, os portugueses nos proibiam até mesmo a leitura de livros científicos, não por acaso os Inconfidentes tinham como programa instaurar no Brasil fábricas e universidades) nunca chegam à hegemonia, são dominados apesar de sua pujança natural e humana. Países como a Coréia deveriam ser um paradigma a ser imitado pelo Brasil. Neles investiu-se muitos recursos nas universidades, aprimorando-se a produção industrial em larga escala.
Diário – Como uma universidade pública contribuiria para o Grande ABC aliar avanço tecnológico com produção industrial de qualidade?
Romano – A pesquisa e o ensino, quando feitos com disciplina e entusiasmo, recolhem saberes do mundo inteiro e asseguram a sua reprodução. Estudantes e professores que fazem mestrado ou doutoramento em países avançados trazem para o Brasil novos métodos, conceitos e tecnologias. É esta a base do crescimento contínuo da produção nacional e regional. Ninguém transforma procedimentos sem trocas com a coletividade planetária, sobretudo com os países que mais avançaram em setores em que o nosso ainda está no início. No Brasil, há 40 anos a pós-graduação deu um salto tremendo de qualidade e de quantidade. Temos bases para um crescimento inusitado em nossa história. É preciso, no entanto, saber aproveitar toda esta riqueza. Infelizmente as autoridades públicas, dos municípios à federação, marcam passo e prejudicam esse imenso trabalho de gerações de cientistas, docentes, técnicos.
Diário – O que será preciso para o governo federal criar efetivamente uma universidade pública no Grande ABC?
Romano – Digamos que seria mais estratégico perguntar o que o Grande ABC pode fazer, para levar ao governo federal propostas realistas de universidade pública aqui. Não tenho receitas de ação. Isto seria tola arrogância de minha parte. Mas creio ser importante, em primeiro lugar, que as autoridades dos municípios do ABC reúnam setores acadêmicos, empresariais, sindicais etc. para pensar o que seria mais adequado à região. Uma pauta pode ser definida, na qual entrassem estudos de viabilidade, custos, pretensões dos poderes públicos e da indústria, do comércio. Simultaneamente, um amplo debate com os contribuintes, os cidadãos. Finalmente, nunca chegar ao Ministério da Educação e demais ministérios e órgãos federais, sem saber exatamente o que se deseja. Caso contrário, os recursos serão de mais árdua apropriação, as justificativas serão menos eficazes. Evidentemente, o trabalho inteiro deve ser acompanhado e apoiado pelos deputados, senadores, vereadores (e também pelo poder judiciário que pode fornecer boas técnicas de viabilização jurídica) de modo permanente. Pressões devem ser feitas, sem tardança, por exemplo, na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados em Brasília.
Danilo Angrimani
Do Diário do Grande ABC
Os países que empregaram recursos em suas universidades, desde o final da Idade Média até hoje, encontram-se no topo do mundo. Os que não fizeram isto, como o Brasil, nunca chegam à hegemonia, são dominados, apesar de sua pujança natural e humana. Este é o principal argumento do professor Roberto Romano, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Altos Estudos de Paris, na defesa da Universidade Pública Federal no Grande ABC. Romano lembra que essa aspiração – de reivindicar a criação de uma instituição de ensino pública – é legítima e remonta ao passado. Na época do Brasil-Colônia, o professor assinala, Portugal proibia a leitura até de livros científicos. Por isso, “os inconfidentes tinham como programa de governo instaurar no Brasil fábricas e universidades”.
Segundo o professor-titular da Unicamp, ao formar estudantes e professores para o uso de técnicas e conhecimentos amplos e profundos, a universidade entregará ao Grande ABC e ao país um conjunto de pessoas capazes de assimilar ciências e técnicas e passá-las à indústria, ao comércio, à gestão da coisa pública.
Romano é autor de vários livros, o último deles O Desafio do Islã e Outros Desafios, foi também coordenador do setor acadêmico da Frente em Defesa da Ciência e Tecnologia Nacional e assessor de vários fundações de auxílio à pesquisa.
Leia a entrevista, concedida com exclusividade ao Diário:
Diário – Quando surgiu a primeira universidade da história e em quais circunstâncias políticas?
Roberto Romano – A primeira universidade instaurada em plenitude foi a de Bolonha, no século XI. Ao contrário das outras que vieram depois dela, cujo interesse era centrado em Teologia, Medicina e Direito, Bolonha tinha um forte sentido jurídico. Ela foi mantida pela corporação de advogados, os quais tudo fizeram para dar aos estudos um significado laico. A preferência pelo Direito explica-se com base nas carências do comércio (que então renascia com as cidades, contra os feudos fechados e auto-suficientes), e pela estruturação nova dos poderes medievais, a Igreja Romana e os estados que naquele período davam seus primeiros passos. A cidade-estado na Itália era uma realidade naqueles tempos e assim foi até o século XVIII. Na vida privada, no comércio, no plano diplomático e na teoria do Estado a Universidade de Bolonha foi a grande referência.
Diário – De que maneira as universidades ajudaram determinadas civilizações a conquistar avanços técnicos e científicos?
Romano – Nas universidades medievais, os europeus aprenderam técnicas de ótica vindas dos árabes; cálculos e álgebra, astronomia; produção de instrumentos novos para a guerra; técnicas de construção civil; medicina. Eles também herdaram os saberes da filosofia, da política e do direito grego e romano, guardados nos mosteiros e nas bibliotecas dos árabes, em manuscritos. Com semelhante cabedal, os viajantes europeus e os pesquisadores tiveram o treino inicial que lhes permitiu emprestar mais tarde técnicas do extremo oriente, como a manipulação da pólvora e uso de armas de fogo (sobretudo as chinesas), dando-lhes uma eficácia letal nunca vista anteriormente. Com o Renascimento, a universidade guardou conhecimentos e os transmitiu às novas gerações.
Diário – Havia na época a mesma burocracia e o carreirismo que sufoca algumas instituições?
Romano – Na Renascença, as mesmas universidades tinham deixado de ser instrumentos de acúmulo e passagem de saberes e se tornaram órgãos burocráticos a serviço dos estados nacionais, da igreja ou dos mercadores. A maior parte das ciências naturais, das inovações técnicas, das humanidades, foi cultivada fora e contra a universidade. Como diz um dos maiores historiadores da Idade Média, Jacques Le Goff, a universidade, depois do século XVI, passou a ser apenas a “corporação dos queimadores de livros”. Neste movimento, a universidade foi mais um poderoso meio de conservação de saberes já adquiridos e menos um instrumento de inovação. Descartes, Spinoza, Francis Bacon, Leibniz e quase todos os grandes nomes da ciência moderna e da filosofia, tiveram problemas com a universidade. Mas, sem ela, pode-se afirmar, o saber de outras culturas (grega, árabe, indiana, chinesa) não teria passado à Europa e ao mundo moderno.
Diário – Qual o papel que uma universidade pública teria em uma região, como o Grande ABC, que enfrenta dificuldades, sendo o esvaziamento industrial a mais urgente?
Romano – Em primeiro lugar, a universidade serve para trazer saberes mundiais. Ao formar estudantes e professores para o uso de técnicas e conhecimentos amplos e profundos, ela ao mesmo tempo entregará à região e ao país um conjunto de pessoas capazes de assimilar ciências e técnicas e passá-las à indústria, ao comércio, à gestão da coisa pública. Para que isto se consiga, entretanto, é preciso que o ensino e a pesquisa sejam feitos com seriedade e rigor científico. Slogans e esperanças sem lastro, apenas tornam a população, os empresários, os trabalhadores, mais alheios à verdadeira essência do saber atual. Vender esperanças de ascensão social, ou similares, pode ser um caminho perigoso de auto-engano coletivo. A pesquisa e o ensino verdadeiros exigem laboratórios avançados, com instrumentos caros, com pesquisadores bem pagos, com alunos protegidos na sua labuta. A universidade custa caro em todo mundo.
Diário – Mas vale a pena?
Romano – Os países que empregaram recursos em suas universidades, desde o final da Idade Média até hoje, encontram-se no topo do mundo. Os que não tiveram esta prática, como o Brasil (durante toda a colônica, os portugueses nos proibiam até mesmo a leitura de livros científicos, não por acaso os Inconfidentes tinham como programa instaurar no Brasil fábricas e universidades) nunca chegam à hegemonia, são dominados apesar de sua pujança natural e humana. Países como a Coréia deveriam ser um paradigma a ser imitado pelo Brasil. Neles investiu-se muitos recursos nas universidades, aprimorando-se a produção industrial em larga escala.
Diário – Como uma universidade pública contribuiria para o Grande ABC aliar avanço tecnológico com produção industrial de qualidade?
Romano – A pesquisa e o ensino, quando feitos com disciplina e entusiasmo, recolhem saberes do mundo inteiro e asseguram a sua reprodução. Estudantes e professores que fazem mestrado ou doutoramento em países avançados trazem para o Brasil novos métodos, conceitos e tecnologias. É esta a base do crescimento contínuo da produção nacional e regional. Ninguém transforma procedimentos sem trocas com a coletividade planetária, sobretudo com os países que mais avançaram em setores em que o nosso ainda está no início. No Brasil, há 40 anos a pós-graduação deu um salto tremendo de qualidade e de quantidade. Temos bases para um crescimento inusitado em nossa história. É preciso, no entanto, saber aproveitar toda esta riqueza. Infelizmente as autoridades públicas, dos municípios à federação, marcam passo e prejudicam esse imenso trabalho de gerações de cientistas, docentes, técnicos.
Diário – O que será preciso para o governo federal criar efetivamente uma universidade pública no Grande ABC?
Romano – Digamos que seria mais estratégico perguntar o que o Grande ABC pode fazer, para levar ao governo federal propostas realistas de universidade pública aqui. Não tenho receitas de ação. Isto seria tola arrogância de minha parte. Mas creio ser importante, em primeiro lugar, que as autoridades dos municípios do ABC reúnam setores acadêmicos, empresariais, sindicais etc. para pensar o que seria mais adequado à região. Uma pauta pode ser definida, na qual entrassem estudos de viabilidade, custos, pretensões dos poderes públicos e da indústria, do comércio. Simultaneamente, um amplo debate com os contribuintes, os cidadãos. Finalmente, nunca chegar ao Ministério da Educação e demais ministérios e órgãos federais, sem saber exatamente o que se deseja. Caso contrário, os recursos serão de mais árdua apropriação, as justificativas serão menos eficazes. Evidentemente, o trabalho inteiro deve ser acompanhado e apoiado pelos deputados, senadores, vereadores (e também pelo poder judiciário que pode fornecer boas técnicas de viabilização jurídica) de modo permanente. Pressões devem ser feitas, sem tardança, por exemplo, na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados em Brasília.
Uma excelente entrevista com Stanley Kubrick sobre violencia, etc.
Entrevista Stanley Kubrick
Michel Ciment:
Since so many different interpretations have been offered about "A Clockwork Orange," how do you see your own film?
Stanley Kubrick:
The central idea of the film has to do with the question of free-will. Do we lose our humanity if we are deprived of the choice between good and evil? Do we become, as the title suggests, A Clockwork Orange? Recent experiments in conditioning and mind control on volunteer prisoners in America have taken this question out of the realm of science-fiction. At the same time, I think the dramatic impact of the film has principally to do with the extraordinary character of Alex, as conceived by Anthony Burgess in his brilliant and original novel. Aaron Stern, the former head of the MPAA rating board in America, who is also a practising psychiatrist, has suggested that Alex represents the unconscious: man in his natural state. After he is given the Ludovico 'cure' he has been 'civilized', and the sickness that follows may be viewed as the neurosis imposed by society.
Michel Ciment:
The chaplain is a central character in the film.
Stanley Kubrick:
Although he is partially concealed behind a satirical disguise, the prison chaplain, played by Godfrey Quigley, is the moral voice of the film. He challenges the ruthless opportunism of the State in pursuing its programme to reform criminals through psychological conditioning. A very delicate balance had to be achieved in Godfrey's performance between his somewhat comical image and the important ideas he is called upon to express.
Michel Ciment:
On a political level the end of the film shows an alliance between the hoodlum and the authorities.
Stanley Kubrick:
The government eventually resorts to the employment of the cruellest and most violent members of the society to control everyone else -- not an altogether new or untried idea. In this sense, Alex's last line, 'I was cured all right,' might be seen in the same light as Dr. Strangelove's exit line, 'Mein Fuehrer, I can walk.' The final images of Alex as the spoon-fed child of a corrupt, totalitarian society, and Strangelove's rebirth after his miraculous recovery from a crippling disease, seem to work well both dramatically and as expressions of an idea.
Michel Ciment:
What amuses me is that many reviewers speak of this society as a communist one, whereas there is no reason to think it is.
Stanley Kubrick:
The Minister, played by Anthony Sharp, is clearly a figure of the Right. The writer, Patrick Magee, is a lunatic of the Left. 'The common people must be led, driven, pushed!' he pants into the telephone. 'They will sell their liberty for an easier life!'
Michel Ciment:
But these could be the very words of a fascist.
Stanley Kubrick:
Yes, of course. They differ only in their dogma. Their means and ends are hardly distinguishable.
Michel Ciment:
You deal with the violence in a way that appears to distance it.
Stanley Kubrick:
If this occurs it may be because the story both in the novel and the film is told by Alex, and everything that happens is seen through his eyes. Since he has his own rather special way of seeing what he does, this may have some effect in distancing the violence. Some people have asserted that this made the violence attractive. I think this view is totally incorrect.
Michel Ciment:
The cat lady was much older in the book. Why did you change her age?
Stanley Kubrick:
She fulfills the same purpose as she did in the novel, but I think she may be a little more interesting in the film. She is younger, it is true, but she is just as unsympathetic and unwisely aggressive.
Michel Ciment:
You also eliminated the murder that Alex committed in prison.
Stanley Kubrick:
That had to do entirely with the problem of length. The film is, anyway, about two hours and seventeen minutes long, and it didn't seem to be a necessary scene.
Michel Ciment:
Alex is no longer a teenager in the film.
Stanley Kubrick:
Malcolm McDowell's age is not that easy to judge in the film, and he was, without the slightest doubt, the best actor for the part. It might have been nicer if Malcolm had been seventeen, but another seventeen-year-old actor without Malcolm's extra- ordinary talent would not have been better.
Michel Ciment:
Somehow the prison is the most acceptable place in the whole movie. And the warder, who is a typical British figure, is more appealing than a lot of other characters.
Stanley Kubrick:
The prison warder, played by the late Michael Bates, is an obsolete servant of the new order. He copes very poorly with the problems around him, understanding neither the criminals nor the reformers. For all his shouting and bullying, though, he is less of a villain than his trendier and more sophisticated masters.
Michel Ciment:
In your films the State is worse than the criminals but the scientists are worse than the State.
Stanley Kubrick:
I wouldn't put it that way. Modern science seems to be very dangerous because it has given us the power to destroy ourselves before we know how to handle it. On the other hand, it is foolish to blame science for its discoveries, and in any case, we cannot control science. Who would do it, anyway? Politicians are certainly not qualified to make the necessary technical decisions. Prior to the first atomic bomb tests at Los Alamos, a small group of physicists working on the project argued against the test because they thought there was a possibility that the detonation of the bomb might cause a chain reaction which would destroy the entire planet. But the majority of the physicists disagreed with them and recommended that the test be carried out. The decision to ignore this dire warning and proceed with the test was made by political and military minds who could certainly not understand the physics involved in either side of the argument. One would have thought that if even a minority of the physicians thought the test might destroy the Earth no sane men would decide to carry it out. The fact that the Earth is still here doesn't alter the mind-boggling decision which was made at that time.
Michel Ciment:
Alex has a close relationship with art (Beethoven) which the other characters do not have. The cat lady seems interested in modern art but, in fact, is indifferent. What is your own attitude towards modern art?
Stanley Kubrick:
I think modern art's almost total pre-occupation with subjectivism has led to anarchy and sterility in the arts. The notion that reality exists only in the artist's mind, and that the thing which simpler souls had for so long believed to be reality is only an illusion, was initially an invigorating force, but it eventually led to a lot of highly original, very personal and extremely uninteresting work. In Cocteau's film "Orpheus," the poet asks what he should do. 'Astonish me,' he is told. Very little of modern art does that -- certainly not in the sense that a great work of art can make you wonder how its creation was accomplished by a mere mortal. Be that as it may, films, unfortunately, don't have this problem at all. From the start, they have played it as safe as possible, and no one can blame the generally dull state of the movies on too much originality and subjectivism.
Michel Ciment:
Well, don't you think that your films might be called original?
Stanley Kubrick:
I'm talking about major innovations in form, not about quality, content, or ideas, and in this respect I think my films are still not very far from the traditional form and structure which has moved sideways since the beginning of sound.
Michel Ciment:
The film makes a reference to Christ.
Stanley Kubrick:
Alex brutally fantasizes about being a Roman guard at the Crucifixion while he feigns Bible study in the prison library. A few moments later, he tells the prison chaplain that he wants to be good. The chaplain, who is the only decent man in the story, is taken in by Alex's phoney contrition. The scene is still another example of the blackness of Alex's soul.
Michel Ciment:
But why did you shoot this crucifixion scene like a bad hollywood movie?
Stanley Kubrick:
I thought Alex would have imagined it that way. That's why he uses the American accent we've heard so many times before in biblical movies when he shouts, 'Move on there!'
Michel Ciment:
Do you think there is any relationship between this and your interpretation of antiquity in "Spartacus"?
Stanley Kubrick:
None at all. In "Spartacus" I tried with only limited success to make the film as real as possible but I was up against a pretty dumb script which was rarely faithful to what is known about Spartacus. History tells us he twice led his victorious slave army to the northern borders of Italy, and could quite easily have gotten out of the country. But he didn't, and instead he led his army back to pillage Roman cities. What the reasons were for this would have been the most interesting question the film might have pondered. Did the intentions of the rebellion change? Did Spartacus lose control of his leaders who by now may have been more interested in the spoils of war than in freedom? In the film, Spartacus was prevented from escape by the silly contrivance of a pirate leader who reneged on a deal to take the slave army away in his ships. If I ever needed any convincing of the limits of persuasion a director can have on a film where someone else is the producer and he is merely the highest-paid member of the crew, "Spartacus" provided proof to last a lifetime.
Michel Ciment:
You use technical devices which break the narrative fluidity, and the illusion of reality: accelerated action, slow motion, and an unusual reliance on ultra-wide angle lenses.
Stanley Kubrick:
I tried to find something like a cinematic equivalent of Burgess's literary style, and Alex's highly subjective view of things. But the style of any film has to do more with intuition than with analysis. I think there is a great deal of oversimplified over-conceptualizing by some film-makers which is encouraged by the way inter- viewers formulate their questions, and it passes for serious and useful thought and seems to inspire confidence in every direction.
Michel Ciment:
Why did you shoot the orgy in skip-frame high-speed motion?
Stanley Kubrick:
It seemed to me a good way to satirize what had become the fairly common use of slow-motion to solemnize this sort of thing, and turn it into 'art.' The William Tell Overture also seemed a good musical joke to counter the standard Bach accompaniment.
Michel Ciment:
The first three sequences are very striking, employing the same zoom pull-back shots, starting from a close-up and ending on the whole set. How do you prepare this kind of shot?
Stanley Kubrick:
There was no special preparation. I find that, with very few exceptions, it's important to save your cinematic ideas until you have rehearsed the scene in the actual place you're going to film it. The first thing to do is to rehearse the scene until something happens that is worth putting on film -- only then should you worry about how to film it. The what must always precede the how. No matter how carefully you have pre-planned a scene, when you actually come to the time of shooting, and you have the actors on the set, having learned their lines, dressed in the right clothes, and you have the benefit of knowing what you have already got on film, there is usually some adjustment that has to be made to the scene in order to achieve the best result.
Michel Ciment:
There are many sequences -- for example Alex's return to his parents' house or the prison -- in which the camera is very still and the editing reduced to a minimum.
Stanley Kubrick:
I think there should always be a reason for making a cut. If a scene plays well in one camera set up and there is no reason to cut, then I don't cut. I try to avoid a mechanical cutting rhythm which dissipates much of the effect of editing.
Michel Ciment: You did a lot of hand-held camera work yourself, especially for the action scenes.
Stanley Kubrick: I like to do hand-held shooting myself. When the camera is on a dolly you can go over the action of the scene with the camera operator and show him the composition that you want at each point in the take. But you can't do this when the camera is hand-held. Sometimes there are certain effects which can only be achieved with a hand-held camera, and sometimes you hand hold it because there's no other way to move through a confined space or over obstacles.
Michel Ciment:
Most of the shooting was done on location.
Stanley Kubrick:
The entire film was shot on location with the exception of four sets which were built in a small factory which we rented for the production. Nothing was filmed in a studio. The four sets we had to build were the Korova Milk Bar, the Prison Check-in, the Writer's Bathroom, and the Entrance Hall to his house. In the latter case, we built this small set in a tent in the back garden of the house in which we filmed the interiors of the writer's house. The locations were supposed to look a bit futuristic, and we did our preliminary location search by looking through back issues of several British architectural magazines, getting our leads for most of the locations that way.
Michel Ciment:
Was the idea of the Milk Bar yours?
Stanley Kubrick:
Part of it was. I had seen an exhibition of sculpture which displayed female figures as furniture. From this came the idea for the fibreglass nude figures which were used as tables in the Milk Bar. The late John Barry, who was the film's Production Designer, designed the set. To get the poses right for the sculptress who modelled the figures, John photographed a nude model in as many positions as he could imagine would make a table. There are fewer positions than you might think.
Michel Ciment:
It was with "Dr. Strangelove" that you really started to use music as a cultural reference. What is your attitude to film music in general?
Stanley Kubrick:
Unless you want a pop score, I don't see any reason not to avail yourself of the great orchestral music of the past and present. This music may be used in its correct form or synthesized, as was done with the Beethoven for some scenes in "A Clockwork Orange." But there doesn't seem to be much point in hiring a composer who, however good he may be, is not a Mozart or a Beethoven, when you have such a vast choice of existing orchestral music which includes contemporary and avant-garde work. Doing it this way gives you the opportunity to experiment with the music early in the editing phase, and in some instances to cut the scene to the music. This is not something you can easily do in the normal sequence of events.
Michel Ciment:
Was the music chosen after the film was completed? And on which grounds?
Stanley Kubrick:
Most of it was, but I had some of it in mind from the start. It is a bit difficult to say why you choose a piece of music. Ideas occur to you, you try them out, and at some point you decide that you're doing the right thing. It's a matter of taste, luck and imagination, as is virtually everything else connected with making a film.
Michel Ciment:
Is your taste for music linked to the Viennese origins of your father?
Stanley Kubrick:
My father was born in America, and he is a doctor living in California. His mother was Rumanian, and his father came from a place which today is in Poland. So I think my musical tastes were probably acquired, not inherited.
Michel Ciment:
It would appear that you intended to make a trilogy about the future in your last three films. Have you thought about this?
Stanley Kubrick:
There is no deliberate pattern to the stories that I have chosen to make into films. About the only factor at work each time is that I try not to repeat myself. Since you can't be systematic about finding a story to film, I read anything. In addition to books which sound interesting, I rely on luck and accident to eventually bring me together with the book. I read as unselfconsciously as I can to avoid interfering with the story's emotional impact. If the book proves to be exciting and suggests itself as a possible choice, subsequent readings are done much more carefully, usually with notes taken at the same time. Should the book finally be what I want, it is very important for me to retain, during the subsequent phases of making the film, my impressions of the first reading. After you've been working on a film, perhaps for more than a year, everything about it tends to become so familiar that you are in danger of not seeing the forest for the trees. That's why it's so important to be able to use this first impression as the criterion for making decisions about the story much later on. Whoever the director may be, and however perceptively he has filmed and edited his movie, he can never have the same experience that the audience has when it sees the film for the first time. The director's first time is the first reading of the story, and the impressions and excitement of this event have to last through to the final work on the movie. Fortunately I've never chosen a story where the excitement hasn't gone the distance. It would be a terrible thing if it didn't.
Michel Ciment:
What were the various projects that you have dropped?
Stanley Kubrick: One was a screenplay of Stefan Zweig's story, "The Burning Secret," which Calder Willingham and I wrote in the middle fifties, for Dore Schary at MGM, after I made "The Killing." The story is about a mother who goes away on vacation without her husband but accompanied by her young son. At the resort hotel where they are staying, she is seduced by an attractive gentleman she meets there. Her son discovers this but when mother and son eventually return home the boy lies at a crucial moment to prevent his father from discovering the truth. It's a good story but I don't know how good the screenplay was. A few years later, I wrote an incomplete screenplay about Mosby's Rangers, a Southern guerilla force in the American Civil War. Around that time I also wrote a screenplay called "I Stole 16 Million Dollars," based on the autobiography of Herbert Emmerson Wilson, a famous safe-cracker. It was written for Kirk Douglas who didn't like it, and that was the end of it. I must confess I have never subsequently been interested in any of these screenplays. There is also a novel by Arthur Schnitzler, "Rhapsody: A Dream Novel," which I intend to do but on which I have not yet started to work. It's a difficult book to describe -- what good book isn't? It explores the sexual ambivalence of a happy marriage, and tries to equate the importance of sexual dreams and might-have-beens with reality. All of Schnitzler's work is psychologically brilliant, and he was greatly admired by Freud, who once wrote to him, apologizing for having always avoided a personal meeting. Making a joke (a joke?), Freud said this was because he was afraid of the popular superstition that if you meet your Doppelganger (double) you would die.
Michel Ciment:
Did you make a film for American television around 1960 about Lincoln?
Stanley Kubrick:
It was in the early fifties, and I only worked for about a week doing some second unit shots in Kentucky for the producer, Richard de Rochemont.
Michel Ciment:
Your films seem to show an attraction for Germany: the German music, the characters of "Dr. Strangelove," Professor Zempf in "Lolita."
Stanley Kubrick:
I wouldn't include German music as a relevant part of that group, nor would I say that I'm attracted but, rather, that I share the fairly widespread fascination with the horror of the Nazi period. Strangelove and Zempf are just parodies of movie cliches about Nazis.
Michel Ciment:
You seem to be very interested in language. "Lolita" and "A Clockwork Orange" are two films where the manipulation of words play an essential role.
Stanley Kubrick:
Yes, of course I am. But my principal interest in "A Clockwork Orange" wasn't the language, however brilliant it was, but rather, the story, the characters and the ideas. Of course the language is a very important part of the novel, and it contributed a lot to the film, too. I think "A Clockwork Orange" is one of the very few books where a writer has played with syntax and introduced new words where it worked. In a film, however, I think the images, the music, the editing and the emotions of the actors are the principal tools you have to work with. Language is important but I would put it after those elements. It should even be possible to do a film which isn't gimmicky without using any dialogue at all. Unfortunately, there has been very little experimentation with the form of film stories, except in avant-garde cinema where, unfortunately, there is too little technique and expertise present to show very much. As far as I'm concerned, the most memorable scenes in the best films are those which are built predominantly of images and music.
Michel Ciment:
We could find that kind of attempt in some underground american films.
Stanley Kubrick:
Yes, of course, but as I said, they lack the technique to prove very much.
The powerful things that you remember may be the images but perhaps their strength comes from the words that precede them. Alex'S first-person narration at the beginning of the film increases the power of the images.
You can't make a rule that says that words are never more useful than images. And, of course, in the scene you refer to, it would be rather difficult to do without words to express Alex's thoughts. There is an old screenplay adage that says if you have to use voice-over it means there's something wrong with the script. I'm quite certain this is not true, and when thoughts are to be conveyed, especially when they are of a nature which one would not say to another person, there is no other good alternative.
Michel Ciment:
This time you wrote your script alone. How would you equate the problems of writing a screenplay to writing a novel?
Stanley Kubrick:
Writing a screenplay is a very different thing than writing a novel or an original story. A good story is a kind of a miracle, and I think that is the way I would describe Burgess's achievement with the novel. "A Clockwork Orange" has a wonderful plot, strong characters and clear philosophy. When you can write a book like that, you've really done something. On the other hand, writing the screenplay of the book is much more of a logical process -- something between writing and breaking a code. It does not require the inspiration or the invention of the novelist. I'm not saying it's easy to write a good screenplay. It certainly isn't, and a lot of fine novels have been ruined in the process. However serious your intentions may be, and however important you think are the ideas of the story, the enormous cost of a movie makes it necessary to reach the largest potential audience for that story, in order to give your backers their best chance to get their money back and hopefully make a profit. No one will disagree that a good story is an essential starting point for accomplishing this. But another thing, too, the stronger the story, the more chances you can take with everything else. I think "Dr. Strangelove" is a good example of this. It was based on a very good suspense novel, "Red Alert," written by Peter George, a former RAF navigator. The ideas of the story and all its suspense were still there even when it was completely changed into black comedy.
Michel Ciment:
The end of "A Clockwork Orange" is different from the one in the burgess book.
Stanley Kubrick:
There are two different versions of the novel. One has an extra chapter. I had not read this version until I had virtually finished the screenplay. This extra chapter depicts the rehabilitation of Alex. But it is, as far as I am concerned, unconvincing and inconsistent with the style and intent of the book. I wouldn't be surprised to learn that the publisher had somehow prevailed upon Burgess to tack on the extra chapter against his better judgment, so the book would end on a more positive note. I certainly never gave any serious consideration to using it.
Michel Ciment:
In "A Clockwork Orange," Alex is an evil character, as Strangelove was, but Alex somehow seems less repellent.
Stanley Kubrick:
Alex has vitality, courage and intelligence, but you cannot fail to see that he is thoroughly evil. At the same time, there is a strange kind of psychological identification with him which gradually occurs, however much you may be repelled by his behaviour. I think this happens for a couple of reasons. First of all, Alex is always completely honest in his first-person narrative, perhaps even painfully so. Secondly, because on the unconscious level I suspect we all share certain aspects of Alex's personality.
Michel Ciment:
Are you attracted by evil characters?
Stanley Kubrick:
Of course I'm not, but they are good for stories. More people read books about the Nazis than about the UN. Newspapers headline bad news. The bad characters in a story can often be more interesting than the good ones.
Michel Ciment:
How do you explain the kind of fascination that Alex exercises on the audience?
Stanley Kubrick:
I think that it's probably because we can identify with Alex on the unconscious level. The psychiatrists tell us the unconscious has no conscience -- and perhaps in our unconscious we are all potential Alexes. It may be that only as a result of morality, the law and sometimes our own innate character that we do not become like him. Perhaps this makes some people feel uncomfortable and partly explains some of the controversy which has arisen over the film. Perhaps they are unable to accept this view of human nature. But I think you find much the same psychological phenomena at work in Shakespeare's "Richard III." You should feel nothing but dislike towards Richard, and yet when the role is well played, with a bit of humour and charm, you find yourself gradually making a similar kind of identification with him. Not because you sympathize with Richard's ambition or his actions, or that you like him or think people should behave like him but, as you watch the play, because he gradually works himself into your unconscious, and recognition occurs in the recesses of the mind. At the same time, I don't believe anyone leaves the theatre thinking Richard III or Alex are the sort of people one admires and would wish to be like.
Michel Ciment:
Some people have criticized the possible dangers of such an admiration.
Stanley Kubrick:
But it's not an admiration one feels, and I think that anyone who says so is completely wrong. I think this view tends to come from people who, however well-meaning and intelligent, hold committed positions in favour of broader and stricter censorship. No one is corrupted watching "A Clockwork Orange" any more than they are by watching "Richard III." "A Clockwork Orange" has received world-wide acclaim as an important work of art. It was chosen by the New York Film Critics as the Best Film of the year, and I received the Best Director award. It won the Italian David Donatello award. The Belgian film critics gave it their award. It won the German Spotlight award. It received four USA Oscar nominations and seven British Academy Award nominations. It won the Hugo award for the Best Science-Fiction movie. It was highly praised by Fellini, Bunuel and Kurosawa. It has also received favourable comment from educational, scientific, political, religious and even law-enforcement groups. I could go on. But the point I want to make is that the film has been accepted as a work of art, and no work of art has ever done social harm, though a great deal of social harm has been done by those who have sought to protect society against works of art which they regarded as dangerous.
Michel Ciment:
What was your attitude towards violence and eroticism in your film?
Stanley Kubrick:
The erotic decor in the film suggests a slightly futuristic period for the story. The assumption being that erotic art will eventually become popular art, and just as you now buy African wildlife paintings in Woolworth's, you may one day buy erotica. The violence in the story has to be given sufficient dramatic weight so that the moral dilemma it poses can be seen in the right context. It is absolutely essential that Alex is seen to be guilty of a terrible violence against society, so that when he is eventually transformed by the State into a harmless zombie you can reach a meaningful conclusion about the relative rights and wrongs. If we did not see Alex first as a brutal and merciless thug it would be too easy to agree that the State is involved in a worse evil in depriving him of his freedom to choose between good and evil. It must be clear that it is wrong to turn even unforgivably vicious criminals into vegetables, otherwise the story would fall into the same logical trap as did the old, anti-lynching Hollywood westerns which always nullified their theme by lynching an innocent person. Of course no one will disagree that you shouldn't lynch an innocent person -- but will they agree that it's just as bad to lynch a guilty person, perhaps even someone guilty of a horrible crime? And so it is with conditioning Alex.
Michel Ciment:
What is your opinion about the increasing presence of violence on the screen in recent years?
Stanley Kubrick:
There has always been violence in art. There is violence in the Bible, violence in Homer, violence in Shakespeare, and many psychiatrists believe that it serves as a catharsis rather than a model. I think the question of whether there has been an increase in screen violence and, if so, what effect this has had, is to a very great extent a media-defined issue. I know there are well-intentioned people who sincerely believe that films and TV contribute to violence, but almost all of the official studies of this question have concluded that there is no evidence to support this view. At the same time, I think the media tend to exploit the issue because it allows them to display and discuss the so-called harmful things from a lofty position of moral superiority. But the people who commit violent crime are not ordinary people who are transformed into vicious thugs by the wrong diet of films or TV. Rather, it is a fact that violent crime is invariably committed by people with a long record of anti-social behaviour, or by the unexpected blossoming of a psychopath who is described afterward as having been '...such a nice, quiet boy, but whose entire life, it is later realized, has been leading him inexorably to the terrible moment, and who would have found the final ostensible reason for his action if not in one thing then in another. In both instances immensely complicated social, economic and psychological forces are involved in the individual's criminal behaviour. The simplistic notion that films and TV can transform an otherwise innocent and good person into a criminal has strong overtones of the Salem witch trials. This notion is further encouraged by the criminals and their lawyers who hope for mitigation through this excuse. I am also surprised at the extremely illogical distinction that is so often drawn between harmful violence and the so-called harmless violence of, say, "Tom and Jerry" cartoons or James Bond movies, where often sadistic violence is presented as unadulterated fun. I hasten to say, I don't think that they contribute to violence either. Films and TV are also convenient whipping boys for politicians because they allow them to look away from the social and economic causes of crime, about which they are either unwilling or unable to do anything.
Michel Ciment:
Alex loves rape and Beethoven: what do you think that implies?
Stanley Kubrick:
I think this suggests the failure of culture to have any morally refining effect on society. Hitler loved good music and many top Nazis were cultured and sophisticated men but it didn't do them, or anyone else, much good.
Michel Ciment:
Contrary to Rousseau, do you believe that man is born bad and that society makes him worse?
Stanley Kubrick:
I wouldn't put it like that. I think that when Rousseau transferred the concept of original sin from man to society, he was responsible for a lot of misguided social thinking which followed. I don't think that man is what he is because of an imperfectly structured society, but rather that society is imperfectly structured because of the nature of man. No philosophy based on an incorrect view of the nature of man is likely to produce social good.
Michel Ciment:
Your film deals with the limits of power and freedom.
Stanley Kubrick:
The film explores the difficulties of reconciling the conflict between individual freedom and social order. Alex exercises his freedom to be a vicious thug until the State turns him into a harmless zombie no longer able to choose between good and evil. One of the conclusions of the film is, of course, that there are limits to which society should go in maintaining law and order. Society should not do the wrong thing for the right reason, even though it frequently does the right thing for the wrong reason.
Michel Ciment:
What attracted you in Burgess's novel?
Stanley Kubrick:
Everything. The plot, the characters, the ideas. I was also interested in how close the story was to fairy tales and myths, particularly in its deliberately heavy use of coincidence and plot symmetry.
Michel Ciment:
In your films, you seem to be critical of all political factions. Would you define yourself as a pessimist or anarchist?
Stanley Kubrick: I am certainly not an anarchist, and I don't think of myself as a pessimist. I believe very strongly in parliamentary democracy, and I am of the opinion that the power and authority of the State should be optimized and exercized only to the extent that is required to keep things civilized. History has shown us what happens when you try to make society too civilized, or do too good a job of eliminating undesirable elements. It also shows the tragic fallacy in the belief that the destruction of democratic institutions will cause better ones to arise in their place. Certainly one of the most challenging and difficult social problems we face today is, how can the State maintain the necessary degree of control over society without becoming repressive, and how can it achieve this in the face of an increasingly impatient electorate who are beginning to regard legal and political solutions as too slow? The State sees the spectre looming ahead of terrorism and anarchy, and this increases the risk of its over-reaction and a reduction in our freedom. As with everything else in life, it is a matter of groping for the right balance, and a certain amount of luck.
© 1997 - Ignasi A. Mulet Alegre
Michel Ciment:
Since so many different interpretations have been offered about "A Clockwork Orange," how do you see your own film?
Stanley Kubrick:
The central idea of the film has to do with the question of free-will. Do we lose our humanity if we are deprived of the choice between good and evil? Do we become, as the title suggests, A Clockwork Orange? Recent experiments in conditioning and mind control on volunteer prisoners in America have taken this question out of the realm of science-fiction. At the same time, I think the dramatic impact of the film has principally to do with the extraordinary character of Alex, as conceived by Anthony Burgess in his brilliant and original novel. Aaron Stern, the former head of the MPAA rating board in America, who is also a practising psychiatrist, has suggested that Alex represents the unconscious: man in his natural state. After he is given the Ludovico 'cure' he has been 'civilized', and the sickness that follows may be viewed as the neurosis imposed by society.
Michel Ciment:
The chaplain is a central character in the film.
Stanley Kubrick:
Although he is partially concealed behind a satirical disguise, the prison chaplain, played by Godfrey Quigley, is the moral voice of the film. He challenges the ruthless opportunism of the State in pursuing its programme to reform criminals through psychological conditioning. A very delicate balance had to be achieved in Godfrey's performance between his somewhat comical image and the important ideas he is called upon to express.
Michel Ciment:
On a political level the end of the film shows an alliance between the hoodlum and the authorities.
Stanley Kubrick:
The government eventually resorts to the employment of the cruellest and most violent members of the society to control everyone else -- not an altogether new or untried idea. In this sense, Alex's last line, 'I was cured all right,' might be seen in the same light as Dr. Strangelove's exit line, 'Mein Fuehrer, I can walk.' The final images of Alex as the spoon-fed child of a corrupt, totalitarian society, and Strangelove's rebirth after his miraculous recovery from a crippling disease, seem to work well both dramatically and as expressions of an idea.
Michel Ciment:
What amuses me is that many reviewers speak of this society as a communist one, whereas there is no reason to think it is.
Stanley Kubrick:
The Minister, played by Anthony Sharp, is clearly a figure of the Right. The writer, Patrick Magee, is a lunatic of the Left. 'The common people must be led, driven, pushed!' he pants into the telephone. 'They will sell their liberty for an easier life!'
Michel Ciment:
But these could be the very words of a fascist.
Stanley Kubrick:
Yes, of course. They differ only in their dogma. Their means and ends are hardly distinguishable.
Michel Ciment:
You deal with the violence in a way that appears to distance it.
Stanley Kubrick:
If this occurs it may be because the story both in the novel and the film is told by Alex, and everything that happens is seen through his eyes. Since he has his own rather special way of seeing what he does, this may have some effect in distancing the violence. Some people have asserted that this made the violence attractive. I think this view is totally incorrect.
Michel Ciment:
The cat lady was much older in the book. Why did you change her age?
Stanley Kubrick:
She fulfills the same purpose as she did in the novel, but I think she may be a little more interesting in the film. She is younger, it is true, but she is just as unsympathetic and unwisely aggressive.
Michel Ciment:
You also eliminated the murder that Alex committed in prison.
Stanley Kubrick:
That had to do entirely with the problem of length. The film is, anyway, about two hours and seventeen minutes long, and it didn't seem to be a necessary scene.
Michel Ciment:
Alex is no longer a teenager in the film.
Stanley Kubrick:
Malcolm McDowell's age is not that easy to judge in the film, and he was, without the slightest doubt, the best actor for the part. It might have been nicer if Malcolm had been seventeen, but another seventeen-year-old actor without Malcolm's extra- ordinary talent would not have been better.
Michel Ciment:
Somehow the prison is the most acceptable place in the whole movie. And the warder, who is a typical British figure, is more appealing than a lot of other characters.
Stanley Kubrick:
The prison warder, played by the late Michael Bates, is an obsolete servant of the new order. He copes very poorly with the problems around him, understanding neither the criminals nor the reformers. For all his shouting and bullying, though, he is less of a villain than his trendier and more sophisticated masters.
Michel Ciment:
In your films the State is worse than the criminals but the scientists are worse than the State.
Stanley Kubrick:
I wouldn't put it that way. Modern science seems to be very dangerous because it has given us the power to destroy ourselves before we know how to handle it. On the other hand, it is foolish to blame science for its discoveries, and in any case, we cannot control science. Who would do it, anyway? Politicians are certainly not qualified to make the necessary technical decisions. Prior to the first atomic bomb tests at Los Alamos, a small group of physicists working on the project argued against the test because they thought there was a possibility that the detonation of the bomb might cause a chain reaction which would destroy the entire planet. But the majority of the physicists disagreed with them and recommended that the test be carried out. The decision to ignore this dire warning and proceed with the test was made by political and military minds who could certainly not understand the physics involved in either side of the argument. One would have thought that if even a minority of the physicians thought the test might destroy the Earth no sane men would decide to carry it out. The fact that the Earth is still here doesn't alter the mind-boggling decision which was made at that time.
Michel Ciment:
Alex has a close relationship with art (Beethoven) which the other characters do not have. The cat lady seems interested in modern art but, in fact, is indifferent. What is your own attitude towards modern art?
Stanley Kubrick:
I think modern art's almost total pre-occupation with subjectivism has led to anarchy and sterility in the arts. The notion that reality exists only in the artist's mind, and that the thing which simpler souls had for so long believed to be reality is only an illusion, was initially an invigorating force, but it eventually led to a lot of highly original, very personal and extremely uninteresting work. In Cocteau's film "Orpheus," the poet asks what he should do. 'Astonish me,' he is told. Very little of modern art does that -- certainly not in the sense that a great work of art can make you wonder how its creation was accomplished by a mere mortal. Be that as it may, films, unfortunately, don't have this problem at all. From the start, they have played it as safe as possible, and no one can blame the generally dull state of the movies on too much originality and subjectivism.
Michel Ciment:
Well, don't you think that your films might be called original?
Stanley Kubrick:
I'm talking about major innovations in form, not about quality, content, or ideas, and in this respect I think my films are still not very far from the traditional form and structure which has moved sideways since the beginning of sound.
Michel Ciment:
The film makes a reference to Christ.
Stanley Kubrick:
Alex brutally fantasizes about being a Roman guard at the Crucifixion while he feigns Bible study in the prison library. A few moments later, he tells the prison chaplain that he wants to be good. The chaplain, who is the only decent man in the story, is taken in by Alex's phoney contrition. The scene is still another example of the blackness of Alex's soul.
Michel Ciment:
But why did you shoot this crucifixion scene like a bad hollywood movie?
Stanley Kubrick:
I thought Alex would have imagined it that way. That's why he uses the American accent we've heard so many times before in biblical movies when he shouts, 'Move on there!'
Michel Ciment:
Do you think there is any relationship between this and your interpretation of antiquity in "Spartacus"?
Stanley Kubrick:
None at all. In "Spartacus" I tried with only limited success to make the film as real as possible but I was up against a pretty dumb script which was rarely faithful to what is known about Spartacus. History tells us he twice led his victorious slave army to the northern borders of Italy, and could quite easily have gotten out of the country. But he didn't, and instead he led his army back to pillage Roman cities. What the reasons were for this would have been the most interesting question the film might have pondered. Did the intentions of the rebellion change? Did Spartacus lose control of his leaders who by now may have been more interested in the spoils of war than in freedom? In the film, Spartacus was prevented from escape by the silly contrivance of a pirate leader who reneged on a deal to take the slave army away in his ships. If I ever needed any convincing of the limits of persuasion a director can have on a film where someone else is the producer and he is merely the highest-paid member of the crew, "Spartacus" provided proof to last a lifetime.
Michel Ciment:
You use technical devices which break the narrative fluidity, and the illusion of reality: accelerated action, slow motion, and an unusual reliance on ultra-wide angle lenses.
Stanley Kubrick:
I tried to find something like a cinematic equivalent of Burgess's literary style, and Alex's highly subjective view of things. But the style of any film has to do more with intuition than with analysis. I think there is a great deal of oversimplified over-conceptualizing by some film-makers which is encouraged by the way inter- viewers formulate their questions, and it passes for serious and useful thought and seems to inspire confidence in every direction.
Michel Ciment:
Why did you shoot the orgy in skip-frame high-speed motion?
Stanley Kubrick:
It seemed to me a good way to satirize what had become the fairly common use of slow-motion to solemnize this sort of thing, and turn it into 'art.' The William Tell Overture also seemed a good musical joke to counter the standard Bach accompaniment.
Michel Ciment:
The first three sequences are very striking, employing the same zoom pull-back shots, starting from a close-up and ending on the whole set. How do you prepare this kind of shot?
Stanley Kubrick:
There was no special preparation. I find that, with very few exceptions, it's important to save your cinematic ideas until you have rehearsed the scene in the actual place you're going to film it. The first thing to do is to rehearse the scene until something happens that is worth putting on film -- only then should you worry about how to film it. The what must always precede the how. No matter how carefully you have pre-planned a scene, when you actually come to the time of shooting, and you have the actors on the set, having learned their lines, dressed in the right clothes, and you have the benefit of knowing what you have already got on film, there is usually some adjustment that has to be made to the scene in order to achieve the best result.
Michel Ciment:
There are many sequences -- for example Alex's return to his parents' house or the prison -- in which the camera is very still and the editing reduced to a minimum.
Stanley Kubrick:
I think there should always be a reason for making a cut. If a scene plays well in one camera set up and there is no reason to cut, then I don't cut. I try to avoid a mechanical cutting rhythm which dissipates much of the effect of editing.
Michel Ciment: You did a lot of hand-held camera work yourself, especially for the action scenes.
Stanley Kubrick: I like to do hand-held shooting myself. When the camera is on a dolly you can go over the action of the scene with the camera operator and show him the composition that you want at each point in the take. But you can't do this when the camera is hand-held. Sometimes there are certain effects which can only be achieved with a hand-held camera, and sometimes you hand hold it because there's no other way to move through a confined space or over obstacles.
Michel Ciment:
Most of the shooting was done on location.
Stanley Kubrick:
The entire film was shot on location with the exception of four sets which were built in a small factory which we rented for the production. Nothing was filmed in a studio. The four sets we had to build were the Korova Milk Bar, the Prison Check-in, the Writer's Bathroom, and the Entrance Hall to his house. In the latter case, we built this small set in a tent in the back garden of the house in which we filmed the interiors of the writer's house. The locations were supposed to look a bit futuristic, and we did our preliminary location search by looking through back issues of several British architectural magazines, getting our leads for most of the locations that way.
Michel Ciment:
Was the idea of the Milk Bar yours?
Stanley Kubrick:
Part of it was. I had seen an exhibition of sculpture which displayed female figures as furniture. From this came the idea for the fibreglass nude figures which were used as tables in the Milk Bar. The late John Barry, who was the film's Production Designer, designed the set. To get the poses right for the sculptress who modelled the figures, John photographed a nude model in as many positions as he could imagine would make a table. There are fewer positions than you might think.
Michel Ciment:
It was with "Dr. Strangelove" that you really started to use music as a cultural reference. What is your attitude to film music in general?
Stanley Kubrick:
Unless you want a pop score, I don't see any reason not to avail yourself of the great orchestral music of the past and present. This music may be used in its correct form or synthesized, as was done with the Beethoven for some scenes in "A Clockwork Orange." But there doesn't seem to be much point in hiring a composer who, however good he may be, is not a Mozart or a Beethoven, when you have such a vast choice of existing orchestral music which includes contemporary and avant-garde work. Doing it this way gives you the opportunity to experiment with the music early in the editing phase, and in some instances to cut the scene to the music. This is not something you can easily do in the normal sequence of events.
Michel Ciment:
Was the music chosen after the film was completed? And on which grounds?
Stanley Kubrick:
Most of it was, but I had some of it in mind from the start. It is a bit difficult to say why you choose a piece of music. Ideas occur to you, you try them out, and at some point you decide that you're doing the right thing. It's a matter of taste, luck and imagination, as is virtually everything else connected with making a film.
Michel Ciment:
Is your taste for music linked to the Viennese origins of your father?
Stanley Kubrick:
My father was born in America, and he is a doctor living in California. His mother was Rumanian, and his father came from a place which today is in Poland. So I think my musical tastes were probably acquired, not inherited.
Michel Ciment:
It would appear that you intended to make a trilogy about the future in your last three films. Have you thought about this?
Stanley Kubrick:
There is no deliberate pattern to the stories that I have chosen to make into films. About the only factor at work each time is that I try not to repeat myself. Since you can't be systematic about finding a story to film, I read anything. In addition to books which sound interesting, I rely on luck and accident to eventually bring me together with the book. I read as unselfconsciously as I can to avoid interfering with the story's emotional impact. If the book proves to be exciting and suggests itself as a possible choice, subsequent readings are done much more carefully, usually with notes taken at the same time. Should the book finally be what I want, it is very important for me to retain, during the subsequent phases of making the film, my impressions of the first reading. After you've been working on a film, perhaps for more than a year, everything about it tends to become so familiar that you are in danger of not seeing the forest for the trees. That's why it's so important to be able to use this first impression as the criterion for making decisions about the story much later on. Whoever the director may be, and however perceptively he has filmed and edited his movie, he can never have the same experience that the audience has when it sees the film for the first time. The director's first time is the first reading of the story, and the impressions and excitement of this event have to last through to the final work on the movie. Fortunately I've never chosen a story where the excitement hasn't gone the distance. It would be a terrible thing if it didn't.
Michel Ciment:
What were the various projects that you have dropped?
Stanley Kubrick: One was a screenplay of Stefan Zweig's story, "The Burning Secret," which Calder Willingham and I wrote in the middle fifties, for Dore Schary at MGM, after I made "The Killing." The story is about a mother who goes away on vacation without her husband but accompanied by her young son. At the resort hotel where they are staying, she is seduced by an attractive gentleman she meets there. Her son discovers this but when mother and son eventually return home the boy lies at a crucial moment to prevent his father from discovering the truth. It's a good story but I don't know how good the screenplay was. A few years later, I wrote an incomplete screenplay about Mosby's Rangers, a Southern guerilla force in the American Civil War. Around that time I also wrote a screenplay called "I Stole 16 Million Dollars," based on the autobiography of Herbert Emmerson Wilson, a famous safe-cracker. It was written for Kirk Douglas who didn't like it, and that was the end of it. I must confess I have never subsequently been interested in any of these screenplays. There is also a novel by Arthur Schnitzler, "Rhapsody: A Dream Novel," which I intend to do but on which I have not yet started to work. It's a difficult book to describe -- what good book isn't? It explores the sexual ambivalence of a happy marriage, and tries to equate the importance of sexual dreams and might-have-beens with reality. All of Schnitzler's work is psychologically brilliant, and he was greatly admired by Freud, who once wrote to him, apologizing for having always avoided a personal meeting. Making a joke (a joke?), Freud said this was because he was afraid of the popular superstition that if you meet your Doppelganger (double) you would die.
Michel Ciment:
Did you make a film for American television around 1960 about Lincoln?
Stanley Kubrick:
It was in the early fifties, and I only worked for about a week doing some second unit shots in Kentucky for the producer, Richard de Rochemont.
Michel Ciment:
Your films seem to show an attraction for Germany: the German music, the characters of "Dr. Strangelove," Professor Zempf in "Lolita."
Stanley Kubrick:
I wouldn't include German music as a relevant part of that group, nor would I say that I'm attracted but, rather, that I share the fairly widespread fascination with the horror of the Nazi period. Strangelove and Zempf are just parodies of movie cliches about Nazis.
Michel Ciment:
You seem to be very interested in language. "Lolita" and "A Clockwork Orange" are two films where the manipulation of words play an essential role.
Stanley Kubrick:
Yes, of course I am. But my principal interest in "A Clockwork Orange" wasn't the language, however brilliant it was, but rather, the story, the characters and the ideas. Of course the language is a very important part of the novel, and it contributed a lot to the film, too. I think "A Clockwork Orange" is one of the very few books where a writer has played with syntax and introduced new words where it worked. In a film, however, I think the images, the music, the editing and the emotions of the actors are the principal tools you have to work with. Language is important but I would put it after those elements. It should even be possible to do a film which isn't gimmicky without using any dialogue at all. Unfortunately, there has been very little experimentation with the form of film stories, except in avant-garde cinema where, unfortunately, there is too little technique and expertise present to show very much. As far as I'm concerned, the most memorable scenes in the best films are those which are built predominantly of images and music.
Michel Ciment:
We could find that kind of attempt in some underground american films.
Stanley Kubrick:
Yes, of course, but as I said, they lack the technique to prove very much.
The powerful things that you remember may be the images but perhaps their strength comes from the words that precede them. Alex'S first-person narration at the beginning of the film increases the power of the images.
You can't make a rule that says that words are never more useful than images. And, of course, in the scene you refer to, it would be rather difficult to do without words to express Alex's thoughts. There is an old screenplay adage that says if you have to use voice-over it means there's something wrong with the script. I'm quite certain this is not true, and when thoughts are to be conveyed, especially when they are of a nature which one would not say to another person, there is no other good alternative.
Michel Ciment:
This time you wrote your script alone. How would you equate the problems of writing a screenplay to writing a novel?
Stanley Kubrick:
Writing a screenplay is a very different thing than writing a novel or an original story. A good story is a kind of a miracle, and I think that is the way I would describe Burgess's achievement with the novel. "A Clockwork Orange" has a wonderful plot, strong characters and clear philosophy. When you can write a book like that, you've really done something. On the other hand, writing the screenplay of the book is much more of a logical process -- something between writing and breaking a code. It does not require the inspiration or the invention of the novelist. I'm not saying it's easy to write a good screenplay. It certainly isn't, and a lot of fine novels have been ruined in the process. However serious your intentions may be, and however important you think are the ideas of the story, the enormous cost of a movie makes it necessary to reach the largest potential audience for that story, in order to give your backers their best chance to get their money back and hopefully make a profit. No one will disagree that a good story is an essential starting point for accomplishing this. But another thing, too, the stronger the story, the more chances you can take with everything else. I think "Dr. Strangelove" is a good example of this. It was based on a very good suspense novel, "Red Alert," written by Peter George, a former RAF navigator. The ideas of the story and all its suspense were still there even when it was completely changed into black comedy.
Michel Ciment:
The end of "A Clockwork Orange" is different from the one in the burgess book.
Stanley Kubrick:
There are two different versions of the novel. One has an extra chapter. I had not read this version until I had virtually finished the screenplay. This extra chapter depicts the rehabilitation of Alex. But it is, as far as I am concerned, unconvincing and inconsistent with the style and intent of the book. I wouldn't be surprised to learn that the publisher had somehow prevailed upon Burgess to tack on the extra chapter against his better judgment, so the book would end on a more positive note. I certainly never gave any serious consideration to using it.
Michel Ciment:
In "A Clockwork Orange," Alex is an evil character, as Strangelove was, but Alex somehow seems less repellent.
Stanley Kubrick:
Alex has vitality, courage and intelligence, but you cannot fail to see that he is thoroughly evil. At the same time, there is a strange kind of psychological identification with him which gradually occurs, however much you may be repelled by his behaviour. I think this happens for a couple of reasons. First of all, Alex is always completely honest in his first-person narrative, perhaps even painfully so. Secondly, because on the unconscious level I suspect we all share certain aspects of Alex's personality.
Michel Ciment:
Are you attracted by evil characters?
Stanley Kubrick:
Of course I'm not, but they are good for stories. More people read books about the Nazis than about the UN. Newspapers headline bad news. The bad characters in a story can often be more interesting than the good ones.
Michel Ciment:
How do you explain the kind of fascination that Alex exercises on the audience?
Stanley Kubrick:
I think that it's probably because we can identify with Alex on the unconscious level. The psychiatrists tell us the unconscious has no conscience -- and perhaps in our unconscious we are all potential Alexes. It may be that only as a result of morality, the law and sometimes our own innate character that we do not become like him. Perhaps this makes some people feel uncomfortable and partly explains some of the controversy which has arisen over the film. Perhaps they are unable to accept this view of human nature. But I think you find much the same psychological phenomena at work in Shakespeare's "Richard III." You should feel nothing but dislike towards Richard, and yet when the role is well played, with a bit of humour and charm, you find yourself gradually making a similar kind of identification with him. Not because you sympathize with Richard's ambition or his actions, or that you like him or think people should behave like him but, as you watch the play, because he gradually works himself into your unconscious, and recognition occurs in the recesses of the mind. At the same time, I don't believe anyone leaves the theatre thinking Richard III or Alex are the sort of people one admires and would wish to be like.
Michel Ciment:
Some people have criticized the possible dangers of such an admiration.
Stanley Kubrick:
But it's not an admiration one feels, and I think that anyone who says so is completely wrong. I think this view tends to come from people who, however well-meaning and intelligent, hold committed positions in favour of broader and stricter censorship. No one is corrupted watching "A Clockwork Orange" any more than they are by watching "Richard III." "A Clockwork Orange" has received world-wide acclaim as an important work of art. It was chosen by the New York Film Critics as the Best Film of the year, and I received the Best Director award. It won the Italian David Donatello award. The Belgian film critics gave it their award. It won the German Spotlight award. It received four USA Oscar nominations and seven British Academy Award nominations. It won the Hugo award for the Best Science-Fiction movie. It was highly praised by Fellini, Bunuel and Kurosawa. It has also received favourable comment from educational, scientific, political, religious and even law-enforcement groups. I could go on. But the point I want to make is that the film has been accepted as a work of art, and no work of art has ever done social harm, though a great deal of social harm has been done by those who have sought to protect society against works of art which they regarded as dangerous.
Michel Ciment:
What was your attitude towards violence and eroticism in your film?
Stanley Kubrick:
The erotic decor in the film suggests a slightly futuristic period for the story. The assumption being that erotic art will eventually become popular art, and just as you now buy African wildlife paintings in Woolworth's, you may one day buy erotica. The violence in the story has to be given sufficient dramatic weight so that the moral dilemma it poses can be seen in the right context. It is absolutely essential that Alex is seen to be guilty of a terrible violence against society, so that when he is eventually transformed by the State into a harmless zombie you can reach a meaningful conclusion about the relative rights and wrongs. If we did not see Alex first as a brutal and merciless thug it would be too easy to agree that the State is involved in a worse evil in depriving him of his freedom to choose between good and evil. It must be clear that it is wrong to turn even unforgivably vicious criminals into vegetables, otherwise the story would fall into the same logical trap as did the old, anti-lynching Hollywood westerns which always nullified their theme by lynching an innocent person. Of course no one will disagree that you shouldn't lynch an innocent person -- but will they agree that it's just as bad to lynch a guilty person, perhaps even someone guilty of a horrible crime? And so it is with conditioning Alex.
Michel Ciment:
What is your opinion about the increasing presence of violence on the screen in recent years?
Stanley Kubrick:
There has always been violence in art. There is violence in the Bible, violence in Homer, violence in Shakespeare, and many psychiatrists believe that it serves as a catharsis rather than a model. I think the question of whether there has been an increase in screen violence and, if so, what effect this has had, is to a very great extent a media-defined issue. I know there are well-intentioned people who sincerely believe that films and TV contribute to violence, but almost all of the official studies of this question have concluded that there is no evidence to support this view. At the same time, I think the media tend to exploit the issue because it allows them to display and discuss the so-called harmful things from a lofty position of moral superiority. But the people who commit violent crime are not ordinary people who are transformed into vicious thugs by the wrong diet of films or TV. Rather, it is a fact that violent crime is invariably committed by people with a long record of anti-social behaviour, or by the unexpected blossoming of a psychopath who is described afterward as having been '...such a nice, quiet boy, but whose entire life, it is later realized, has been leading him inexorably to the terrible moment, and who would have found the final ostensible reason for his action if not in one thing then in another. In both instances immensely complicated social, economic and psychological forces are involved in the individual's criminal behaviour. The simplistic notion that films and TV can transform an otherwise innocent and good person into a criminal has strong overtones of the Salem witch trials. This notion is further encouraged by the criminals and their lawyers who hope for mitigation through this excuse. I am also surprised at the extremely illogical distinction that is so often drawn between harmful violence and the so-called harmless violence of, say, "Tom and Jerry" cartoons or James Bond movies, where often sadistic violence is presented as unadulterated fun. I hasten to say, I don't think that they contribute to violence either. Films and TV are also convenient whipping boys for politicians because they allow them to look away from the social and economic causes of crime, about which they are either unwilling or unable to do anything.
Michel Ciment:
Alex loves rape and Beethoven: what do you think that implies?
Stanley Kubrick:
I think this suggests the failure of culture to have any morally refining effect on society. Hitler loved good music and many top Nazis were cultured and sophisticated men but it didn't do them, or anyone else, much good.
Michel Ciment:
Contrary to Rousseau, do you believe that man is born bad and that society makes him worse?
Stanley Kubrick:
I wouldn't put it like that. I think that when Rousseau transferred the concept of original sin from man to society, he was responsible for a lot of misguided social thinking which followed. I don't think that man is what he is because of an imperfectly structured society, but rather that society is imperfectly structured because of the nature of man. No philosophy based on an incorrect view of the nature of man is likely to produce social good.
Michel Ciment:
Your film deals with the limits of power and freedom.
Stanley Kubrick:
The film explores the difficulties of reconciling the conflict between individual freedom and social order. Alex exercises his freedom to be a vicious thug until the State turns him into a harmless zombie no longer able to choose between good and evil. One of the conclusions of the film is, of course, that there are limits to which society should go in maintaining law and order. Society should not do the wrong thing for the right reason, even though it frequently does the right thing for the wrong reason.
Michel Ciment:
What attracted you in Burgess's novel?
Stanley Kubrick:
Everything. The plot, the characters, the ideas. I was also interested in how close the story was to fairy tales and myths, particularly in its deliberately heavy use of coincidence and plot symmetry.
Michel Ciment:
In your films, you seem to be critical of all political factions. Would you define yourself as a pessimist or anarchist?
Stanley Kubrick: I am certainly not an anarchist, and I don't think of myself as a pessimist. I believe very strongly in parliamentary democracy, and I am of the opinion that the power and authority of the State should be optimized and exercized only to the extent that is required to keep things civilized. History has shown us what happens when you try to make society too civilized, or do too good a job of eliminating undesirable elements. It also shows the tragic fallacy in the belief that the destruction of democratic institutions will cause better ones to arise in their place. Certainly one of the most challenging and difficult social problems we face today is, how can the State maintain the necessary degree of control over society without becoming repressive, and how can it achieve this in the face of an increasingly impatient electorate who are beginning to regard legal and political solutions as too slow? The State sees the spectre looming ahead of terrorism and anarchy, and this increases the risk of its over-reaction and a reduction in our freedom. As with everything else in life, it is a matter of groping for the right balance, and a certain amount of luck.
© 1997 - Ignasi A. Mulet Alegre
Assinar:
Comentários (Atom)
LIBER-LIBER
Spinoza TTP. Latim (Gallica)
Textos Revolução Inglêsa
Spinoza Textos em Inglês
Hyper Spinoza
Ragion di Stato
Aos leitores
Este espaço é uma tentativa de colocar à disposição de pessoas interessadas alguns textos teóricos, certas observações críticas,
análises minhas e de outros.
Celso Daniel
Moscou 1936
Arquivo do blog
-
▼
2007
(99)
-
▼
março
(18)
- EPTV-Campinas, no Cliping Unicamp
- Acabei de falar com a Rádio Bandeirantes de São Pa...
- Este "eu quero" rendeu ontem jantar no Piantella, ...
- No Blog de Marta Bellini, a pessoa que nao vemos h...
- Para quem quer se deliciar com o texto de Hegel....
- Alguns amigos, colegas, inimigos e indiferentes, c...
- Sem título
- No Blog Perolas de Alvaro Caputo....
- 01/03/2007 - 13h42Carga tributária bate recorde e ...
- Kalepa ta kala...como e dificil ser corinthiano...
- O crepúsculo das Universidades públicas estaduais ...
- O colega Marcio Pochmann, da Unicamp.
- Envoyant l'aveuglement et la misère de l'homme, et...
- Formas diversas do sublime?
- E a critica que faz rir, devolvendo o siso...
- Para o debate, informaçoes sobre o liberalismo pra...
- Lagrima sobre a necessidade
- Bom dia Brasil!
-
►
fevereiro
(81)
- Saudade...
- Um dia, quem sabe, o Brasil vai assumir estes mand...
- Para os amigos e os nao muito amigos, flores, as o...
- Sem título
- Entrevista quando ocorreu o lançamento do livro O ...
- Outra antiga entrevista a Radio Onu, sobre a fuga ...
- Uma antiga entrevista, antes que a Universidade do...
- Uma excelente entrevista com Stanley Kubrick sobre...
-
▼
março
(18)



.jpg)