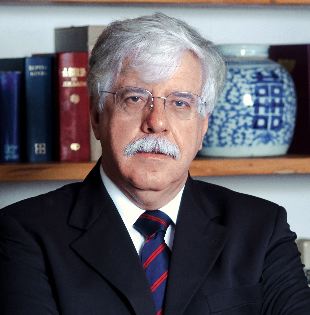Instituto Humanitas-Unisinos.
IHU-On Line (17/10/2005) Edição nº 160
Entrevista com Roberto Romano
Para Roberto Romano da Silva, professor na Universidade Estadual de Campinas, a ética não entra como programa. Ela é um processo e também um conjunto não homogêneo (na verdade, contraditório) de propostas doutrinárias e novas formas de comportamento e valores que permanecem, vindos de antigas formas sociais, portanto seria um grave erro e um genocídio impor uma ética a um Brasil multicultural. Romano, que concedeu entrevista a seguir à IHU On-Line por e-mail, cursou o doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), França. É Professor Titular da Unicamp. Escreveu,entre outros, os seguintes livros Brasil Igreja contra Estado. Crítica ao populismo católico. São Paulo: Kairós, 1979; Conservadorismo Romântico. 2ª ed. São Paulo: Ed. UNESP, 1997. Moral e Ciência. A monstruosidade no século XVIII. São Paulo: Senac Ed., 2002; e O Desafio do Islã. São Paulo: Perspectiva, 2004. De Roberto Romano já publicamos três entrevistas, uma na 39ª edição de IHU On-Line, de 21 de outubro de 2002, intitulada O Brasil e a democracia, outra na 130ª edição, de 28 de fevereiro de 2005, intitulada “O projeto é um primor de formalismo, de um lado, e de populismo, de outro”, e outra que realizamos com ele na 149ª edição, de 1º de agosto de 2005, chamada A má consciência transformada em má fé.
IHU On-Line - Em que medida a crise brasileira é também uma crise do modelo de democracia que vivemos? Como a crise política atual desvenda as fragilidades do modelo de democracia instaurado?
Roberto Romano – Dificilmente o Estado e a sociedade brasileiros entrariam na qualificação de formas democráticas. M. Halbwachs [1] , atilado comentador de Rousseau, na sua edição crítica do Contrato Social afirmava em 1943 que no século XX raros Estados seriam democráticos se o modelo rousseoísta fosse usado como o padrão analítico. É preciso apurar, hoje, as noções de democracia, federalismo, sociedade civil etc., se quisermos pensar o mundo brasileiro, por exemplo, o federalismo. O nosso modo de unir os estados tem pouco de “federalismo” e muito de Império. Tomemos a indicação da jurista Anna Gamper que analisa as formas federativas para apontar as fraturas no projeto da União Européia: “Por unanimidade, as definições de federalismo reconhecem o fundamento da palavra latina foedus, que significa pacto. Todas as teorias concordam que federalismo é um princípio que se aplica ao sistema que consiste em, pelo menos, duas partes constituintes, não totalmente independentes que, juntas, formam todo o sistema. O federalismo, pois, combina o princípio da unidade e da diversidade (concordantia discors). As partes constituintes devem ter poderes próprios e devem ser admitidas com base no âmbito federal” [2]. Da definição escolhida pela autora, tomemos a parte onde ela afirma a exigência sine qua non, a que declara o seguinte: “as unidades constituintes devem ter poderes próprios”. Desde a Independência, o Poder Central brasileiro monopoliza todas as prerrogativas do Estado e não as partilha com os demais entes, supostamente unidos hoje por laços de federação. Se realmente em nosso caso foedus significasse pacto, teríamos graus crescentes de autonomia, dos municípios ao Poder Central. Como o Império herdou as terras coloniais portuguesas — imensas terras — para ele o mais urgente era garantir as fronteiras do enorme país e impedir a secessão das províncias. Para tal fito, a repressão militar foi a tônica, o que se tornou dramático durante a Regência, quando várias unidades levantaram-se em busca não de autonomia, mas de plena soberania.
Pouca autonomia e uniformização
A história do Brasil, desde aquela época até 1932 (com a Revolução Constitucionalista de São Paulo), tem sido a crônica de um controle férreo das províncias, depois estados, pelo Poder Central. É como se cada Estado, sobretudo os que se levantaram em armas (Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Bahia, São Paulo, para recordar apenas alguns deles) fosse submetido à invasão permanente dos que dirigem o todo nacional. Resulta que a nossa “Federação” concede pouquíssima autonomia aos estados e municípios, em todos os planos da vida política, econômica, etc. De Brasília, leis uniformes regulamentam até os detalhes da ordem nacional, desconhecendo deliberadamente as diferenças regionais, culturais, geográficas etc. Do Oiapoque ao Chuí, há uma uniformização gigantesca que obriga cada uma das regiões a se pautar pelo tempo longo da enorme burocracia federal, perdendo-se tempo precioso para o experimento e modificações das políticas públicas em plano particularizado. Enquanto em outras federações, como a norte-americana (e apesar do grande centralismo daquele país) vigoram diversas leis, penais, educacionais, tecnológicos etc., no Brasil, a mão de ferro do Estado Federal (nos três poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário) controla, dirige, pune e premia os Estados, segundo sustentem os interesses dos ocupantes temporários de Brasília. Para realizar semelhante controle, as oligarquias regionais surgem como operadores de face dupla: servem para trazer os planos do Poder Central aos estados e para levar ao mesmo poder as aspirações de estados e municípios. O lugar onde as negociações entre os dois níveis (Central e Estadual) ocorrem, normalmente é o Congresso. Ali, Presidência e Ministérios buscam apoio aos seus planos, inclusive e, sobretudo, de leis. É impossível conseguir recursos orçamentários, por exemplo, sem as “negociações” e nelas o modus operandi identifica-se ao conhecido “é dando que se recebe”. Assim, os planos federais de inclusão social e democratização societária patinam na enorme generalidade do “grande Brasil”, enquanto as unidades aguardam as “providências” de uma burocracia pesada, incapaz de entender os vários ritmos e formas de vida e pensamento regionais.
A quase mendicância ao Poder Central
Nos impostos, essa concentração irracional de poderes deixa estados e municípios sempre à mingua de recursos. Verbas provenientes de impostos ou a eles ligadas, como no caso das exportações, não são repassadas às unidades ou não são repassadas em tempo certo, permanecendo nas mãos dos Ministérios Econômicos. Governadores e prefeitos são reduzidos à quase mendicância do Poder Central. Não ignoro as dificuldades gigantescas, se quisermos modificar esta forma de relacionamento federativo em nosso país. Valho-me novamente da jurista Anna Gamper: “A economia política do federalismo e o federalismo fiscal tornaram-se um dos mais extensos e difíceis campos interdisciplinares da pesquisa sobre o federalismo, em que os conceitos de assimetria, competição e cooperação desempenham papel importante. Também é o campo em que os níveis inferiores que não participam do sistema, como os municípios, são admitidos excepcionalmente a entrar na arena como “partes terceiras”. As relações financeiras entre a unidade central e as partes mais baixas e as terceiras partes são de suma importância para o sistema. A estabilidade financeira e a igualização, bem como a cooperação entre as partes da base são obrigatórias para um efetivo sistema federal. A distribuição das competências não é completa se não existem regras que dividem os poderes financeiros entre o poder central e as unidades constituintes. Se as partes constituintes que precisam de recursos para financiar suas responsabilidades as recebem sobretudo de subsídios que são a elas alocados pela unidade central (e devem ser acompanhados por certas condições que restringem seu poder de gasto) o arranjo fiscal parecerá um sistema de estado não-federal e não tanto um estado federal que pressupõe teoricamente graus de autonomia financeira das partes constituintes, isto é, o poder de arrecadar taxas e gastar orçamentos próprios”.
Democratização é impossível sem efetiva federalização
No meu entender, é impossível chegar à democratização da sociedade sem a efetiva federalização do Brasil. Um dia antes da escolha de Aldo Rebelo para a Presidência da Câmara dos Deputados, assistimos à enésima caminhada de prefeitos do País inteiro rumo ao Congresso para reclamar recursos, autonomia, modificações em leis eleitorais e de estruturas municipais. Naquele dia, como em muitas outras ocasiões, os prefeitos foram tratados como estranhos no Parlamento Federal, o que gerou um conflito só resolvido com o emprego da força física pela segurança da Casa das Leis. Enquanto tal situação permanecer assim, a fábrica das manobras corruptas (nas duas pontas, nos municípios e na capital da República) estará em pleno funcionamento. A Controladoria Geral da União ( CGU) tem feito um bom trabalho de investigação nos municípios, levantando a situação das suas finanças, punindo os administradores de má fé e ensinando os prefeitos e vereadores que não possuem conhecimentos jurídicos a bem empregar recursos para o bem coletivo. Mas um trabalho assim excelente, exigiria a real federalização das unidades e de todo o político brasileiro, que alocaria maiores recursos aos municípios, sem a venda do apoio ao governo federal na bacia das almas. Coisa da qual estamos ainda muito distantes.
IHU On-Line - Quais os caminhos para a realização de uma verdadeira democracia social ?
Roberto Romano – Entre outras coisas, diminuir a concentração da renda, abolir a prática do favor (obscena nas eleições), enfraquecer a burocracia cartorial (das escolas à Justiça), assegurar amplo ensino técnico, abrir hospitais, delegacias com funcionários treinados e bem pagos. Incentivar ao máximo a melhoria do ensino dos primeiros níveis, tarefa mais do que gigantesca. Essas políticas, porém, são caras e lentas, exigem compromisso efetivo com a ordem democrática, princípio ignorado pelos que fazem leis por encomenda de governos renitentes à administração impessoal, apartidária, não-ideológica.
Impor ao Brasil um modelo ético, além de genocídio inclemente, é um erro fatal
IHU On-Line - Qual o lugar da ética em uma nova proposta de democracia na política?
Roberto Romano – A ética não entra como programa. Ela é um processo e também um conjunto não homogêneo (na verdade, contraditório) de propostas doutrinárias e novas formas de comportamento e valores que permanecem, vindos de antigas formas sociais. Desejar impor ao Brasil (com muitas culturas e origens nacionais e históricas diversas) um modelo ético, além de genocídio inclemente, é um erro político fatal.
IHU On-Line - Quais as conseqüências mais nocivas da lógica da indistinção entre o dinheiro público e privado no sistema político vigente ?
Roberto Romano – A permanente corrosão da república. Dela advém, por exemplo, a instituição despótica que define a existência de cidadãos separados em dois tipos: os que têm foro privilegiado e os que são desprovidos daquele privilégio. É desaforo, quando se trata de uma república. A hipocrisia que acompanha a sua justificativa não esconde que ladrões do erário possuem, naquele ordenamento legal, mas ilegítimo, o salvo-conduto para delinqüir em paz. Se existem privilégios assim, a república desmorona porque some a fé pública, a famosa accountability. Esta, ao contrário do que imaginam os colunistas econômicos e jovens funcionários dos bancos ou do governo, não significa “assegurar a confiança dos investidores”, mas “garantir a confiança dos cidadãos nas autoridades”. Isso, claro, se falarmos em democracia. Contudo, quem, nas bolsas e na “economia globalizada”, se preocupa com a democracia?
IHU On-Line - O senhor afirma que a política eticamente correta opera tendo em vista a luta pelo sentido, para bem utilizar o tempo que nos resta como humanidade, povo, indivíduo. Que características compõem essa política ?
Roberto Romano – Os estados e os particulares devem operar seguindo padrões realistas na avaliação do potencial que a natureza ainda oferece e prever o tempo restante para o uso dos recursos são finitos (petróleo, água etc.). Cabe aos governos e às sociedades fazer o cálculo (tremendo) do tempo que resta à humanidade, antes da morte de nosso planeta (caso dos ateus ou sem fé) ou do nosso retorno ao divino. A política a ser assumida nesse cálculo, se não for democrática, será uma paródia sacrílega do Juízo Final. Um grupo de potentados e ricos decidiria, como deuses, quem deve cair primeiro nas vascas da agonia coletiva, quais povos serão tragados pela morte e quais outros sobreviverão, como vampiros coletivos, do sangue e das riquezas roubadas dos coletivos pobres. Somos caminhantes do Eterno e recebemos esta casa, a Terra, por tempo definido (não sabemos os seus limites). Um dia haverá o Apocalipse, mas a situação da humanidade naquela hora tremenda (Quantus tremor est futurus,/quando judex est venturus,/cuncta stricte discussurus!) será a obra de todos e de cada um dos humanos. A política que transforma a riqueza natural em dinheiro, certamente, será um dos maiores pesos na balança que oferece apenas o Inferno para os que dela usufruíram. “E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias (…) de cavalos, e de carros, e de corpos e almas de homens. (…) Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando, e lamentando, e dizendo: Ai! ai daquela grande cidade…” (Apocalipse, 18, 11-15). E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando, e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque em uma hora foi assolada.
O mesmo governo que arranca verbas da segurança assume a diretiva de desarmar a população
IHU On-Line - Qual sua postura sobre o tema do desarmamento, da violência e de uma cultura de paz?
Roberto Romano – Fui dominicano por um bom tempo e tenho Tomás de Aquino como guia ético. A resposta à pergunta, apresento-a com a noção de autodefesa encontrável na Suma Teológica (IIa IIae, q.64, a.7). Entendo aquela doutrina, com outros analistas, como o direito da pessoa defender a si mesma (e aos seus) mesmo com o risco de morte própria e do agressor. É possível debater esses pontos doutrinários e de hermenêutica, mas não julgo ético, nem democrático, nem justo, definir como inquestionável, como um dogma, o desarmamento dos particulares. Numa sociedade não-democrática, os ricos e remediados continuarão armados, com os “serviços de segurança”, verdadeiros exércitos privados que servem (como ocorre com a própria polícia) como elemento de transmissão de armas para os que se levantam contra a lei. O mesmo governo que arranca verbas da saúde, da educação e da segurança, as coloca em superávits primários fantásticos e assume a diretiva de desarmar a população sem lhe devolver em serviços. Last but not least, não aceito o monopólio absoluto da força física nas mãos do Estado, mas apenas o relativo. Os cidadãos, num Estado democrático, têm o direito de se armar, inclusive e não raro, sobretudo, contra tendências e organismos tirânicos dos governos, também não raro ligados a interesses de poderosos econômicos, políticos etc.
O atual referendo não é legítimo
Considero que o atual referendo não é legítimo. Uma longa discussão com o povo soberano (com o desarmamento, ele perde ainda mais dessa prerrogativa) e o plebiscito seriam o modo justo de encaminhar essa decisão política e jurídica. A propaganda do governo, que chega à calúnia ao insinuar má fé dos que defendem o direito natural e constitucional do porte de armas pelos cidadãos, é um ato de força e de açambarcamento de poderes. Sofismas são empregados para eludir questões de princípio (por exemplo, dizer que os particulares não possuem o mesmo adestramento dos que optam por agir contra a lei). Questões técnicas não podem substituir princípios. O Estado que proíbe a defesa dos cidadãos contra atos ilegítimos das autoridades e contra os que zombam da lei, é tirânico. Esta minha posição vai contra o pensamento imperante. Julgo antiético, porém, calar a divergência para ser bem acolhido entre os que aceitam as teses mais em voga. Em se tratando de paz, sigo Vegécio [3] : Si vis pacem, para bellum ( “Se queres a paz prepara-te para a guerra”) . O Estado tem o direito de controlar, vigiar, administrar a distribuição de armas aos particulares. Ele tem o direito de punir os erros ou crimes cometidos com o porte de armas, mas desarmar o cidadão é tirania. Lembrem-se os que aceitam os argumentos e as propagandas governamentais o levante dos judeus em Varsóvia, símbolo de resistência à tirania até 16/05/1943. Existem Estados bandidos, como o nazista, e não ter armas contra ele é suicídio. E nenhum Estado está isento de se transformar em bandido ou de abrigar entre seus funcionários bandidos que usam a força física e a força oficial para matar diretamente (ou por via interposta) cidadãos pacíficos. Aos que se entregam totalmente ao Estado para “conseguir a paz” recomenda-se a Cidade de Deus: "Os reinos não seriam apenas grandes quadrilhas de bandidos? E o que é uma quadrilha senão um pequeno reino? Pois ela é uma reunião de homens onde um chefe comanda, onde um pacto é reconhecido, onde certas convenções regulam a divisão do botim etc., etc. …”.
IHU On-Line - Que relações podem ser estabelecidas entre exclusão e violência? O referendo pode ser uma forma de estimular a cultura da democracia participativa?
Roberto Romano – O próximo referendo, no Brasil, não estimula nenhuma democracia participativa, visto que reduz o cidadão a dizer sim ou não a uma lei já aprovada, sem debates pacientes e sérios. O mutismo e propaganda — quando os dirigentes não ouvem ninguém e não seguem a regra de escutar argumentos in utramque partem, antes de decretar leis — só conduzem às tiranias.
IHU On-Line - Antes da eleição de Lula, o senhor afirmou em uma entrevista [4] concedida à nossa revista, durante uma visita à Unisinos, que caso Lula fosse eleito, havia a possibilidade de um golpe de Estado por parte das elites. Como o senhor reavalia essa postura com base na trajetória do governo até então?
Roberto Romano – Os mais que possíveis golpistas não precisaram tomar medidas extremas porque o governo Lula, numa traição costumeira entre demagogos, assumiu a política adequada ao capital financeiro. Assim, ele mesmo deu o golpe que, aplicado pelas famosas elites, seria um desgaste para elas. O governo Lula assumiu a tarefa de realizar o que os franceses chamam sale boulot. Quem desejar, traduza a expressão, saborosa como só os franceses conseguem fazer, do modo que julgue mais delicado.
Notas
[1] Maurice Halbwachs (1877-1945): sociólogo francês. Autor de trabalhos sobre as relações entre a psicologia e a sociologia. Escreveu Morfologia social. (Nota da IHU On-Line)
[2] A Global Theory of Federalism: The Nature and Challenges of a Federal State. German Law Journal, n. 10, 1 out. 2005. (Nota do entrevistado)
[3] Vegécio (fim do séc. IV - m. início do séc. V): escritor latino, autor de um Tratado de arte militar. (Nota da IHU On-Line)
[4] Refere-se à entrevista concedida por Romano à IHU On-Line nº 39, de 21 de outubro de 2002. (Nota da IHU On-Line)
IHU-On Line (17/10/2005) Edição nº 160
Entrevista com Roberto Romano
Para Roberto Romano da Silva, professor na Universidade Estadual de Campinas, a ética não entra como programa. Ela é um processo e também um conjunto não homogêneo (na verdade, contraditório) de propostas doutrinárias e novas formas de comportamento e valores que permanecem, vindos de antigas formas sociais, portanto seria um grave erro e um genocídio impor uma ética a um Brasil multicultural. Romano, que concedeu entrevista a seguir à IHU On-Line por e-mail, cursou o doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), França. É Professor Titular da Unicamp. Escreveu,entre outros, os seguintes livros Brasil Igreja contra Estado. Crítica ao populismo católico. São Paulo: Kairós, 1979; Conservadorismo Romântico. 2ª ed. São Paulo: Ed. UNESP, 1997. Moral e Ciência. A monstruosidade no século XVIII. São Paulo: Senac Ed., 2002; e O Desafio do Islã. São Paulo: Perspectiva, 2004. De Roberto Romano já publicamos três entrevistas, uma na 39ª edição de IHU On-Line, de 21 de outubro de 2002, intitulada O Brasil e a democracia, outra na 130ª edição, de 28 de fevereiro de 2005, intitulada “O projeto é um primor de formalismo, de um lado, e de populismo, de outro”, e outra que realizamos com ele na 149ª edição, de 1º de agosto de 2005, chamada A má consciência transformada em má fé.
IHU On-Line - Em que medida a crise brasileira é também uma crise do modelo de democracia que vivemos? Como a crise política atual desvenda as fragilidades do modelo de democracia instaurado?
Roberto Romano – Dificilmente o Estado e a sociedade brasileiros entrariam na qualificação de formas democráticas. M. Halbwachs [1] , atilado comentador de Rousseau, na sua edição crítica do Contrato Social afirmava em 1943 que no século XX raros Estados seriam democráticos se o modelo rousseoísta fosse usado como o padrão analítico. É preciso apurar, hoje, as noções de democracia, federalismo, sociedade civil etc., se quisermos pensar o mundo brasileiro, por exemplo, o federalismo. O nosso modo de unir os estados tem pouco de “federalismo” e muito de Império. Tomemos a indicação da jurista Anna Gamper que analisa as formas federativas para apontar as fraturas no projeto da União Européia: “Por unanimidade, as definições de federalismo reconhecem o fundamento da palavra latina foedus, que significa pacto. Todas as teorias concordam que federalismo é um princípio que se aplica ao sistema que consiste em, pelo menos, duas partes constituintes, não totalmente independentes que, juntas, formam todo o sistema. O federalismo, pois, combina o princípio da unidade e da diversidade (concordantia discors). As partes constituintes devem ter poderes próprios e devem ser admitidas com base no âmbito federal” [2]. Da definição escolhida pela autora, tomemos a parte onde ela afirma a exigência sine qua non, a que declara o seguinte: “as unidades constituintes devem ter poderes próprios”. Desde a Independência, o Poder Central brasileiro monopoliza todas as prerrogativas do Estado e não as partilha com os demais entes, supostamente unidos hoje por laços de federação. Se realmente em nosso caso foedus significasse pacto, teríamos graus crescentes de autonomia, dos municípios ao Poder Central. Como o Império herdou as terras coloniais portuguesas — imensas terras — para ele o mais urgente era garantir as fronteiras do enorme país e impedir a secessão das províncias. Para tal fito, a repressão militar foi a tônica, o que se tornou dramático durante a Regência, quando várias unidades levantaram-se em busca não de autonomia, mas de plena soberania.
Pouca autonomia e uniformização
A história do Brasil, desde aquela época até 1932 (com a Revolução Constitucionalista de São Paulo), tem sido a crônica de um controle férreo das províncias, depois estados, pelo Poder Central. É como se cada Estado, sobretudo os que se levantaram em armas (Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Bahia, São Paulo, para recordar apenas alguns deles) fosse submetido à invasão permanente dos que dirigem o todo nacional. Resulta que a nossa “Federação” concede pouquíssima autonomia aos estados e municípios, em todos os planos da vida política, econômica, etc. De Brasília, leis uniformes regulamentam até os detalhes da ordem nacional, desconhecendo deliberadamente as diferenças regionais, culturais, geográficas etc. Do Oiapoque ao Chuí, há uma uniformização gigantesca que obriga cada uma das regiões a se pautar pelo tempo longo da enorme burocracia federal, perdendo-se tempo precioso para o experimento e modificações das políticas públicas em plano particularizado. Enquanto em outras federações, como a norte-americana (e apesar do grande centralismo daquele país) vigoram diversas leis, penais, educacionais, tecnológicos etc., no Brasil, a mão de ferro do Estado Federal (nos três poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário) controla, dirige, pune e premia os Estados, segundo sustentem os interesses dos ocupantes temporários de Brasília. Para realizar semelhante controle, as oligarquias regionais surgem como operadores de face dupla: servem para trazer os planos do Poder Central aos estados e para levar ao mesmo poder as aspirações de estados e municípios. O lugar onde as negociações entre os dois níveis (Central e Estadual) ocorrem, normalmente é o Congresso. Ali, Presidência e Ministérios buscam apoio aos seus planos, inclusive e, sobretudo, de leis. É impossível conseguir recursos orçamentários, por exemplo, sem as “negociações” e nelas o modus operandi identifica-se ao conhecido “é dando que se recebe”. Assim, os planos federais de inclusão social e democratização societária patinam na enorme generalidade do “grande Brasil”, enquanto as unidades aguardam as “providências” de uma burocracia pesada, incapaz de entender os vários ritmos e formas de vida e pensamento regionais.
A quase mendicância ao Poder Central
Nos impostos, essa concentração irracional de poderes deixa estados e municípios sempre à mingua de recursos. Verbas provenientes de impostos ou a eles ligadas, como no caso das exportações, não são repassadas às unidades ou não são repassadas em tempo certo, permanecendo nas mãos dos Ministérios Econômicos. Governadores e prefeitos são reduzidos à quase mendicância do Poder Central. Não ignoro as dificuldades gigantescas, se quisermos modificar esta forma de relacionamento federativo em nosso país. Valho-me novamente da jurista Anna Gamper: “A economia política do federalismo e o federalismo fiscal tornaram-se um dos mais extensos e difíceis campos interdisciplinares da pesquisa sobre o federalismo, em que os conceitos de assimetria, competição e cooperação desempenham papel importante. Também é o campo em que os níveis inferiores que não participam do sistema, como os municípios, são admitidos excepcionalmente a entrar na arena como “partes terceiras”. As relações financeiras entre a unidade central e as partes mais baixas e as terceiras partes são de suma importância para o sistema. A estabilidade financeira e a igualização, bem como a cooperação entre as partes da base são obrigatórias para um efetivo sistema federal. A distribuição das competências não é completa se não existem regras que dividem os poderes financeiros entre o poder central e as unidades constituintes. Se as partes constituintes que precisam de recursos para financiar suas responsabilidades as recebem sobretudo de subsídios que são a elas alocados pela unidade central (e devem ser acompanhados por certas condições que restringem seu poder de gasto) o arranjo fiscal parecerá um sistema de estado não-federal e não tanto um estado federal que pressupõe teoricamente graus de autonomia financeira das partes constituintes, isto é, o poder de arrecadar taxas e gastar orçamentos próprios”.
Democratização é impossível sem efetiva federalização
No meu entender, é impossível chegar à democratização da sociedade sem a efetiva federalização do Brasil. Um dia antes da escolha de Aldo Rebelo para a Presidência da Câmara dos Deputados, assistimos à enésima caminhada de prefeitos do País inteiro rumo ao Congresso para reclamar recursos, autonomia, modificações em leis eleitorais e de estruturas municipais. Naquele dia, como em muitas outras ocasiões, os prefeitos foram tratados como estranhos no Parlamento Federal, o que gerou um conflito só resolvido com o emprego da força física pela segurança da Casa das Leis. Enquanto tal situação permanecer assim, a fábrica das manobras corruptas (nas duas pontas, nos municípios e na capital da República) estará em pleno funcionamento. A Controladoria Geral da União ( CGU) tem feito um bom trabalho de investigação nos municípios, levantando a situação das suas finanças, punindo os administradores de má fé e ensinando os prefeitos e vereadores que não possuem conhecimentos jurídicos a bem empregar recursos para o bem coletivo. Mas um trabalho assim excelente, exigiria a real federalização das unidades e de todo o político brasileiro, que alocaria maiores recursos aos municípios, sem a venda do apoio ao governo federal na bacia das almas. Coisa da qual estamos ainda muito distantes.
IHU On-Line - Quais os caminhos para a realização de uma verdadeira democracia social ?
Roberto Romano – Entre outras coisas, diminuir a concentração da renda, abolir a prática do favor (obscena nas eleições), enfraquecer a burocracia cartorial (das escolas à Justiça), assegurar amplo ensino técnico, abrir hospitais, delegacias com funcionários treinados e bem pagos. Incentivar ao máximo a melhoria do ensino dos primeiros níveis, tarefa mais do que gigantesca. Essas políticas, porém, são caras e lentas, exigem compromisso efetivo com a ordem democrática, princípio ignorado pelos que fazem leis por encomenda de governos renitentes à administração impessoal, apartidária, não-ideológica.
Impor ao Brasil um modelo ético, além de genocídio inclemente, é um erro fatal
IHU On-Line - Qual o lugar da ética em uma nova proposta de democracia na política?
Roberto Romano – A ética não entra como programa. Ela é um processo e também um conjunto não homogêneo (na verdade, contraditório) de propostas doutrinárias e novas formas de comportamento e valores que permanecem, vindos de antigas formas sociais. Desejar impor ao Brasil (com muitas culturas e origens nacionais e históricas diversas) um modelo ético, além de genocídio inclemente, é um erro político fatal.
IHU On-Line - Quais as conseqüências mais nocivas da lógica da indistinção entre o dinheiro público e privado no sistema político vigente ?
Roberto Romano – A permanente corrosão da república. Dela advém, por exemplo, a instituição despótica que define a existência de cidadãos separados em dois tipos: os que têm foro privilegiado e os que são desprovidos daquele privilégio. É desaforo, quando se trata de uma república. A hipocrisia que acompanha a sua justificativa não esconde que ladrões do erário possuem, naquele ordenamento legal, mas ilegítimo, o salvo-conduto para delinqüir em paz. Se existem privilégios assim, a república desmorona porque some a fé pública, a famosa accountability. Esta, ao contrário do que imaginam os colunistas econômicos e jovens funcionários dos bancos ou do governo, não significa “assegurar a confiança dos investidores”, mas “garantir a confiança dos cidadãos nas autoridades”. Isso, claro, se falarmos em democracia. Contudo, quem, nas bolsas e na “economia globalizada”, se preocupa com a democracia?
IHU On-Line - O senhor afirma que a política eticamente correta opera tendo em vista a luta pelo sentido, para bem utilizar o tempo que nos resta como humanidade, povo, indivíduo. Que características compõem essa política ?
Roberto Romano – Os estados e os particulares devem operar seguindo padrões realistas na avaliação do potencial que a natureza ainda oferece e prever o tempo restante para o uso dos recursos são finitos (petróleo, água etc.). Cabe aos governos e às sociedades fazer o cálculo (tremendo) do tempo que resta à humanidade, antes da morte de nosso planeta (caso dos ateus ou sem fé) ou do nosso retorno ao divino. A política a ser assumida nesse cálculo, se não for democrática, será uma paródia sacrílega do Juízo Final. Um grupo de potentados e ricos decidiria, como deuses, quem deve cair primeiro nas vascas da agonia coletiva, quais povos serão tragados pela morte e quais outros sobreviverão, como vampiros coletivos, do sangue e das riquezas roubadas dos coletivos pobres. Somos caminhantes do Eterno e recebemos esta casa, a Terra, por tempo definido (não sabemos os seus limites). Um dia haverá o Apocalipse, mas a situação da humanidade naquela hora tremenda (Quantus tremor est futurus,/quando judex est venturus,/cuncta stricte discussurus!) será a obra de todos e de cada um dos humanos. A política que transforma a riqueza natural em dinheiro, certamente, será um dos maiores pesos na balança que oferece apenas o Inferno para os que dela usufruíram. “E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias (…) de cavalos, e de carros, e de corpos e almas de homens. (…) Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando, e lamentando, e dizendo: Ai! ai daquela grande cidade…” (Apocalipse, 18, 11-15). E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando, e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque em uma hora foi assolada.
O mesmo governo que arranca verbas da segurança assume a diretiva de desarmar a população
IHU On-Line - Qual sua postura sobre o tema do desarmamento, da violência e de uma cultura de paz?
Roberto Romano – Fui dominicano por um bom tempo e tenho Tomás de Aquino como guia ético. A resposta à pergunta, apresento-a com a noção de autodefesa encontrável na Suma Teológica (IIa IIae, q.64, a.7). Entendo aquela doutrina, com outros analistas, como o direito da pessoa defender a si mesma (e aos seus) mesmo com o risco de morte própria e do agressor. É possível debater esses pontos doutrinários e de hermenêutica, mas não julgo ético, nem democrático, nem justo, definir como inquestionável, como um dogma, o desarmamento dos particulares. Numa sociedade não-democrática, os ricos e remediados continuarão armados, com os “serviços de segurança”, verdadeiros exércitos privados que servem (como ocorre com a própria polícia) como elemento de transmissão de armas para os que se levantam contra a lei. O mesmo governo que arranca verbas da saúde, da educação e da segurança, as coloca em superávits primários fantásticos e assume a diretiva de desarmar a população sem lhe devolver em serviços. Last but not least, não aceito o monopólio absoluto da força física nas mãos do Estado, mas apenas o relativo. Os cidadãos, num Estado democrático, têm o direito de se armar, inclusive e não raro, sobretudo, contra tendências e organismos tirânicos dos governos, também não raro ligados a interesses de poderosos econômicos, políticos etc.
O atual referendo não é legítimo
Considero que o atual referendo não é legítimo. Uma longa discussão com o povo soberano (com o desarmamento, ele perde ainda mais dessa prerrogativa) e o plebiscito seriam o modo justo de encaminhar essa decisão política e jurídica. A propaganda do governo, que chega à calúnia ao insinuar má fé dos que defendem o direito natural e constitucional do porte de armas pelos cidadãos, é um ato de força e de açambarcamento de poderes. Sofismas são empregados para eludir questões de princípio (por exemplo, dizer que os particulares não possuem o mesmo adestramento dos que optam por agir contra a lei). Questões técnicas não podem substituir princípios. O Estado que proíbe a defesa dos cidadãos contra atos ilegítimos das autoridades e contra os que zombam da lei, é tirânico. Esta minha posição vai contra o pensamento imperante. Julgo antiético, porém, calar a divergência para ser bem acolhido entre os que aceitam as teses mais em voga. Em se tratando de paz, sigo Vegécio [3] : Si vis pacem, para bellum ( “Se queres a paz prepara-te para a guerra”) . O Estado tem o direito de controlar, vigiar, administrar a distribuição de armas aos particulares. Ele tem o direito de punir os erros ou crimes cometidos com o porte de armas, mas desarmar o cidadão é tirania. Lembrem-se os que aceitam os argumentos e as propagandas governamentais o levante dos judeus em Varsóvia, símbolo de resistência à tirania até 16/05/1943. Existem Estados bandidos, como o nazista, e não ter armas contra ele é suicídio. E nenhum Estado está isento de se transformar em bandido ou de abrigar entre seus funcionários bandidos que usam a força física e a força oficial para matar diretamente (ou por via interposta) cidadãos pacíficos. Aos que se entregam totalmente ao Estado para “conseguir a paz” recomenda-se a Cidade de Deus: "Os reinos não seriam apenas grandes quadrilhas de bandidos? E o que é uma quadrilha senão um pequeno reino? Pois ela é uma reunião de homens onde um chefe comanda, onde um pacto é reconhecido, onde certas convenções regulam a divisão do botim etc., etc. …”.
IHU On-Line - Que relações podem ser estabelecidas entre exclusão e violência? O referendo pode ser uma forma de estimular a cultura da democracia participativa?
Roberto Romano – O próximo referendo, no Brasil, não estimula nenhuma democracia participativa, visto que reduz o cidadão a dizer sim ou não a uma lei já aprovada, sem debates pacientes e sérios. O mutismo e propaganda — quando os dirigentes não ouvem ninguém e não seguem a regra de escutar argumentos in utramque partem, antes de decretar leis — só conduzem às tiranias.
IHU On-Line - Antes da eleição de Lula, o senhor afirmou em uma entrevista [4] concedida à nossa revista, durante uma visita à Unisinos, que caso Lula fosse eleito, havia a possibilidade de um golpe de Estado por parte das elites. Como o senhor reavalia essa postura com base na trajetória do governo até então?
Roberto Romano – Os mais que possíveis golpistas não precisaram tomar medidas extremas porque o governo Lula, numa traição costumeira entre demagogos, assumiu a política adequada ao capital financeiro. Assim, ele mesmo deu o golpe que, aplicado pelas famosas elites, seria um desgaste para elas. O governo Lula assumiu a tarefa de realizar o que os franceses chamam sale boulot. Quem desejar, traduza a expressão, saborosa como só os franceses conseguem fazer, do modo que julgue mais delicado.
Notas
[1] Maurice Halbwachs (1877-1945): sociólogo francês. Autor de trabalhos sobre as relações entre a psicologia e a sociologia. Escreveu Morfologia social. (Nota da IHU On-Line)
[2] A Global Theory of Federalism: The Nature and Challenges of a Federal State. German Law Journal, n. 10, 1 out. 2005. (Nota do entrevistado)
[3] Vegécio (fim do séc. IV - m. início do séc. V): escritor latino, autor de um Tratado de arte militar. (Nota da IHU On-Line)
[4] Refere-se à entrevista concedida por Romano à IHU On-Line nº 39, de 21 de outubro de 2002. (Nota da IHU On-Line)