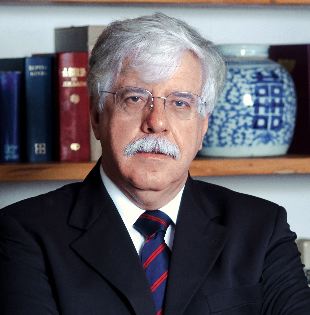Reflexões sobre a Universidade
Universidade Federal de Sergipe
Roberto Romano/Unicamp
1) Aspectos jurídicos da Universidade.
2) Um pouco de história da Universidade
3) Autonomia universitária
4) Ética e universidade
5) Universidade ciências e técnicas, hoje.
Aspectos jurídicos da Universidade
Academiae, quae sumptibus reipublicae fundantur, non tam ad ingenia colenda, quam ad eadem coercenda instituuntur. Sed in libera republica tum scientiae et artes optime excolentur, si unicuique veniam petenti concedatur publice docere, idque suis sumptibus, suaeque famae periculo. Sed haec et similia ad alium locum reservo. Nam hic de iis solummodo agere constitueram, quae ad solum imperium aristocraticum pertinent. (“As universidades fundadas às custas do Estado são instituídas menos para cultivar os intelectos quanto para os coagir. Numa livre república, pelo contrário, o melhor meio para desenvolver as ciências e as artes é dar a cada um a licença de ensinar aos seus custos e com o risco de sua reputação”. (Bento de Spinoza, Tratado Político, cap. 8).)
As frases acima, enunciadas por Bento de Spinoza, rigoroso pensador democrático do século 17, ajudam a entender a função da universidade pública. Aquele filósofo, adversário da censura e dos controles religiosos sobre o Estado, declara que as escolas estatais, nos países onde o poder recebe a tutela da religião, deixam o ensino e a pesquisa efetivos para coagir os engenhos. Ele pensava sobretudo na Universidade de Leyde, onde os cursos tinham como alvo imprimir no intelecto dos estudantes os dogmas da Igreja Calvinista. Não é possível esquecer, no entanto, que a crítica spinozana atinge também o autoritarismo católico que protagonizou instantes melancólicos da Sorbonne em toda a história moderna. Como diz o historiador J. Le Goff a universidade foi domesticada e auxiliou o mando absoluto do Estado e da Igreja. Os seus docentes tornaram-se “queimadores de livros”, no mesmo passo em que foram incenerados pelas autoridades civís,por instigação universitária, os que escreviam os mesmos livros. Spinoza, numa resposta digna, recusou a cátedra em Heildelberg e afirmou desconhecer limites do seu pensamento. E o governo do Príncipe Palatino lhe pedia “apenas” deixar fora de sua critica a religião estabelecida (Carta a L. Fabritius, 30/03/1673). A democracia, no seu entender, garante o uso ilimitado das inteligências e a liberdade sem peias. Todos os atributos do Estado democrático, tal como proposto na filosofia de Spinoza, são essenciais à universidade estatal que dele depende. Os pressupostos do primeiro repercutem na segunda. Assim, antes de entrar na análise dos problemas dos campi, hoje, considero obrigatório estabelecer alguns ítens sobre a vida estatal em regime democrático.
Quem trabalha na universidade pública –professores, estudantes, funcionários- tem consciência de que a instituição pertence ao Estado democrático de direito e deve obedecer as normas de convívio estabelecidas na Constituição política. A universidade pública se define pelo seu âmbito estatal ou nada significa. No Estado de direito a vida das pessoas é regulada por leis e não pelo arbítrio deste ou daquele dirigente político, setor social ou partido. O seu alvo é o de buscar o bem, a verdade, a beleza em todos os aspectos da vida humana. Com as ciências, as artes, os serviços sociais, ela cumpre o papel de ajudar o povo brasileiro na busca de uma vida digna, ética, bonita. Mantida com recursos de todos os cidadãos, a universidade não pode, como organismo de Estado, adotar uma ou outra doutrina política, ideologia, crença religiosa. Nela, todas as atitudes mentais e afetivas devem ser respeitadas, o que possibilita o convívio harmonioso dos seus membros. Uma característica do Estado democrático de direito reside na laicidade. Nenhuma religião, nele, pode ser imposta como oficial ou mesmo oficiosa. Como a cidadania é garantida a todos os que obedecem as leis, pagam impostos, cumprem suas obrigações civís e militares, cada indivíduo que compõe o Estado tem o direito de pensar de acordo com a sua consciência e de seguí-la nos atos, desde que o mesmo direito fundamental seja respeitado com relação a todos os demais.
Como é uma das mais elevadas instituições do Estado de direito (no seu âmbito os assuntos espirituais, científicos e humanísticos são pesquisados prioritariamente) nela deve reinar a isonomia das atitudes religiosas, ideológicas ou políticas. O ensino e a pesquisa pertencem ao monopólio jurídico do Estado. Este último, enquanto for democrático, garante o pluralismo no seu interior. Qualquer indivíduo ou grupo que não conviva com a diferença de pensamento está em lugar errado na democracia e na universidade, especialmente nos campi públicos. Exercer pressões sobre uma pessoa, no interior do campus, para que ela aceite ideologias, cultos, opiniões políticas ou sociais, significa um abuso duplo: em primeiro lugar, ocorre desrespeito à liberdade de consciência, em segundo, é cometida grave atentado contra a ordem constitucional que garante todos os direitos individuais e coletivos.
A comunidade política, num Estado democrático de direito, é a mais ampla associação dos seres humanos. Ela abrange um número de pessoas maior do que as acolhidas pelas igrejas, partidos, sindicatos, seitas e reúne a todos, crentes e não crentes, ao assegurar para cada um deles a segurança básica para viver de acordo com sua maneira de sentir. Na garantia da integridade corporal e do pensamento reside a forma legítima do Estado democrático. Quando, neste universo, um partido deseja o poder decisório, ele concorre ao mando em eleições livres, nas quais votam todos os cidadãos. Se uma igreja deseja ampliar o número de seus aderentes, tem como recurso o proselitismo, as missões, a propagação de sua fé. Mas as atividades dos partidos políticos e das igrejas são definidas em leis, as quais garantem os direitos dos que não professam a crença eclesiástica ou não aceitam o programa de determinado partido. Apenas em ditaduras (como foi o caso do nazismo e do estalinismo), um só partido exerce o poder. Em tiranias como a da Espanha na época de Franco, uma Igreja tem privilégios sobre as demais. Nas formas autoritárias a universidade foi obrigada pela força, ou aceitou, conivente com os seus violadores, fornecer um ensino com base em doutrina oficiais. Sua pesquisa foi manietada e dirigida pelos interesses políticos e ideológicos dos governos. Contra os autoritarismos, o direito de expandir a liberdade própria e a crença individual ou de grupos reside na essência do Estado democrático, mas não de qualquer modo, como por exemplo, pelo emprego da força, ou por meios que retirem da pessoa alvo o pleno domínio de si, em termos mentais ou volitivos.
O Estado democrático garante a todos os indivíduos a adesão a qualquer doutrina, qualquer partido, igreja ou seita. E garante também, o que é vital, a saída dos mesmos indivíduos, incólumes, de todos esses organismos políticos ou religiosos.É crime, nele, obrigar (por coação física, emotiva ou chantagem de qualquer ordem) uma pessoa a permanecer num partido ou igreja. Esta é uma das maiores diferenças entre o Estado democrático e as seitas. Estas últimas, com técnicas similares às empregadas na coleta de adeptos, utilizam meios de pressão, legítimos ou ilegítimos, para impedir que um membro delas se desolidarize. É nesse instante que as seitas são mais profundamente nocivas aos valores éticos democráticos. As pressões, ameaças à integridade psicológica ou física das pessoas, não podem ser toleradas no Estado. É dever deste último providenciar para que a adesão ou a saída das seitas, e de todos os aglomerados humanos, sejam feitas com garantias da máxima e livre segurança.
A universidade forma indivíduos para as mais diversas áreas de pensamento. O universo humano é o seu horizonte. Ela serve às comunidades locais no mesmo impulso em que serve a comunidade nacional e internacional, e vice-versa. Toda universidade digna deste nome não se limita ao espaço e tempo da imediatez. Ela realiza a passagem do singular ao universal e permite aos cidadãos de uma cidade perceberem seus problemas e esperanças em nível cósmico. Para isto, o requisito é a plena liberdade, a força crítica assegurada para mestres, pesquisadores, alunos. Instituição mantida pela vida civil, se a universidade permite que parte de seus quadros não chegue ao seu fim, a investigação e o ensino livres, ela trai a sua missão, para a qual impostos são recolhidos de toda a cidadania. Todo atentado à liberdade dos indivíduos no campus, seja de ordem emocional, seja de ordem física, deve ser previsto e proibido, pois se não se trata de inocente jogo de formas sociais privadas, mas de uma subversão da ordem constitucional, de uma desobediência às leis, as quais garantem a liberdade de todos e não a de um grupo humano apenas. Ninguém, sob pretexto algum tem a prerrogativa de se colocar acima do Estado democrático de direito. Neste último, todas as relações de mando podem e devem ser examinadas de modo público e transparente. Todos os que se movem nas sombras e fogem do controle público merecem o mais veemente repúdio das consciências livres.
Um pouco da história universitária
Não retomo a história da instituição de ensino e pesquisa. Na coletânea dirigida por Francisco Doria : A Crise da Universidade. (RJ, Revan Ed., 1998) escrevi longo texto (“Entre as Luzes e Nossos Dias”,páginas 49-98) onde procuro expôr os seus momentos principais, da Idade Média aos nossos tempos. Fiquemos com a crônica dos campi no Brasil. O projeto de instalar uma universidade em nossa terra vem do século 19. Setores da alta hierarquia do clero católico, de um lado, e lideranças civís liberais, de outro, imaginavam que uma instituição universitária ajudaria muito na tarefa de assegurar as formas de autoridade e de pensamento gerados pela Revolução Francêsa e pela revolução industrial. A Igreja recusava a laicidade do Estado e da vida civil e era compelida a buscar novos argumentos e cérebros na luta contra o que ela definiu como “o modernismo”. A criação de uma universidade com hegemonia religiosa ajudaria o mister de, ao mesmo tempo, pensar o Brasil e aumentar o número de quadros intelectuais a serviço do projeto religioso. Este, sgundo os bispos, precisaria se fortalecer após o quase desaparecimento institucional ocasionado pelo Império. Neste último, com o Padroado, definido pelos líderes católicos como “a gaiola de ouro” em que o catolicismo foi preso, as ordens religiosas, os dirigentes intelectuais até então conhecidos, perderam seus membros. Com a lei da mão morta, grande quantidade de conventos se despovoaram, retirando lideranças católicas das lutas pela sobrevivência institucional da Igreja. Também devido ao Padroado, o governo imperial poderia aceitar, ou não, as indicações da Santa Sé para o preenchimento das cátedras episcopais. Como a política do Império, com bastante influência de Pedro 2, era agnóstica ou francamente laica, muitas dioceses ficarm com a cátedra vacante durante décadas. Assim, uma universidade integrada no projeto católico de auto-recuperação institucional era um dos elementos estratégicos da Hierarquia católica. Claro que tanto a “ratio studiorum” quanto os fundamentos jurídicos da universidade assim concebida deveriam sofrer as determinações do anti-modernismo (fenômeno que durou até a metade do século 20, quando foi modificado pelo Concilio Vaticano 2) católico. As disciplinas a serem preferidas, numa instituição assim, eram a filosofia (tomista), a teologia (idem), o direito (com base na doutrina social da Igreja), letras, artes e alguns setores (poucos) tecnológicos no futuro.
Também lutando pela universidade, os liberais e laicistas definiam um programa totalmente diverso para os campi. Os privilégios iriam para os setores jurídicos de estudo, e para as áreas humanísticas. A laicidade universitária seria radical, desvinculada de todo compromisso religioso. A medicina seria também um setor importante dos trabalhos acadêmicos. É clara a incongruência dos programas recíprocos (católico e liberal) para a universidade a ser fundada.
Contrários às duas propostas acima, os pensadores positivistas afirmavam que o Brasil ainda não precisava de universidades, mas de ensino fundamental para as massas, sobretudo no campo tecnológico. Pereira Barreto, grande nome científico da ala positivista já em 1880 criticou pesadamente a idéia de universidade. No seu entender, segundo Ivan Lins (História do Positivismo no Brasil) “tudo estava por fazer, entre nós, em matéria de ensino primário e secundário, enquanto ao ensino superior faltavam os mais elementares recursos, sendo, em tal situação, verdadeiro despautério criar-se uma universidade”. Sobretudo nos moldes defendidos pelos católicos e liberais, a universidade seria uma instituição conservadora. É conhecida a lei dos três estados positivista: a primeira forma da sociedade seria a teológica, a segunda a metafísica, a terceira a positiva. Na primeira, os fundamentos sociais estariam na religião com seus dogmas e suas crendices. Na segunda, os fundamentos estariam nas crenças (consideradas sem sentido) sobre a liberdade individual e os direitos individuais. Na terceira, a grande base seria a ciência e a técnica. Se a universidade brasileira fosse controlada pela Igreja, ela tudo faria para prejudicar o advento, no Brasil, da idade científica e técnica. Se ela fosse dominada pelos liberais, destruiria o país com as ilusões metafísicas que imperaram na Revolução Francesa, com a respectiva anarquia social e política. Uma universidade liberal seria o domínio dos bacharéis palavrosos, sem conhecimentos modernos do mundo. A universidade, liberal ou católica, seria, no dizer de Pereira Barreto, “um monstro”. Ivan Lins resume as críticas positivistas da universidade, na mesma obra citada acima: “para que se possa substituir o ´reinado dos bacharéis´, inadequado ao mundo do presente -mundo da técnica, da indústria, da lavoura assentada sôbre a ciência- a arma fundamental é a escola. Precisamos de escolas técnicas e científicas, onde se ensinem as leis da natureza e os meios de aproveitá-las a nosso favor, já que o ´reinado exclusivo das letras, consagrando a supremacia da imaginação sôbre todas as outras faculdades, que compõem a razão, ao mesmo tempo que constitui um permanente perigo nacional, é ainda um embaraço, uma causa positiva de entorpecimento para todos os ramos da atividade industrial”.
Assim, os três pensamentos sobre a universidade (católico, liberal, positivista) apresentaram atitudes contraditórias entre si. Se considerarmos que eram essas as forças políticas nacionais, notamos o quanto foi árduo criar a mencionada instituição universitária. Em 1881 o governo apresentou o projeto de uma universidade no Rio de Janeiro. Mas apenas em 1920 se estabelecia a primeira universidade do Brasil. Nela foram reunidas a Escola Politécnica , a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Não se tratava de fato de uma universidade, mas de um ente artificial, sem as determinações de uma universidade efetiva. Há quem diga que o alvo de semelhante fundação deveu-se à necessidade de entregar um título “nobre” ao rei da Belgica, o rei Alberto primeiro, que visitou o Brasil naquele ano.
O debate sobre a universidade e a sua inserção na vida social mantêm, ainda em nossos dias, as grandes linhas das doutrinas imperantes no século 19. O problema da passagem da ciência à técnica e a educação das massas populares (ensino fundamental versus ensino universitário) ainda permanece na pauta brasileira da educação. Os mesmos desafios definem as funções da universidade brasileira: compatibilizar as garantias individuais e as necessidades coletivas, na sociedade e no Estado.
As universidades federais, tendo como base a Universidade do Brasil (do Rio de Janeiro) foram criadas nos Estados através da ação do governo federal, normalmente em acordos com os governos estaduais, onde até hoje é forte a presença de oligarcas . Deste modo, o ritmo e o modo dessas universidades, em sua criação e expansão, deveram-se e devem-se aos tratos entre o poder federativo, o governo sobretudo, e os Estados. Os professores, assim, salvo em exceções notáveis, normalmente eram recrutados entre os integrantes das elites regionais, as oligarquias. Lentamente foram estabelecidos critérios acadêmicos de ingresso, como a exigências de titulação, produção científica e humanística, etc. Embora muitos professores fossem estrangeiros, o número de docentes nacionais não foi diminuto, pelo contrário. Pode-se dizer que desde o início havia uma composição razoável de mestres brasileiros e estrangeiros.
Há uma tese comum sobre o “atraso” na instalação das universidades no Brasil. Em outros países sul americanos, aquelas instituições seriam bem anteriores do que as nossas. É preciso cautela com as afirmações sobre o plano cronológico da fundação universitária entre nós e na América do Sul. Em primeiro lugar, as universidades implantadas nos outros países sulamericanos tiveram a grande influência do pensamento católico, o qual mencionei em minha primeira resposta. Ou seja, elas contemplavam as determinações desejadas pela Igreja, em contraste com outras correntes de pensamento, como a liberal e a positivista. Assim, nem seus curricula, nem sua ratio studiorum se aproximavam do modelo europeu e norte americano de universidade, imperante no século 19. Elas não seriam ditas “universidades” segundo critérios rigorosos, mas escolas superiores de filosofia, letras, teologia, direito, medicina. Por outro lado, neste mesmo campo religioso, as instituições jesuíticas de ensino no Brasil tinham caráter superior. Simplificações históricas não ajudam muito a entender a lógica, sobretudo no campo da política estatal e da sociedade civil, que definiu as várias formações nacionais e educacionais na América do Sul.
As universidades sempre foram discutidas no Brasil, sobretudo pelos pensamentos que mais se interessavam pela vida social. Católicos, liberais, positivistas, tinham idéias conflitantes sobre o papel da universidade na vida política e social brasileiras. Com os tempos, os pensamentos socialistas e comunistas, os defensores dos mais variados projetos para o Brasil, precisaram enfrentar o dilema universitário. No período JK, por exemplo, o ISEB (leia-se o livro fundamental de Caio Navarro de Toledo, ISEB, Fábrica de Ideologias) enfrentou a questão universitária. A UNE, na época de João Gourlart, defendia que a reforma universitária era tão necessária quanto a reforma jurídica, agrária, fiscal, etc. O autores do golpe de Estado de 1964 implementaram, sobretudo a partir de 1965, uma política singular: enquanto destruiam a qualidade do ensino oficial primário e secundário do Brasil (fato reconhecido inclusive por observadores internacionais), favorecendo as escolas particulares para as elites e para as classes médias, eles mantiveram as universidades como ilhas de excelência. As universidades, sobretudo em algumas áreas, como a física, atendiam as demandas de uma poderosa corrente de opinião nacional e das Forças Armadas, a qual propugnava o “Brasil potência”. Os cérebros para idealizar e garantir os meios para semelhante política sairiam da universidade. Ao mesmo tempo, seria preciso moldar os campi para esse alvo. Seria preciso expulsar de seu interior os pesquisadores, docentes e alunos que não aceitassem a ditadura e a ideologia da segurança nacional. Não é um acaso que os setores católicos, sobretudo os democráticos e progressistas (fortalecidos pelo Concilio Vaticano 2), os socialistas e comunistas (mesmo os liberais foram reprimidos) tenham sido perseguidos, cassados, expulsos do espaço acadêmico.
Muitos quadros valorosos resistiram à ditadura dentro da universidade, entregando os cargos intactos aos cassados quando houve a anistia. Outros docentes agiram de modo tíbio ou conivente com os militares. O “livro negro” da Usp traz exemplos melancólicos de colaboração entre a ditadura e os campi. Note-se que o costume de agir em conjunto com os orgãos repressivos, por parte de autoridades acadêmicas, vem de antes da ditadura. A Revista da Adusp editou um número especial sobre a colaboração da reitoria da Usp com os orgãos repressivos, com provas irrefutáveis. A regra geral, no período da ditadura, foi o conúbio entre autoridades acadêmicas e as de repressão. Nomes importantes dos campi foram elevados, também não por acaso, aos ministérios que se encarregavam de exercer o arbítrio no país, como o Ministério da Justiça. A universidade cumpriu muitos papéis durante o regime castrense. Alguns de seus membros foram heróicos na tarefa da manter a qualidade superior da pesquisa e do ensino. Outros, entregaram-se à colaboração sem freios éticos com os donos do mando político da hora. O movimento estudantil, na época, foi um dos esteios da luta em prol da democracia e do respeito aos direitos humanos. Quanto `a criação de universidades pelo governo militar, este ponto apenas realça a prática anterior, comentada por mim na primeira resposta acima: para conseguir alguma legitimidade e poder de mando, o governo federal (nas mãos de civís ou de militares) precisou do concurso das oligarquias regionais. A instauração de muitos campi significou o aporte de recursos financeiros aos Estados, prestígio político, lugar de emprego para os filhos das elites.
Como resultado da política de destruição do ensino fundamental público, foi produzida a enorme disparidade que impede até hoje o acesso dos filhos de classes pobres à universidade pública. O vestibular é a cancela que permite a entrada nos campi oficiais de filhos de classe média e rica (apenas em algumas escolas os ricos são grande parcela do alunato, como nas escolas de medicina, politécnicas, etc, os filhos dos muito ricos estudam no exterior ou em instituições de elite, como a FGV e outras) e barra a entrada dos “negativamente privilegiados” (o termo é de Max Weber). Deste modo, como fruto da política ditatorial, os campi oficiais permanecem, até hoje, como reféns da classe média. Nos últimos tempos nota-se um aumento de pessoas oriundas de famílias com parcos recursos. Mas trata-se de uma tendencia que não desmente o fato, escandaloso, de que a maior parte da população jovem frequenta universidades pagas, sem meios de ingresso na universidade pública. O problema da gratuidade do ensino, neste ponto, torna-se um verdadeiro dilema que precisa ser resolvido, para não persistir esta disparidade injusta em termos sociais.
Recomenda-se a leitura dos trabalhos escritos sobre professora Lourdes Favero, que publicou relevantes textos sobre a antiga Universidade do Brasil. A UNB, por sua vez, surgiu de projetos que se uniram, elaborados por pessoas de diferentes atitudes diante do mundo, religiosas e não religiosas, como Frei Matheus Rocha, da Ordem dos Frades Dominicanos, e Darcy Ribeiro. Um estudo histórico da UNB mostrará a relevância dessas figuras e das correntes de pensamento que elas representam. A UNB é indissociável das noções de desenvolvimento econômico, social e político que imperaram durante o período JK e durante o governo Goulart. Tratava-se da universidade que serviria ao projeto de uma nação independente e próspera em todos os sentidos. Com o golpe de 64 ela foi ferida profundamente, passando a se constituir, através do movimento estudantil e docente, num espaço de crítica ao regime castrense na própria capital da República. A USP surgiu como projeto da oligarquia paulista, a qual se insurgira contra Vargas e fora vencida na Revolução de 32. O projeto da USP era o de instaurar elites intelectuais para o comando do país e aperfeiçoar o ensino de primeiro e de segundo gráu. No todo, a USP não ultrapassou um sentido profundamente conservador em termos políticos, ao mesmo tempo em que desenvolveu saberes avançados que muito contribuiram para o progresso econômico e técnico do Estado de São Paulo. A Unicamp surgiu de uma dissidência da USP, liderada pelo professor Zeferino Vaz, cuja idéia era ampliar a produção de saberes de avançados no portal do interior paulista.
Todas as universidades assim constituidas ajudaram, e muito, na configuração de conhecimentos e técnicas essenciais à sociedade brasileira como um todo. Elas precisam definir estratégias que pemitam a passagem dos conhecimentos produzidos nos campi para a indústria, dando ao país condições de competitividade internacional. A soberania do Brasil, sem esse passo, estará sempre ameaçada pela anemia industrial e do comércio. Os próximos passos das universidades mencionadas residem na ideação de meios que permitam a passagem dos laboratórios e bibliotecas para o setor industrial, garantindo saberes humanísticos e jurídicos que permitam aperfeiçoar o Estado democrático de direito em nossa terra
Autonomia universitária
Após a ditadura militar, com a frágil democratização política e social, o Estado de direito foi estabelecido na letra da Carta Magna. Elaborada pelo Congresso Nacional que se auto proclamou constituinte, a Lei Maior brasileira recebeu, com inequívocas formulações democráticas e justas, certas marcas dos antigos representantes, muitos deles acostumados a obedecer ao Executivo ditatorial ou a servir interesses privados que usurparam verbas, subsídios e direitos no longo governo castrense. Vários dispositivos constitucionais, como a obrigatoriedade da inversão de recursos para o ensino público, foram ameaçados no governo Sarney, Collor, FHC, com o uso de medidas provisórias que, a pretexto de corrigir e administrar a economia, confundida na maior parte das vezes com o interesse do mercado, retira aqueles recursos das áreas sociais, sem que seja possível contestar o roubo.
Dentre as formas democráticas definidas na Constituição de 1988, impõem-se as idéias e preceitos ligados à autonomia. A autonomia universitária não está isolada no documento maior de nosso direito público e privado. Pelo contrário.Os campi são proclamados autônomos na mesma ordem semântica e doutrinária em que são abertos os caminhos para a autonomia de outros setores do Estado. Como adianta a competente jurista Anna Candida da Cunha Ferraz em artigo na Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo ( 5/10/1998) “consiste a autonomia na capacidade de autodeterminação e de autonormação dentro dos limites fixados pelo poder que a institui”. A Federação é o único ente que detêm soberania plena, cuja fonte encontra-se nos povos que a constituem. Os estados brasileiros gozam de autonomia, não de soberania absoluta. Deste modo, unidos em Federação, não podem ver abolido, suprimido, alterado ou restrito, o seu aspecto “au-tonômico fixado pelo texto da Lei Maior, seja para interpretá-lo, seja para lhe dar aplicação”.
Caso um dos poderes federais ou estaduais desejem recusar este traço, deixa de existir respeito à norma que integra a ratio essendi da própria Constituição, o que seria um claro golpe de Estado. Como resultante sadia e rigorosa, outras entidades nacionais, como os municípios (artigos 34, VII, “C”), o Poder Judiciário (autonomia administrativa e financeira, no artigo 99), e o Ministério Público (artigo 127, §2) têm autonomia funcional e administrativa. Todas estas medidas servem enquanto engaste no qual se insere o artigo 207, que assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
A autonomia do Poder Judiciário é referida explicitamente, apesar de estarmos sempre na incerteza de sua essência no Brasil, enquanto Poder estatal que deveria ser independente e harmônico “em relação aos demais, segundo preceitua o artigo 2º da Constituição Federal”. A jurista a-dianta algumas razões para esta lembrança do legislador. Mas não se refere a um elemento determinante para semelhante referência da Constituição. Após duas fortíssimas ditaduras ainda neste século, a de Vargas e a dos militares, o Poder Judiciário foi cerceado de todos os modos, e um deles foi a dependência excessiva em face das determinações dos ministérios, em especial os de ordem financeira e de segurança. Quem viveu os dias de Francisco Campos, o autor da famosa “Polaca”, e do AI-5, percebe muito bem o significado desta explícita menção à autonomia do Judi-ciário.
Também ao Ministério Público foi assegurada autonomia, “cujo conteúdo expresso na Constituição abrange a autonomia funcional e a autonomia administrativa”. Também neste plano, os óbices que impediam norma, de ordem histórica e política, são conhecidos. O legislador procurou diminuir a influência do poder na busca de proporcionar justiça ao povo soberano.
Como resultado incipiente dessas autonomias, do Judiciário e do Ministério Públicos, tivemos vitórias significativas do Estado de Direito contra a renitente ditadura do poder executivo. Este, através de verdadeiros e freqüentes golpes de Estado, definiu planos econômicos que feriram até o fundo o direito público e particular. Os planos Cruzado, Bresser, Collor e o Real, reúnem uma soma impressionante de roubos e seqüestros da economia popular, corrigidos apenas em parte pelos tribunais. Se não existisse a autonomia, os prejuízos para a ordem do direito democrático seriam ainda maiores. No bojo daqueles planos, ocorreram inúmeros atentados ao tesouro, em várias instâncias e modos.
O Ministério Público ajudou a diminuir, em parte, a impunidade dos corruptos, abrigados sempre à sombra do Executivo ou dos setores que, nos outros poderes, como o Legislativo, a ele se subordinavam, sem autonomia e sem vergonha. Durante todo o processo das chamadas “privatizações”, era comezinho ler na imprensa os ataques, orientados diretamente do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios, contra juízes e promotores, sobretudo por ocasião de liminares justas, legais, competentes que vetavam negociatas com dinheiro público.
Os frutos do conúbio entre os poderes da república com os grupos financeiros internacionais começaram a se evidenciar graças à autonomia do Judiciário e do Ministério Público. A plena autonomia de ambos surgiu para atenuar os males das ditaduras, que formaram uma ética na qual o Executivo tem todos os direitos, e os demais poderes e instituições apenas deveres, ou apenas o direito de nego-ciar seus direitos, traduzido isto em vantagens pessoais ou corporativas. Sem autonomia, os juízes e promotores nem sequer poderiam atenuar o permanente esbulho jurídico e financeiro praticado pelo poder Executivo e seus afins. Basta olhar o quadro dos contribuintes para a Arrecadação Federal, notando que nossa Receita não consegue recolher impostos dos grandes conglomerados financeiros e das grandes fortunas. Mas o governo arranca impiedosamente, na fonte, dinheiro da classe média. Na própria circulação das mercadorias, as classes pobres pagam impostos. Tudo isso mostra o quanto é importante a autonomia na instituição jurídica. Com a lei do foro privilegiado, proposta pelo governo FHC e aprovada no Parlamento sob a administração do PT, um retrocesso imenso ocorreu neste ítem. A referida lei favorece a improbidade em todos os níveis do poder nacional.
Volto a citar a dra. Anna Candida: “A autonomia universitária vem consagrada no Texto de nossa Lei Maior, em seu artigo 207. Coube à Constituição de 5 de outubro de 1988 elevar, pioneiramente na história da universidade no Brasil, a autonomia das universidades ao nível de princípio constitucional.” Na Constituição de 88, como se viu, as garantias universitárias entram num rol de autonomias, visando a atenuar o poder ditatorial do Executivo. “Uma primeira e relevante observação deve ser extraída do preceituado no artigo 207 e diz respeito à natureza da norma constitucional quanto à sua eficácia e aplicabilidade. O princípio autonômico assegurado às universidades pelo constituinte originário tem seus contornos definidos em norma auto-aplicável, bastante em si, na lição da doutrina clássica, ou em norma de eficácia plena e de aplicabi-lidade imediata (...).” É insofismável o preceito constitucional. Mas, como sabemos, a arte política entre nós reside especialmente na manipulação sapiente dos sofismas.
Ética e universidade
E preciso passar, depois do resumo histórico sobre a gênese das nossas universidades, e das reflexões jurídicas sobre a autonomia universitária, à relevância da questão ética. Os campi não constituem poder, porque não têm fôrça física para impor seus alvos. Não se encontram nos direitos dos universitários a aplicação da norma jurídica universal. Os seus recurso têm origem na sociedade, pelo Estado, porque a universidade não tem força legitima para cobrar diretamente impostos. No campus, também, não existe poder religioso, visto que nenhum docente ou pesquisador fala com mandato divino, como nas igrejas. As duas únicas fontes de existência legítima, para os universitários, encontram-se na integridade ética e na competência científica. Falemos um pouco, pois, de ética.
Agir no mundo ético é operar como se cada um de nós estivesse “em casa”. Um alemão sente-se “em casa”, quando encontra outros alemães. Um francês idem. Um alemão católico sente-.se ainda mais em casa se encontra outros alemães católicos. Um alemão católico e físico, sente-se mais em casa quando encontra outro que possui as mesmas marcas espirituais, os mesmos hábitos, os mesmos métodos, as mesmas fórmulas para analisar o mundo. E assim por diante. Quanto mais os signos utilizados (e produzidos pelos homens no tempo histórico) forem comuns, mais “em casa” estará o indivíduo. Mas o hábito comum não seria um obstáculo para que os indivíduos percebessem que suas atitudes, valores, etc. poderiam ser nocivos ao grupo e aos próprios indivíduos? Um preconceito partilhado coletivamente não deixa de ser preconceito.
É a partir dessa dúvida que a ética se dedica ao estudo, à pesquisa das variações comportamentais ao longo da história humana, dos povos e dos grupos em seu interior. A ética procura descrever os costumes de cada povo ou grupo e deste modo a antropologia é uma das suas mais eficazes auxiliares. Descrever comportamentos de modo rigoroso, sem aplicar ao grupo estudado normas e valores alheios a ele, tal é o primeiro passo da ética. Só após captar os valores de um conjunto social determinado, pode a reflexão ética compará-los aos hábitos de outras comunidades.
Assim, a ética pretende atingir um âmbito mais amplo de valores do que a moral, sem prender-se aos indivíduos que os empregam, como seria o caso da moral subjetiva. Um cientista possui hábitos comuns com o seu grupo de referência e pode ter seus atos e pensamentos acompanhados por este grupo. A comunidade dos cientistas, por sua vez, insere-se num determinado coletivo nacional e este integra o que se pode chamar o todo da comunidade internacional da ciência. A passagem lógica e prática dos indivíduos ao universal ocorre entre níveis diversos de visibilidade.
Se um indivíduo for brasileiro, os signos entre os quais ele se move, que definem a ética da sociedade em que ele nasceu e vive, adquirem determinada figura. Mas se ele, além de brasileiro, ele pertence ao grupo dos pesquisadores, digamos, da química analítica, os signos e atitudes que deve aprender, que deve exercitar, que deve ampliar e atualizar, são bem diversos dos que são exercidos, digamos, na física experimental ou nas matemáticas aplicadas.
O mundo da ciência, como o universo social que o envolve, pode ser descrito como uma sequência de esferas, cada uma com a sua lógica e com uma ética próprias. A esfera maior, o Estado, encarrega-se de administrar de modo geral todas as demais esferas. Em cada um destes círculos, os indivíduos devem aprender os sinais, os gestos, a linguagem que lhes são próprias. Do culto religioso às instituições científicas (onde se desdobram várias linguagens, vários signos, vários gestos paradigmáticos), os indivíduos aprendem a distinguir o que pertence a cada uma das esferas. Adestrados, eles não introduzem por ignorância ou por arbítrio da vontade o que é habitual numa delas em outras. Eles aprendem que é imprudente ou simplesmente errôneo introduzir o que é próprio do religioso no científico, no estético, no político, etc. Caso contrário, a mistificação se instala em todos estes domínios. Impôr uma religião e invocar para isto “razões científicas” ou uma “ciência” como se religião fosse, é obra de suma incultura.
Importa salientar o vínculo da ética com a concretude, contra a vazia abstração da consciência apenas moral, da consciência própria aos indivíduos. É concreto, neste plano, o que resulta da síntese dos particulares. O concreto é a unidade de todos os opostos, um ponto de chegada na reflexão humana, jamais uma base de partida. Só atinge a concretude a mente que soube deixar a abstração das partes. Jamais se atinge a concretude das comunidades mantendo-se a reunião de indivíduos isolados, como se eles fossem independentes das totalidades onde nascem, vivem, morrem. Se é verdade o enunciado de Leibniz, de que não existe um só ente igual ao outro no universo, também é verdade que nada pode ser dito dos indivíduos sem levar em conta o que eles possuem em comum, o que adquiriram de maneira coletiva. Se ninguém nasce químico analítico, nem por isto deixa de ser verdade que “ser químico analítico” só passa a ter sentido para os indivíduos no interior da comunidade visível, ética, que se determina segundo paradigmas, linguagem, metodologias, etc. daquele ramo científico. Não existe nenhum “químico analítico inefável, intangível, invisível”. Tudo o que um sujeito que se move neste campo do saber faz, enuncia, ou é novo para os seus pares e por isto precisa ser comunicado, ou é conhecido por eles. Todos estes traços definem a ética de seu grupo, a qual é diferente da que define o coletivo dos físicos, dos artistas, dos matemáticos, etc.
A ética, desse modo, não se imiscui de modo arbitrário, com uma tábua de valores particulares e externos à prática deste ou daquele grupo social, deste ou daquele povo, deste ou daquele segmento do saber. Ao contrário da moral, a ética não pode falar a partir do dever-ser, mas de como é um determinado coletivo, como ele age, como ele se constituiu histórica e socialmente.
Mas se é desse modo que age a análise ética, quando será possível, e como, encontrar os limites ao agir desta ou daquela comunidade humana? Quando os seus hábitos mostrar-se-ão benéficos ou maléficos à humanidade? Apenas e tão somente no campo mais amplo e inclusivo do Estado, onde todos os agrupamentos se reúnem e se definem uns em relação aos outros. Cabe ao Estado, reunião de todos os indivíduos, classes, movimentos, dos químicos analíticos aos jogadores de futebol, passando pelos sindicalistas, estudantes, empresários, jornalistas, escolas de samba e todas as formas de socialização verificar, através da inspeção permanente dos hábitos e valores dos grupos, quais práticas e signos são adequados ou nocivos ao todo social. Para isto, o Estado possui as três faces essenciais para garantir os grupos particulares e ao mesmo tempo garantir o coletivo maior em que eles se inserem.
O Estado delimita o âmbito e as pretensões dos grupos particulares. E como os limites do próprio Estado são definidos? Esta é a questão moderna por excelência. Ela data da Revolução Americana e da Revolução Francêsa. Se o Estado o impõe limites aos grupos e indivíduos que nele se movem, a sua instituição controla os hábitos físicos e mentais daqueles setores. O Estado, não raro, ultrapassa os seus próprios limites e tenta impor padrões de comportamento e valores aos grupos particulares. A Constituição americana e as teses sobre os direitos dos cidadãos, produzidas na Revolução Francesa, indicam as barreiras que devem existir para proteger o Estado, os indivíduos e os grupos. A presença de leis, tratados, convenções, todas relativas aos direitos dos individuos e dos grupos diante de Estado, tudo isto não exorciza, de modo direto, o risco do abuso dos monopólios estatais.
Os Estados totalitários do século 20 e quase todos os Estados efetivos, tendem a ultrapassar as cancelas que salvaguardam as múltiplas éticas dos setores estabelecidos em seu interior. Assim, na extinta URSS, o Estado atribuiu-se o direito de impôr normas éticas aos trabalhos dos cientistas, artistas e demais atividades, através de doutrina oficiais sobre a ciência, a arte, etc. Mas não apenas o Estado pode querer intervir nas éticas dos grupos particulares. Movimentos religiosos, embora submetidos ao Estado, julgam-se não raro com o direito de definir certo monopólio ético contra os grupos científicos, artísticos, etc. O fundamentalismo cristão ou qualquer outro fundamentalismo religioso, desconhece os hábitos e os signos dos grupos científicos, artísticos, etc, tentando impor-lhes, de cima e do exterior, regras alheias ao seu costume. Também a chamada “opinião pública”, movida pela imprensa moderna, pensa poder decidir o que deve ser feito na pesquisa, na arte, etc. Como harmonizar, então, os pressupostos do Estado e dos movimentos de massa, religiosos ou ideológicos, e a ética dos grupos de pesquisa e demais grupos?
A resposta eficaz, que tem merecido o esforço da ética moderna, é como lembrei no início, a democracia e o Estado de direito. Democracia, porque nela nenhum grupo possui a qualidade de ser o representante único do coletivo. Todas as atitudes éticas recebem equivalência no plano do pensamento. O Estado de direito, porque assim a democracia se rege por leis adotadas pelo mesmo Estado, na sua face legislativa, as quais podem ser interpretadas e corrigidas pelo poder Judiciário. O executivo tem os dois outros poderes como limites da sua ação. Deste modo, os grupos do social podem ser ouvidos no Parlamento ou nas Cortes de Justiça. Democracia sem Estado de direito é despotismo da maioria ou de um ou outro setor social. O Estado de direito, por sua vez, tem como conditio sine qua non a democracia. Os limites éticos da pesquisa científica só podem ser definidos no interior do Estado democrático de direito.
Ao contrário da moral, onde a luta de todos contra todos é infindável, visto que todo indivíduo ou grupo postula que a sua norma é a mais adequada para eles ou para o todo, a ética procura resolver os conflitos dos grupos através do debate social, chegando ao parlamentar, àss decisões e juízos dos tribunais, definindo uma isonomia dos grupos no seu modo de ser particular.
Um desastre ocorrido quando o Estado democrático de direito é ausente, ou foi abolido, situa-se justamente na perda dos limites do Estado, no seu trato com os grupos e indivíduos particulares. Refiro-me novamente à tentativa de impor doutrinas éticas e científicas aos pesquisadores, artistas, etc. Entre o nível em que se encontram os grupos particulares de cientistas e o todo do Estado, há uma escala de universalização da responsabilidade e da eficácia. Um erro do Estadista pode ser letal para toda a comunidade nacional e para a comunidade humana no seu todo. Um estadista que proclama a guerra sem pensar nos seus efeitos ou condições pode causar prejuízos tremendos aos seus patrícios e aos cidadãos do mundo. É justo por isto que ele precisa contar com ajuda de todos os grupos que se movem no interior do Estado. Assumir determinada política pública na ignorância dos hábitos e das riquezas espirituais que reinam nos grupos particulares gera desastres. Os soviéticos e os chineses do “Grande Passo à frente” são testemunhos disto. Por isto, quando se trata de política científica e tecnológica, o Estado, sobretudo na sua face executiva, precisa contar com o saber dos grupos organizados e conhecedores das várias faces fenômenicas que definem o conhecimento sobre natureza e sociedade. Quanto menor o erro na determinação macrológica, melhor para o Estado. O tempo é um fator vital, que não pode ser desperdiçado com erros.
É por esse motivo que os grupos de pesquisadores devem ter a maior licença para errar, utilizando o tempo em registro diferente ao ritmo da política, da guerra, etc. Se tempo é dado aos cientistas, o que lhes permite empreender vários caminhos, antes de seguir determinadas fórmulas ou procedimentos, o tempo é poupado ao estadista, porque ele não escolherá saberes e métodos pouco investigados, pouco testados. Se o estadista impede que o trabalho científico tateie nos laboratórios, nos campos de pesquisa, ele paga muito caro esta falta de emprego do tempo, quando escolhe certa política pública, em termos de paz ou de guerra.
Se a lógica da política é a de errar o mínimo possível, a da ética científica é a de garantir aos seus integrantes o direito de errar na busca de conhecimentos e de métodos. E não há moral de boas intenções, não existem normas éticas que podem ser definidas a priori neste campo. Se os grupos de pesquisa, se os grupos artisticos, enfim, se a comunidade universitária não tem o direito de livre investigação, a sua própria ética é suprimida. Este é o âmago, no meu entender, da autonomia de cátedra e da autonomia universitária. O Estado paga, em nome da sociedade civil, a reunião dos pesquisadores, e define os limites físicos e jurídicos da atividade científica. Mas o Estado não pode, com risco de se tornar mais fraco e menos eficaz na sua ação pública, retirar dos grupos de pesquisadores a sua ética essencial, a que se define essencialmente enquanto busca, e não como um apanhado de certezas engendradas em tempo certo, pré-estabelecido burocraticamente.
O direito de errar tem sido muito desrespeitado, nos últimos tempos, nos processos de avaliação, cuja idéia foi produzida no Império britânico pela Sra. Tatcher, para justamente controlar, em nome do Estado, a produção dos grandes conglomerados universitários daquele país. Este hábito do Estado e dos governos espalhou-se pelo mundo, causando prejuízos graves, no meu entender, aos setores de pesquisa e de ensino brasileiros.
Note-se a diminuição drástica do tempo atribuída à pesquisa, sobretudo a destinada à formação dos novos cientistas. Na CAPES, se um grupo ou indivíduo atrasa seis meses a sua dissertação ou tese, por força da busca imanente (falhas de método, hipóteses equivocadas, etc), todo o programa em que eles se inscrevem é punido, com diminuição de recursos, bolsas, etc. O Estado brasileiro, com este procedimento, atenta contra os seus próprios interesses, porque os saberes coletivos abreviados são pouco discutidos, experimentados, postos à prova pelos grupos de pesquisa. O Estado, agindo deste modo, põe-se contra a ética definida dos pesquisadores, ética que não raro é anterior à própria existência do Estado brasileiro, visto que foi gerada ao longo da história universitária, a qual tem mais de mil anos. Os hábitos universitários constituem uma segunda natureza, definem valores e atitudes mentais que não podem ser banidas ou usurpadas por este ou aquele partido governante, esta ou aquela seita religiosa, este ou aquele movimento de massas. A autonomia universitária não se define apenas diante do Estado, mas também frente à sociedade.
Se o Estado democrático de direito possui os monopólios das políticas públicas, se nele se resolvem os problemas éticos mais graves da vida de um país, também lhe cabe a função coletiva, ou seja, ética, de incentivar ao máximo a pesquisa em ciência e tecnologia, além de outros aspectos da cultura. Isto porque as sociedades que não adquirem saberes naqueles setores, como demonstra o grande etnólogo André Leroi-Gourhan, um especialista na história social unida à história da técnica, simplesmente perdem a força para continuar a luta pela sobrevivência e expansão, no interior da natureza e diante de outros coletivos humanos. O Estado moderno foi produzido para proteger as pessoas singulares e a sociedade da morte e para facilitar sua vida, ampliando o tempo da existência e adiando o mais possível o seu fim. Logo, um Estado que não provê os meios para que se produza a mais fina e abrangente rêde de instituições votadas à pesquisa avançada, não cumpre a finalidade para a qual é-lhe entregue o monopólio das políticas públicas. Além de formar pesquisadores em número adequado aos padrões internacionais, o Estado digno deste nome providencia para que eles tenham ambientes de trabalho dignos dos hábitos da comunidade, os seus paradigmas de excelência. Doutores em pesquisa científica que não tenham trabalho ou recebam pagamentos incompatíveis com a própria expansão de conhecimentos, estão sendo lesados pelo govêrno ou pela instituição estatal no seu todo. E as consequências éticas são letais ao coletivo que envolve a vida de pesquisa. A sociedade morre um pouco, sempre que recursos para a pesquisa científica e tecnológica são subtraídos dos laboratórios. A mediação entre o que se faz na comunidade acadêmica e os seus frutos para a sociedade é, pois, um problema ético, político, jurídico, econômico, ultrapassando de muito as opções morais deste ou daquele indivíduo ou grupo.
A universidade, as ciências e as técnicas. hoje
Expostas as bases da ética, na vida que se liga à pesquisa, vejamos agora a situação das nossas universidades. Estas passaram por um período negro, desde o governo Collor de Mello aos nossos dias. Recursos humanos e financeiros foram extraídos dos campi e os obstáculos sofridos nas suas determinações foram os costumeiros no país. As verbas receberam pleno controle dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Cortes e ajustes foram impostos, sem nenhuma consideração pelo principal fato da pesquisa e da docência: a continuidade e o tempo longo definem a essência do saber acadêmico. Assim, faço um balanço do estado em que se encontravam a pesquisa universitária nos últimos dias do governo FHC.
Começo com a citação da pesquisa coordenada pela professora Helena Nader, pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp). Ela mostra que pela primeira vez, após de três décadas de crescimento contínuo, caiu a participação do Brasil na produção científica mundial, passando de 1,08%, em 2000 para 0,95% no ano passado, o que representa uma queda de cerca de 12%. (Cf. jornal O Estado de São Paulo, 18 de setembro de 2002). A professora Nader indica, seguindo os indices ISI de 1973 a 2001, que “a produção brasileira continua crescendo, que o Brasil e o mundo estão investindo em ciência, mas o nosso país está investindo menos que os demais". Como salientaram a imprensa e vários outros pesquisadores, como os ligados diretamente ao MCT, a estimativa da pró-reitora pode não ser absolutamente certa. A participação brasileira teria crescido de 1,33% em 2000 para 1,44% em 2001. Nas duas versões, entretanto, ressalta o mais problema grave da política universitária nacional : a falta de recursos materiais.
O reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Carlos Henrique Brito da Cruz julga ser preciso verificar o número de citações feitas de trabalhos brasileiros, que demonstram a aceitação e importância dada pelo meio acadêmico. "O ideal é fazer uma análise do conjunto. Número de publicações, de citações, impacto provocado por elas. Nesse aspecto,vemos que a produção científica brasileira ganhou prestígio nos últimos tempos." Ele admite entretanto, que o setor de ciência e tecnologia vive um momento delicado. "Agências de financiamento como o CNPQ passam por um problema de verba que até hoje eu não havia presenciado".No seu entender, o contingenciamento de verbas num período em que a pesquisa brasileira demonstra respeito internacional revela uma necessidade urgente: "O Brasil ainda não conseguiu fazer uma conexão entre ciência, tecnologia e riqueza." Como exemplo, ele afirma que atualmente empresas no Brasil abrigam 9 mil pessoas na área da pesquisa. Na Coréia do Sul, onde a população é menor, esse número chega a 80 mil. "Precisamos criar um sistema integrado de pesquisa- produção tecnológica", afirma. Para que isso seja possível, completa, o ideal seria que o governo incentivasse medidas de pesquisa e desenvolvimento.
Já Fernando Galembeck , professor da Unicamp, pensa que “O quadro de hoje repete o que conhecemos dos últimos 20 anos, mas tem uma infeliz originalidade: é a perda de uma singular oportunidade, que não tem antecedente em toda a história brasileira. Pela primeira vez, temos no país uma população de pesquisadores realmente significativa, que incorpora a cada ano milhares de jovens muito bem formados, internacionalmente competitivos. Também pela primeira vez, temos uma convergência de motivações e de ações entre os acadêmicos, os empreendedores e os executores de políticas. Empresários buscam ativamente nas Universidades os temas e projetos que moldarão portfólios futuros de suas empresas, e também buscam o apoio da já rica (em conteúdo) ciência brasileira, para resolverem problemas e gargalos dos portfólios atuais.
Pesquisadores e empreendedores são recebidos e são ouvidos nas empresas e Universidades, surgindo cada vez mais casos importantes de trabalho conjunto, em busca da inovação produtora de emprego, de riqueza e bem-estar.Nunca antes vivemos uma tal situação, talvez por isso mesmo muitas pessoas não consigam reconhecê-la diante dos seus olhos. Certamente os que controlam os recursos da República não a reconhecem.
Estas pessoas não percebem que, se hoje ainda existem importantes recursos, é porque o Brasil se tornou inovador em muitos setores econômicos, graças à sua vigorosa, embora recente, prática de C&T. Não fossem casos notáveis como os da soja, do açúcar e álcool, do petróleo de águas profundas, das siderúrgicas, petroquímica e mineração, da indústria aeronáutica, bem como a nossa capacidade de atrair empresas de tecnologias de informação e de outras tecnologias avançadas, os controladores de boca de cofre não teriam cofre para controlar.
Por outro lado, se temos hoje uma capacidade de produzir riquezas, é porque outros controladores de cofre, no passado, foram lúcidos o suficiente para fazerem recursos fluírem para as atividades de ciência e tecnologia.Eles sabiam que estes recursos eram sementes, que se multiplicariam. As sementes se multiplicaram, por isso ainda somos uma nação e ainda podemos aspirar a termos um futuro.Hoje, o campo está mais fértil que nunca, e mais do que nunca necessitamos da colheita dos resultados da ciência, tecnologia e inovação. Por isso, precisamos insistir no discurso e nas ações mobilizadoras, até que os donos do cofre adquiram um mínimo de senso de estratégia. (“Controladores da boca do cofre minam desenvolvimento da C&T no Brasil,” artigo para o para o Jornal da Ciência da SBPC, e- mail).
Todos os citados acima, apesar de suas diferentes atitudes e doutrinas, afirmam a carência de recursos para a produção científica e a desejável passagem da pesquisa acadêmica para a indústria. E neste ponto, retomam, as teses sobre a passagem imanente do elemento técnico ao teórico e vice-versa. Não existe ruptura entre a produção científica e tecnológica, quando se trata de pensar o processo de humanização e de socialização. Os dois lados precisam ser valorzados, de modo que um não seja obstáculo ao outro. Sob pretexto de incentivar a inovação tecnológica, não se pode diminuir os recursos para a pesquisa de ponta. Mas esta última não pode atrair para si todos os investimentos do Estado e da sociedade, em prejuízo da produção. Sem a pesquisa de ponta, não há empréstimo de saberes e de técnicas avançadas, produzidas em outras sociedades. Sem aplicações técnicas, não ocorre fixação de tendências, o que permite que o rumo da pesquisa não se interrompa de modo catastrófico.
Que a nossa produtividade científica, apesar dos poucos investimentos estatais e privados, mantem às duras penas o ritmo e progresso, é algo inegável. No Jornal da Ciência, a Sra. Anelise Souza, Assessora de Comunicação do MCT, citando a revista Nature, em número recente (12\09\2002) indica que o Brasil, com a Coréia do Sul se destacam pela publicação de artigos científicos em publicações indexadas. Segundo dados prelimilares do novo relatório do (ISI), a produção científica do Brasil cresceu 11% de 2000 para 2001, passando de 9.511 para 10.555 artigos. A produção mundial, no mesmo período, apresentou o crescimento de 2,8%, passando de 714.171 para 734.248 artigos. No período entre 81 e 2000, pelos dados do ISI, o número de artigos brasileiros publicados em periódicos científicos internacionais passou de 1.889 (em 81) para 9.511 (em 2000), um crescimento de 403,49%, que coloca o Brasil entre os 17 países do mundo que mais produzem conhecimento. Esta conclusão, muito otimista na verdade, recebe duro golpe quando é lido o artigo do Prof. Sergio Ferreira, “A inadimplência da Fapesp” no mesmo número do Jornal da Ciência. Os termos do título e o conteúdo do artigo merecem toda atenção nossa. Mas fica sempre a pergunta: qual os limites da aplicação de recursos em inovação tecnológica? Neste instante, considerando-se a crise global de nossa economia e finanças públicas, tanto a pesquisa de ponta quanto a aplicação técnicas estão ameaçadas.
Essa é uma parte da herança que recebemos dos governos Collor de Mello e de FHC. Sem a continuidade na pesquisa, o plano do ensino entra de imediato em crise. Não é possível definir um ensino de padrão compatível com a contemporaneidade, sem investigações de ponta. Com o novo governo, as esperanças no plano educacional centraram-se ao redor das mudanças sociais e econômicas. Uma surpresa desagradável foi transmitida à comunidade acadêmica, logo nos primeiros dias da nova administração. Tendo em vista ampliar o superavit primário, às custas dos setores sociais, o setor financeiro da república tirou R$ 341 milhões do Ministério da Educação. Aqueles cortes não foram repostos, o que levou o ministro Cristovam Buarque a se posicionar contra eles em vários momentos.
Não faço, aqui, uma retomada dos elementos estatísticos envolvidos no assunto. Chamo a atenção, entretanto, para o problema da fé pública envolvida no recuo programático do governo. Creio que o novo governo inaugura um período administrativo sob o signo da ambigüidade. Em primeiro lugar, o seu Partido, logo nos primeiros dias, rompeu com o ideário que sustentou vinte anos de militância e de propostas contrárias aos modelos econômicos assumidos pelo país desde o fim do regime castrense. As reformas propostas ao Parlamento, a tributária e a da previdência, seguem o rumo diretamente oposto ao discurso do Partido durante os últimos governos. Algumas teses, como a taxação dos inativos, vão do enunciado negativo explícito, à marca de sua necessidade. Várias lideranças do novo ministério afirmam, alto e bom som, que o discurso anterior não era para valer, mas constituia apenas estratégia retórica ou propagandística para chegar ao mando.
Como todos os que observam a política nacional e a sua ética, deixo para analisar em outra ocasião o governo que assume a república. Lembro apenas que se um partido ou pessoa nega os valores que a levaram à vida pública e desconfessa sua fala anterior (no caso em pauta, meses apenas separam o dito do negado) a fé pública sofre abalos prejudiciais à governabilidade. Se é importante manter a confiança do abstrato mercado sem pátria nem alma, importa mais ainda guardar a palavra penhorada à cidadania. Ninguém rompe impunemente o contrato feito com a vontade geral e mantem a obediência às instituições. Quando a palavra assumida é quebrada pelo ocupante dos cargos oficiais, o âmbito político encolhe significativamente. Sem publicidade e transparência, nenhuma democracia persiste. Um Estado pode ser republicano e democrático nominalmente, mas desprovido de fé pública e alheio ao respeito pelos trato eleitoral que legitima o exercício da autoridade, ele é apenas máscara, trágica ou cômica, do poder baseado no direito. Nenhum carisma, por mais encanto que possua o seu possuidor, resiste à corrosão da confiança cidadã.
O cenário é sombrio. O que podemos fazer ? O primeiro passo, é lutar contra o monopólio do mando estatal, exercido pelo Executivo. Nossa história política está centrada nesta ditadura do governo sobre os demais setores do Estado. Legislativo e Judiciário, não raro, aceitam estas condições, vendendo, em prol de sua corporação, o direito de representar os povos e de lhes fazer justiça. Após as últimas atitudes do governo, cabe-nos alertar, dia e noite, de mil formas, parlamentares e magistrados, sobre o seu dever de controle sobre o Executivo, qualquer que seja o seu dirigente. É tempo de produzir, de estudar, com profundidade, todas as técnicas e saberes ao nosso alcance. É tempo de propor e lutar pela autonomia das agências de fomento à pesquisa e à pós-graduação, diante dos gabinetes da área econômica. O CNPq, a Capes,o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, não podem mais depender das decisões de uma equipe que só domina uma técnica econômica, a dos cortes orçamentários, e o manuseio do livro caixa, sendo inculta e bárbara em física, biologia, matemática, engenharia, educação, lógica, medicina, direito. É tempo de luta pela autonomia universitária, martelando sem cessar nos ouvidos dos parlamentares a importância estratégica deste passo.
É tempo, enfim, para a universidade, de assumir seu nome, sendo ao mesmo tempo universal e particular, constituindo uma instituição do Estado, no sentido mais amplo possível. Ela de servir como instrumento eficaz de aquisição e invenção de saberes, transmitindo-os em larga escala ao povo. Caso contrário, ela estará apenas colaborando para a morte coletiva, calada, como os doutores silentes e cúmplices nos regimes totalitários. Não temos força física, não ordenamos leis, não temos o controle do excedente econômico. Estas são as marcas do poder. Ainda possuimos autoridade científica e alguma elevação ética. Lembro uma a frase de Leroi-Gourhan, um dos maiores etnólogos do século passado, que pensou todos os momentos da hominização e da técnica : “somos inteligentes, porque ficamos de pé”.
Universidade Federal de Sergipe
Roberto Romano/Unicamp
1) Aspectos jurídicos da Universidade.
2) Um pouco de história da Universidade
3) Autonomia universitária
4) Ética e universidade
5) Universidade ciências e técnicas, hoje.
Aspectos jurídicos da Universidade
Academiae, quae sumptibus reipublicae fundantur, non tam ad ingenia colenda, quam ad eadem coercenda instituuntur. Sed in libera republica tum scientiae et artes optime excolentur, si unicuique veniam petenti concedatur publice docere, idque suis sumptibus, suaeque famae periculo. Sed haec et similia ad alium locum reservo. Nam hic de iis solummodo agere constitueram, quae ad solum imperium aristocraticum pertinent. (“As universidades fundadas às custas do Estado são instituídas menos para cultivar os intelectos quanto para os coagir. Numa livre república, pelo contrário, o melhor meio para desenvolver as ciências e as artes é dar a cada um a licença de ensinar aos seus custos e com o risco de sua reputação”. (Bento de Spinoza, Tratado Político, cap. 8).)
As frases acima, enunciadas por Bento de Spinoza, rigoroso pensador democrático do século 17, ajudam a entender a função da universidade pública. Aquele filósofo, adversário da censura e dos controles religiosos sobre o Estado, declara que as escolas estatais, nos países onde o poder recebe a tutela da religião, deixam o ensino e a pesquisa efetivos para coagir os engenhos. Ele pensava sobretudo na Universidade de Leyde, onde os cursos tinham como alvo imprimir no intelecto dos estudantes os dogmas da Igreja Calvinista. Não é possível esquecer, no entanto, que a crítica spinozana atinge também o autoritarismo católico que protagonizou instantes melancólicos da Sorbonne em toda a história moderna. Como diz o historiador J. Le Goff a universidade foi domesticada e auxiliou o mando absoluto do Estado e da Igreja. Os seus docentes tornaram-se “queimadores de livros”, no mesmo passo em que foram incenerados pelas autoridades civís,por instigação universitária, os que escreviam os mesmos livros. Spinoza, numa resposta digna, recusou a cátedra em Heildelberg e afirmou desconhecer limites do seu pensamento. E o governo do Príncipe Palatino lhe pedia “apenas” deixar fora de sua critica a religião estabelecida (Carta a L. Fabritius, 30/03/1673). A democracia, no seu entender, garante o uso ilimitado das inteligências e a liberdade sem peias. Todos os atributos do Estado democrático, tal como proposto na filosofia de Spinoza, são essenciais à universidade estatal que dele depende. Os pressupostos do primeiro repercutem na segunda. Assim, antes de entrar na análise dos problemas dos campi, hoje, considero obrigatório estabelecer alguns ítens sobre a vida estatal em regime democrático.
Quem trabalha na universidade pública –professores, estudantes, funcionários- tem consciência de que a instituição pertence ao Estado democrático de direito e deve obedecer as normas de convívio estabelecidas na Constituição política. A universidade pública se define pelo seu âmbito estatal ou nada significa. No Estado de direito a vida das pessoas é regulada por leis e não pelo arbítrio deste ou daquele dirigente político, setor social ou partido. O seu alvo é o de buscar o bem, a verdade, a beleza em todos os aspectos da vida humana. Com as ciências, as artes, os serviços sociais, ela cumpre o papel de ajudar o povo brasileiro na busca de uma vida digna, ética, bonita. Mantida com recursos de todos os cidadãos, a universidade não pode, como organismo de Estado, adotar uma ou outra doutrina política, ideologia, crença religiosa. Nela, todas as atitudes mentais e afetivas devem ser respeitadas, o que possibilita o convívio harmonioso dos seus membros. Uma característica do Estado democrático de direito reside na laicidade. Nenhuma religião, nele, pode ser imposta como oficial ou mesmo oficiosa. Como a cidadania é garantida a todos os que obedecem as leis, pagam impostos, cumprem suas obrigações civís e militares, cada indivíduo que compõe o Estado tem o direito de pensar de acordo com a sua consciência e de seguí-la nos atos, desde que o mesmo direito fundamental seja respeitado com relação a todos os demais.
Como é uma das mais elevadas instituições do Estado de direito (no seu âmbito os assuntos espirituais, científicos e humanísticos são pesquisados prioritariamente) nela deve reinar a isonomia das atitudes religiosas, ideológicas ou políticas. O ensino e a pesquisa pertencem ao monopólio jurídico do Estado. Este último, enquanto for democrático, garante o pluralismo no seu interior. Qualquer indivíduo ou grupo que não conviva com a diferença de pensamento está em lugar errado na democracia e na universidade, especialmente nos campi públicos. Exercer pressões sobre uma pessoa, no interior do campus, para que ela aceite ideologias, cultos, opiniões políticas ou sociais, significa um abuso duplo: em primeiro lugar, ocorre desrespeito à liberdade de consciência, em segundo, é cometida grave atentado contra a ordem constitucional que garante todos os direitos individuais e coletivos.
A comunidade política, num Estado democrático de direito, é a mais ampla associação dos seres humanos. Ela abrange um número de pessoas maior do que as acolhidas pelas igrejas, partidos, sindicatos, seitas e reúne a todos, crentes e não crentes, ao assegurar para cada um deles a segurança básica para viver de acordo com sua maneira de sentir. Na garantia da integridade corporal e do pensamento reside a forma legítima do Estado democrático. Quando, neste universo, um partido deseja o poder decisório, ele concorre ao mando em eleições livres, nas quais votam todos os cidadãos. Se uma igreja deseja ampliar o número de seus aderentes, tem como recurso o proselitismo, as missões, a propagação de sua fé. Mas as atividades dos partidos políticos e das igrejas são definidas em leis, as quais garantem os direitos dos que não professam a crença eclesiástica ou não aceitam o programa de determinado partido. Apenas em ditaduras (como foi o caso do nazismo e do estalinismo), um só partido exerce o poder. Em tiranias como a da Espanha na época de Franco, uma Igreja tem privilégios sobre as demais. Nas formas autoritárias a universidade foi obrigada pela força, ou aceitou, conivente com os seus violadores, fornecer um ensino com base em doutrina oficiais. Sua pesquisa foi manietada e dirigida pelos interesses políticos e ideológicos dos governos. Contra os autoritarismos, o direito de expandir a liberdade própria e a crença individual ou de grupos reside na essência do Estado democrático, mas não de qualquer modo, como por exemplo, pelo emprego da força, ou por meios que retirem da pessoa alvo o pleno domínio de si, em termos mentais ou volitivos.
O Estado democrático garante a todos os indivíduos a adesão a qualquer doutrina, qualquer partido, igreja ou seita. E garante também, o que é vital, a saída dos mesmos indivíduos, incólumes, de todos esses organismos políticos ou religiosos.É crime, nele, obrigar (por coação física, emotiva ou chantagem de qualquer ordem) uma pessoa a permanecer num partido ou igreja. Esta é uma das maiores diferenças entre o Estado democrático e as seitas. Estas últimas, com técnicas similares às empregadas na coleta de adeptos, utilizam meios de pressão, legítimos ou ilegítimos, para impedir que um membro delas se desolidarize. É nesse instante que as seitas são mais profundamente nocivas aos valores éticos democráticos. As pressões, ameaças à integridade psicológica ou física das pessoas, não podem ser toleradas no Estado. É dever deste último providenciar para que a adesão ou a saída das seitas, e de todos os aglomerados humanos, sejam feitas com garantias da máxima e livre segurança.
A universidade forma indivíduos para as mais diversas áreas de pensamento. O universo humano é o seu horizonte. Ela serve às comunidades locais no mesmo impulso em que serve a comunidade nacional e internacional, e vice-versa. Toda universidade digna deste nome não se limita ao espaço e tempo da imediatez. Ela realiza a passagem do singular ao universal e permite aos cidadãos de uma cidade perceberem seus problemas e esperanças em nível cósmico. Para isto, o requisito é a plena liberdade, a força crítica assegurada para mestres, pesquisadores, alunos. Instituição mantida pela vida civil, se a universidade permite que parte de seus quadros não chegue ao seu fim, a investigação e o ensino livres, ela trai a sua missão, para a qual impostos são recolhidos de toda a cidadania. Todo atentado à liberdade dos indivíduos no campus, seja de ordem emocional, seja de ordem física, deve ser previsto e proibido, pois se não se trata de inocente jogo de formas sociais privadas, mas de uma subversão da ordem constitucional, de uma desobediência às leis, as quais garantem a liberdade de todos e não a de um grupo humano apenas. Ninguém, sob pretexto algum tem a prerrogativa de se colocar acima do Estado democrático de direito. Neste último, todas as relações de mando podem e devem ser examinadas de modo público e transparente. Todos os que se movem nas sombras e fogem do controle público merecem o mais veemente repúdio das consciências livres.
Um pouco da história universitária
Não retomo a história da instituição de ensino e pesquisa. Na coletânea dirigida por Francisco Doria : A Crise da Universidade. (RJ, Revan Ed., 1998) escrevi longo texto (“Entre as Luzes e Nossos Dias”,páginas 49-98) onde procuro expôr os seus momentos principais, da Idade Média aos nossos tempos. Fiquemos com a crônica dos campi no Brasil. O projeto de instalar uma universidade em nossa terra vem do século 19. Setores da alta hierarquia do clero católico, de um lado, e lideranças civís liberais, de outro, imaginavam que uma instituição universitária ajudaria muito na tarefa de assegurar as formas de autoridade e de pensamento gerados pela Revolução Francêsa e pela revolução industrial. A Igreja recusava a laicidade do Estado e da vida civil e era compelida a buscar novos argumentos e cérebros na luta contra o que ela definiu como “o modernismo”. A criação de uma universidade com hegemonia religiosa ajudaria o mister de, ao mesmo tempo, pensar o Brasil e aumentar o número de quadros intelectuais a serviço do projeto religioso. Este, sgundo os bispos, precisaria se fortalecer após o quase desaparecimento institucional ocasionado pelo Império. Neste último, com o Padroado, definido pelos líderes católicos como “a gaiola de ouro” em que o catolicismo foi preso, as ordens religiosas, os dirigentes intelectuais até então conhecidos, perderam seus membros. Com a lei da mão morta, grande quantidade de conventos se despovoaram, retirando lideranças católicas das lutas pela sobrevivência institucional da Igreja. Também devido ao Padroado, o governo imperial poderia aceitar, ou não, as indicações da Santa Sé para o preenchimento das cátedras episcopais. Como a política do Império, com bastante influência de Pedro 2, era agnóstica ou francamente laica, muitas dioceses ficarm com a cátedra vacante durante décadas. Assim, uma universidade integrada no projeto católico de auto-recuperação institucional era um dos elementos estratégicos da Hierarquia católica. Claro que tanto a “ratio studiorum” quanto os fundamentos jurídicos da universidade assim concebida deveriam sofrer as determinações do anti-modernismo (fenômeno que durou até a metade do século 20, quando foi modificado pelo Concilio Vaticano 2) católico. As disciplinas a serem preferidas, numa instituição assim, eram a filosofia (tomista), a teologia (idem), o direito (com base na doutrina social da Igreja), letras, artes e alguns setores (poucos) tecnológicos no futuro.
Também lutando pela universidade, os liberais e laicistas definiam um programa totalmente diverso para os campi. Os privilégios iriam para os setores jurídicos de estudo, e para as áreas humanísticas. A laicidade universitária seria radical, desvinculada de todo compromisso religioso. A medicina seria também um setor importante dos trabalhos acadêmicos. É clara a incongruência dos programas recíprocos (católico e liberal) para a universidade a ser fundada.
Contrários às duas propostas acima, os pensadores positivistas afirmavam que o Brasil ainda não precisava de universidades, mas de ensino fundamental para as massas, sobretudo no campo tecnológico. Pereira Barreto, grande nome científico da ala positivista já em 1880 criticou pesadamente a idéia de universidade. No seu entender, segundo Ivan Lins (História do Positivismo no Brasil) “tudo estava por fazer, entre nós, em matéria de ensino primário e secundário, enquanto ao ensino superior faltavam os mais elementares recursos, sendo, em tal situação, verdadeiro despautério criar-se uma universidade”. Sobretudo nos moldes defendidos pelos católicos e liberais, a universidade seria uma instituição conservadora. É conhecida a lei dos três estados positivista: a primeira forma da sociedade seria a teológica, a segunda a metafísica, a terceira a positiva. Na primeira, os fundamentos sociais estariam na religião com seus dogmas e suas crendices. Na segunda, os fundamentos estariam nas crenças (consideradas sem sentido) sobre a liberdade individual e os direitos individuais. Na terceira, a grande base seria a ciência e a técnica. Se a universidade brasileira fosse controlada pela Igreja, ela tudo faria para prejudicar o advento, no Brasil, da idade científica e técnica. Se ela fosse dominada pelos liberais, destruiria o país com as ilusões metafísicas que imperaram na Revolução Francesa, com a respectiva anarquia social e política. Uma universidade liberal seria o domínio dos bacharéis palavrosos, sem conhecimentos modernos do mundo. A universidade, liberal ou católica, seria, no dizer de Pereira Barreto, “um monstro”. Ivan Lins resume as críticas positivistas da universidade, na mesma obra citada acima: “para que se possa substituir o ´reinado dos bacharéis´, inadequado ao mundo do presente -mundo da técnica, da indústria, da lavoura assentada sôbre a ciência- a arma fundamental é a escola. Precisamos de escolas técnicas e científicas, onde se ensinem as leis da natureza e os meios de aproveitá-las a nosso favor, já que o ´reinado exclusivo das letras, consagrando a supremacia da imaginação sôbre todas as outras faculdades, que compõem a razão, ao mesmo tempo que constitui um permanente perigo nacional, é ainda um embaraço, uma causa positiva de entorpecimento para todos os ramos da atividade industrial”.
Assim, os três pensamentos sobre a universidade (católico, liberal, positivista) apresentaram atitudes contraditórias entre si. Se considerarmos que eram essas as forças políticas nacionais, notamos o quanto foi árduo criar a mencionada instituição universitária. Em 1881 o governo apresentou o projeto de uma universidade no Rio de Janeiro. Mas apenas em 1920 se estabelecia a primeira universidade do Brasil. Nela foram reunidas a Escola Politécnica , a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Não se tratava de fato de uma universidade, mas de um ente artificial, sem as determinações de uma universidade efetiva. Há quem diga que o alvo de semelhante fundação deveu-se à necessidade de entregar um título “nobre” ao rei da Belgica, o rei Alberto primeiro, que visitou o Brasil naquele ano.
O debate sobre a universidade e a sua inserção na vida social mantêm, ainda em nossos dias, as grandes linhas das doutrinas imperantes no século 19. O problema da passagem da ciência à técnica e a educação das massas populares (ensino fundamental versus ensino universitário) ainda permanece na pauta brasileira da educação. Os mesmos desafios definem as funções da universidade brasileira: compatibilizar as garantias individuais e as necessidades coletivas, na sociedade e no Estado.
As universidades federais, tendo como base a Universidade do Brasil (do Rio de Janeiro) foram criadas nos Estados através da ação do governo federal, normalmente em acordos com os governos estaduais, onde até hoje é forte a presença de oligarcas . Deste modo, o ritmo e o modo dessas universidades, em sua criação e expansão, deveram-se e devem-se aos tratos entre o poder federativo, o governo sobretudo, e os Estados. Os professores, assim, salvo em exceções notáveis, normalmente eram recrutados entre os integrantes das elites regionais, as oligarquias. Lentamente foram estabelecidos critérios acadêmicos de ingresso, como a exigências de titulação, produção científica e humanística, etc. Embora muitos professores fossem estrangeiros, o número de docentes nacionais não foi diminuto, pelo contrário. Pode-se dizer que desde o início havia uma composição razoável de mestres brasileiros e estrangeiros.
Há uma tese comum sobre o “atraso” na instalação das universidades no Brasil. Em outros países sul americanos, aquelas instituições seriam bem anteriores do que as nossas. É preciso cautela com as afirmações sobre o plano cronológico da fundação universitária entre nós e na América do Sul. Em primeiro lugar, as universidades implantadas nos outros países sulamericanos tiveram a grande influência do pensamento católico, o qual mencionei em minha primeira resposta. Ou seja, elas contemplavam as determinações desejadas pela Igreja, em contraste com outras correntes de pensamento, como a liberal e a positivista. Assim, nem seus curricula, nem sua ratio studiorum se aproximavam do modelo europeu e norte americano de universidade, imperante no século 19. Elas não seriam ditas “universidades” segundo critérios rigorosos, mas escolas superiores de filosofia, letras, teologia, direito, medicina. Por outro lado, neste mesmo campo religioso, as instituições jesuíticas de ensino no Brasil tinham caráter superior. Simplificações históricas não ajudam muito a entender a lógica, sobretudo no campo da política estatal e da sociedade civil, que definiu as várias formações nacionais e educacionais na América do Sul.
As universidades sempre foram discutidas no Brasil, sobretudo pelos pensamentos que mais se interessavam pela vida social. Católicos, liberais, positivistas, tinham idéias conflitantes sobre o papel da universidade na vida política e social brasileiras. Com os tempos, os pensamentos socialistas e comunistas, os defensores dos mais variados projetos para o Brasil, precisaram enfrentar o dilema universitário. No período JK, por exemplo, o ISEB (leia-se o livro fundamental de Caio Navarro de Toledo, ISEB, Fábrica de Ideologias) enfrentou a questão universitária. A UNE, na época de João Gourlart, defendia que a reforma universitária era tão necessária quanto a reforma jurídica, agrária, fiscal, etc. O autores do golpe de Estado de 1964 implementaram, sobretudo a partir de 1965, uma política singular: enquanto destruiam a qualidade do ensino oficial primário e secundário do Brasil (fato reconhecido inclusive por observadores internacionais), favorecendo as escolas particulares para as elites e para as classes médias, eles mantiveram as universidades como ilhas de excelência. As universidades, sobretudo em algumas áreas, como a física, atendiam as demandas de uma poderosa corrente de opinião nacional e das Forças Armadas, a qual propugnava o “Brasil potência”. Os cérebros para idealizar e garantir os meios para semelhante política sairiam da universidade. Ao mesmo tempo, seria preciso moldar os campi para esse alvo. Seria preciso expulsar de seu interior os pesquisadores, docentes e alunos que não aceitassem a ditadura e a ideologia da segurança nacional. Não é um acaso que os setores católicos, sobretudo os democráticos e progressistas (fortalecidos pelo Concilio Vaticano 2), os socialistas e comunistas (mesmo os liberais foram reprimidos) tenham sido perseguidos, cassados, expulsos do espaço acadêmico.
Muitos quadros valorosos resistiram à ditadura dentro da universidade, entregando os cargos intactos aos cassados quando houve a anistia. Outros docentes agiram de modo tíbio ou conivente com os militares. O “livro negro” da Usp traz exemplos melancólicos de colaboração entre a ditadura e os campi. Note-se que o costume de agir em conjunto com os orgãos repressivos, por parte de autoridades acadêmicas, vem de antes da ditadura. A Revista da Adusp editou um número especial sobre a colaboração da reitoria da Usp com os orgãos repressivos, com provas irrefutáveis. A regra geral, no período da ditadura, foi o conúbio entre autoridades acadêmicas e as de repressão. Nomes importantes dos campi foram elevados, também não por acaso, aos ministérios que se encarregavam de exercer o arbítrio no país, como o Ministério da Justiça. A universidade cumpriu muitos papéis durante o regime castrense. Alguns de seus membros foram heróicos na tarefa da manter a qualidade superior da pesquisa e do ensino. Outros, entregaram-se à colaboração sem freios éticos com os donos do mando político da hora. O movimento estudantil, na época, foi um dos esteios da luta em prol da democracia e do respeito aos direitos humanos. Quanto `a criação de universidades pelo governo militar, este ponto apenas realça a prática anterior, comentada por mim na primeira resposta acima: para conseguir alguma legitimidade e poder de mando, o governo federal (nas mãos de civís ou de militares) precisou do concurso das oligarquias regionais. A instauração de muitos campi significou o aporte de recursos financeiros aos Estados, prestígio político, lugar de emprego para os filhos das elites.
Como resultado da política de destruição do ensino fundamental público, foi produzida a enorme disparidade que impede até hoje o acesso dos filhos de classes pobres à universidade pública. O vestibular é a cancela que permite a entrada nos campi oficiais de filhos de classe média e rica (apenas em algumas escolas os ricos são grande parcela do alunato, como nas escolas de medicina, politécnicas, etc, os filhos dos muito ricos estudam no exterior ou em instituições de elite, como a FGV e outras) e barra a entrada dos “negativamente privilegiados” (o termo é de Max Weber). Deste modo, como fruto da política ditatorial, os campi oficiais permanecem, até hoje, como reféns da classe média. Nos últimos tempos nota-se um aumento de pessoas oriundas de famílias com parcos recursos. Mas trata-se de uma tendencia que não desmente o fato, escandaloso, de que a maior parte da população jovem frequenta universidades pagas, sem meios de ingresso na universidade pública. O problema da gratuidade do ensino, neste ponto, torna-se um verdadeiro dilema que precisa ser resolvido, para não persistir esta disparidade injusta em termos sociais.
Recomenda-se a leitura dos trabalhos escritos sobre professora Lourdes Favero, que publicou relevantes textos sobre a antiga Universidade do Brasil. A UNB, por sua vez, surgiu de projetos que se uniram, elaborados por pessoas de diferentes atitudes diante do mundo, religiosas e não religiosas, como Frei Matheus Rocha, da Ordem dos Frades Dominicanos, e Darcy Ribeiro. Um estudo histórico da UNB mostrará a relevância dessas figuras e das correntes de pensamento que elas representam. A UNB é indissociável das noções de desenvolvimento econômico, social e político que imperaram durante o período JK e durante o governo Goulart. Tratava-se da universidade que serviria ao projeto de uma nação independente e próspera em todos os sentidos. Com o golpe de 64 ela foi ferida profundamente, passando a se constituir, através do movimento estudantil e docente, num espaço de crítica ao regime castrense na própria capital da República. A USP surgiu como projeto da oligarquia paulista, a qual se insurgira contra Vargas e fora vencida na Revolução de 32. O projeto da USP era o de instaurar elites intelectuais para o comando do país e aperfeiçoar o ensino de primeiro e de segundo gráu. No todo, a USP não ultrapassou um sentido profundamente conservador em termos políticos, ao mesmo tempo em que desenvolveu saberes avançados que muito contribuiram para o progresso econômico e técnico do Estado de São Paulo. A Unicamp surgiu de uma dissidência da USP, liderada pelo professor Zeferino Vaz, cuja idéia era ampliar a produção de saberes de avançados no portal do interior paulista.
Todas as universidades assim constituidas ajudaram, e muito, na configuração de conhecimentos e técnicas essenciais à sociedade brasileira como um todo. Elas precisam definir estratégias que pemitam a passagem dos conhecimentos produzidos nos campi para a indústria, dando ao país condições de competitividade internacional. A soberania do Brasil, sem esse passo, estará sempre ameaçada pela anemia industrial e do comércio. Os próximos passos das universidades mencionadas residem na ideação de meios que permitam a passagem dos laboratórios e bibliotecas para o setor industrial, garantindo saberes humanísticos e jurídicos que permitam aperfeiçoar o Estado democrático de direito em nossa terra
Autonomia universitária
Após a ditadura militar, com a frágil democratização política e social, o Estado de direito foi estabelecido na letra da Carta Magna. Elaborada pelo Congresso Nacional que se auto proclamou constituinte, a Lei Maior brasileira recebeu, com inequívocas formulações democráticas e justas, certas marcas dos antigos representantes, muitos deles acostumados a obedecer ao Executivo ditatorial ou a servir interesses privados que usurparam verbas, subsídios e direitos no longo governo castrense. Vários dispositivos constitucionais, como a obrigatoriedade da inversão de recursos para o ensino público, foram ameaçados no governo Sarney, Collor, FHC, com o uso de medidas provisórias que, a pretexto de corrigir e administrar a economia, confundida na maior parte das vezes com o interesse do mercado, retira aqueles recursos das áreas sociais, sem que seja possível contestar o roubo.
Dentre as formas democráticas definidas na Constituição de 1988, impõem-se as idéias e preceitos ligados à autonomia. A autonomia universitária não está isolada no documento maior de nosso direito público e privado. Pelo contrário.Os campi são proclamados autônomos na mesma ordem semântica e doutrinária em que são abertos os caminhos para a autonomia de outros setores do Estado. Como adianta a competente jurista Anna Candida da Cunha Ferraz em artigo na Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo ( 5/10/1998) “consiste a autonomia na capacidade de autodeterminação e de autonormação dentro dos limites fixados pelo poder que a institui”. A Federação é o único ente que detêm soberania plena, cuja fonte encontra-se nos povos que a constituem. Os estados brasileiros gozam de autonomia, não de soberania absoluta. Deste modo, unidos em Federação, não podem ver abolido, suprimido, alterado ou restrito, o seu aspecto “au-tonômico fixado pelo texto da Lei Maior, seja para interpretá-lo, seja para lhe dar aplicação”.
Caso um dos poderes federais ou estaduais desejem recusar este traço, deixa de existir respeito à norma que integra a ratio essendi da própria Constituição, o que seria um claro golpe de Estado. Como resultante sadia e rigorosa, outras entidades nacionais, como os municípios (artigos 34, VII, “C”), o Poder Judiciário (autonomia administrativa e financeira, no artigo 99), e o Ministério Público (artigo 127, §2) têm autonomia funcional e administrativa. Todas estas medidas servem enquanto engaste no qual se insere o artigo 207, que assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
A autonomia do Poder Judiciário é referida explicitamente, apesar de estarmos sempre na incerteza de sua essência no Brasil, enquanto Poder estatal que deveria ser independente e harmônico “em relação aos demais, segundo preceitua o artigo 2º da Constituição Federal”. A jurista a-dianta algumas razões para esta lembrança do legislador. Mas não se refere a um elemento determinante para semelhante referência da Constituição. Após duas fortíssimas ditaduras ainda neste século, a de Vargas e a dos militares, o Poder Judiciário foi cerceado de todos os modos, e um deles foi a dependência excessiva em face das determinações dos ministérios, em especial os de ordem financeira e de segurança. Quem viveu os dias de Francisco Campos, o autor da famosa “Polaca”, e do AI-5, percebe muito bem o significado desta explícita menção à autonomia do Judi-ciário.
Também ao Ministério Público foi assegurada autonomia, “cujo conteúdo expresso na Constituição abrange a autonomia funcional e a autonomia administrativa”. Também neste plano, os óbices que impediam norma, de ordem histórica e política, são conhecidos. O legislador procurou diminuir a influência do poder na busca de proporcionar justiça ao povo soberano.
Como resultado incipiente dessas autonomias, do Judiciário e do Ministério Públicos, tivemos vitórias significativas do Estado de Direito contra a renitente ditadura do poder executivo. Este, através de verdadeiros e freqüentes golpes de Estado, definiu planos econômicos que feriram até o fundo o direito público e particular. Os planos Cruzado, Bresser, Collor e o Real, reúnem uma soma impressionante de roubos e seqüestros da economia popular, corrigidos apenas em parte pelos tribunais. Se não existisse a autonomia, os prejuízos para a ordem do direito democrático seriam ainda maiores. No bojo daqueles planos, ocorreram inúmeros atentados ao tesouro, em várias instâncias e modos.
O Ministério Público ajudou a diminuir, em parte, a impunidade dos corruptos, abrigados sempre à sombra do Executivo ou dos setores que, nos outros poderes, como o Legislativo, a ele se subordinavam, sem autonomia e sem vergonha. Durante todo o processo das chamadas “privatizações”, era comezinho ler na imprensa os ataques, orientados diretamente do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios, contra juízes e promotores, sobretudo por ocasião de liminares justas, legais, competentes que vetavam negociatas com dinheiro público.
Os frutos do conúbio entre os poderes da república com os grupos financeiros internacionais começaram a se evidenciar graças à autonomia do Judiciário e do Ministério Público. A plena autonomia de ambos surgiu para atenuar os males das ditaduras, que formaram uma ética na qual o Executivo tem todos os direitos, e os demais poderes e instituições apenas deveres, ou apenas o direito de nego-ciar seus direitos, traduzido isto em vantagens pessoais ou corporativas. Sem autonomia, os juízes e promotores nem sequer poderiam atenuar o permanente esbulho jurídico e financeiro praticado pelo poder Executivo e seus afins. Basta olhar o quadro dos contribuintes para a Arrecadação Federal, notando que nossa Receita não consegue recolher impostos dos grandes conglomerados financeiros e das grandes fortunas. Mas o governo arranca impiedosamente, na fonte, dinheiro da classe média. Na própria circulação das mercadorias, as classes pobres pagam impostos. Tudo isso mostra o quanto é importante a autonomia na instituição jurídica. Com a lei do foro privilegiado, proposta pelo governo FHC e aprovada no Parlamento sob a administração do PT, um retrocesso imenso ocorreu neste ítem. A referida lei favorece a improbidade em todos os níveis do poder nacional.
Volto a citar a dra. Anna Candida: “A autonomia universitária vem consagrada no Texto de nossa Lei Maior, em seu artigo 207. Coube à Constituição de 5 de outubro de 1988 elevar, pioneiramente na história da universidade no Brasil, a autonomia das universidades ao nível de princípio constitucional.” Na Constituição de 88, como se viu, as garantias universitárias entram num rol de autonomias, visando a atenuar o poder ditatorial do Executivo. “Uma primeira e relevante observação deve ser extraída do preceituado no artigo 207 e diz respeito à natureza da norma constitucional quanto à sua eficácia e aplicabilidade. O princípio autonômico assegurado às universidades pelo constituinte originário tem seus contornos definidos em norma auto-aplicável, bastante em si, na lição da doutrina clássica, ou em norma de eficácia plena e de aplicabi-lidade imediata (...).” É insofismável o preceito constitucional. Mas, como sabemos, a arte política entre nós reside especialmente na manipulação sapiente dos sofismas.
Ética e universidade
E preciso passar, depois do resumo histórico sobre a gênese das nossas universidades, e das reflexões jurídicas sobre a autonomia universitária, à relevância da questão ética. Os campi não constituem poder, porque não têm fôrça física para impor seus alvos. Não se encontram nos direitos dos universitários a aplicação da norma jurídica universal. Os seus recurso têm origem na sociedade, pelo Estado, porque a universidade não tem força legitima para cobrar diretamente impostos. No campus, também, não existe poder religioso, visto que nenhum docente ou pesquisador fala com mandato divino, como nas igrejas. As duas únicas fontes de existência legítima, para os universitários, encontram-se na integridade ética e na competência científica. Falemos um pouco, pois, de ética.
Agir no mundo ético é operar como se cada um de nós estivesse “em casa”. Um alemão sente-se “em casa”, quando encontra outros alemães. Um francês idem. Um alemão católico sente-.se ainda mais em casa se encontra outros alemães católicos. Um alemão católico e físico, sente-se mais em casa quando encontra outro que possui as mesmas marcas espirituais, os mesmos hábitos, os mesmos métodos, as mesmas fórmulas para analisar o mundo. E assim por diante. Quanto mais os signos utilizados (e produzidos pelos homens no tempo histórico) forem comuns, mais “em casa” estará o indivíduo. Mas o hábito comum não seria um obstáculo para que os indivíduos percebessem que suas atitudes, valores, etc. poderiam ser nocivos ao grupo e aos próprios indivíduos? Um preconceito partilhado coletivamente não deixa de ser preconceito.
É a partir dessa dúvida que a ética se dedica ao estudo, à pesquisa das variações comportamentais ao longo da história humana, dos povos e dos grupos em seu interior. A ética procura descrever os costumes de cada povo ou grupo e deste modo a antropologia é uma das suas mais eficazes auxiliares. Descrever comportamentos de modo rigoroso, sem aplicar ao grupo estudado normas e valores alheios a ele, tal é o primeiro passo da ética. Só após captar os valores de um conjunto social determinado, pode a reflexão ética compará-los aos hábitos de outras comunidades.
Assim, a ética pretende atingir um âmbito mais amplo de valores do que a moral, sem prender-se aos indivíduos que os empregam, como seria o caso da moral subjetiva. Um cientista possui hábitos comuns com o seu grupo de referência e pode ter seus atos e pensamentos acompanhados por este grupo. A comunidade dos cientistas, por sua vez, insere-se num determinado coletivo nacional e este integra o que se pode chamar o todo da comunidade internacional da ciência. A passagem lógica e prática dos indivíduos ao universal ocorre entre níveis diversos de visibilidade.
Se um indivíduo for brasileiro, os signos entre os quais ele se move, que definem a ética da sociedade em que ele nasceu e vive, adquirem determinada figura. Mas se ele, além de brasileiro, ele pertence ao grupo dos pesquisadores, digamos, da química analítica, os signos e atitudes que deve aprender, que deve exercitar, que deve ampliar e atualizar, são bem diversos dos que são exercidos, digamos, na física experimental ou nas matemáticas aplicadas.
O mundo da ciência, como o universo social que o envolve, pode ser descrito como uma sequência de esferas, cada uma com a sua lógica e com uma ética próprias. A esfera maior, o Estado, encarrega-se de administrar de modo geral todas as demais esferas. Em cada um destes círculos, os indivíduos devem aprender os sinais, os gestos, a linguagem que lhes são próprias. Do culto religioso às instituições científicas (onde se desdobram várias linguagens, vários signos, vários gestos paradigmáticos), os indivíduos aprendem a distinguir o que pertence a cada uma das esferas. Adestrados, eles não introduzem por ignorância ou por arbítrio da vontade o que é habitual numa delas em outras. Eles aprendem que é imprudente ou simplesmente errôneo introduzir o que é próprio do religioso no científico, no estético, no político, etc. Caso contrário, a mistificação se instala em todos estes domínios. Impôr uma religião e invocar para isto “razões científicas” ou uma “ciência” como se religião fosse, é obra de suma incultura.
Importa salientar o vínculo da ética com a concretude, contra a vazia abstração da consciência apenas moral, da consciência própria aos indivíduos. É concreto, neste plano, o que resulta da síntese dos particulares. O concreto é a unidade de todos os opostos, um ponto de chegada na reflexão humana, jamais uma base de partida. Só atinge a concretude a mente que soube deixar a abstração das partes. Jamais se atinge a concretude das comunidades mantendo-se a reunião de indivíduos isolados, como se eles fossem independentes das totalidades onde nascem, vivem, morrem. Se é verdade o enunciado de Leibniz, de que não existe um só ente igual ao outro no universo, também é verdade que nada pode ser dito dos indivíduos sem levar em conta o que eles possuem em comum, o que adquiriram de maneira coletiva. Se ninguém nasce químico analítico, nem por isto deixa de ser verdade que “ser químico analítico” só passa a ter sentido para os indivíduos no interior da comunidade visível, ética, que se determina segundo paradigmas, linguagem, metodologias, etc. daquele ramo científico. Não existe nenhum “químico analítico inefável, intangível, invisível”. Tudo o que um sujeito que se move neste campo do saber faz, enuncia, ou é novo para os seus pares e por isto precisa ser comunicado, ou é conhecido por eles. Todos estes traços definem a ética de seu grupo, a qual é diferente da que define o coletivo dos físicos, dos artistas, dos matemáticos, etc.
A ética, desse modo, não se imiscui de modo arbitrário, com uma tábua de valores particulares e externos à prática deste ou daquele grupo social, deste ou daquele povo, deste ou daquele segmento do saber. Ao contrário da moral, a ética não pode falar a partir do dever-ser, mas de como é um determinado coletivo, como ele age, como ele se constituiu histórica e socialmente.
Mas se é desse modo que age a análise ética, quando será possível, e como, encontrar os limites ao agir desta ou daquela comunidade humana? Quando os seus hábitos mostrar-se-ão benéficos ou maléficos à humanidade? Apenas e tão somente no campo mais amplo e inclusivo do Estado, onde todos os agrupamentos se reúnem e se definem uns em relação aos outros. Cabe ao Estado, reunião de todos os indivíduos, classes, movimentos, dos químicos analíticos aos jogadores de futebol, passando pelos sindicalistas, estudantes, empresários, jornalistas, escolas de samba e todas as formas de socialização verificar, através da inspeção permanente dos hábitos e valores dos grupos, quais práticas e signos são adequados ou nocivos ao todo social. Para isto, o Estado possui as três faces essenciais para garantir os grupos particulares e ao mesmo tempo garantir o coletivo maior em que eles se inserem.
O Estado delimita o âmbito e as pretensões dos grupos particulares. E como os limites do próprio Estado são definidos? Esta é a questão moderna por excelência. Ela data da Revolução Americana e da Revolução Francêsa. Se o Estado o impõe limites aos grupos e indivíduos que nele se movem, a sua instituição controla os hábitos físicos e mentais daqueles setores. O Estado, não raro, ultrapassa os seus próprios limites e tenta impor padrões de comportamento e valores aos grupos particulares. A Constituição americana e as teses sobre os direitos dos cidadãos, produzidas na Revolução Francesa, indicam as barreiras que devem existir para proteger o Estado, os indivíduos e os grupos. A presença de leis, tratados, convenções, todas relativas aos direitos dos individuos e dos grupos diante de Estado, tudo isto não exorciza, de modo direto, o risco do abuso dos monopólios estatais.
Os Estados totalitários do século 20 e quase todos os Estados efetivos, tendem a ultrapassar as cancelas que salvaguardam as múltiplas éticas dos setores estabelecidos em seu interior. Assim, na extinta URSS, o Estado atribuiu-se o direito de impôr normas éticas aos trabalhos dos cientistas, artistas e demais atividades, através de doutrina oficiais sobre a ciência, a arte, etc. Mas não apenas o Estado pode querer intervir nas éticas dos grupos particulares. Movimentos religiosos, embora submetidos ao Estado, julgam-se não raro com o direito de definir certo monopólio ético contra os grupos científicos, artísticos, etc. O fundamentalismo cristão ou qualquer outro fundamentalismo religioso, desconhece os hábitos e os signos dos grupos científicos, artísticos, etc, tentando impor-lhes, de cima e do exterior, regras alheias ao seu costume. Também a chamada “opinião pública”, movida pela imprensa moderna, pensa poder decidir o que deve ser feito na pesquisa, na arte, etc. Como harmonizar, então, os pressupostos do Estado e dos movimentos de massa, religiosos ou ideológicos, e a ética dos grupos de pesquisa e demais grupos?
A resposta eficaz, que tem merecido o esforço da ética moderna, é como lembrei no início, a democracia e o Estado de direito. Democracia, porque nela nenhum grupo possui a qualidade de ser o representante único do coletivo. Todas as atitudes éticas recebem equivalência no plano do pensamento. O Estado de direito, porque assim a democracia se rege por leis adotadas pelo mesmo Estado, na sua face legislativa, as quais podem ser interpretadas e corrigidas pelo poder Judiciário. O executivo tem os dois outros poderes como limites da sua ação. Deste modo, os grupos do social podem ser ouvidos no Parlamento ou nas Cortes de Justiça. Democracia sem Estado de direito é despotismo da maioria ou de um ou outro setor social. O Estado de direito, por sua vez, tem como conditio sine qua non a democracia. Os limites éticos da pesquisa científica só podem ser definidos no interior do Estado democrático de direito.
Ao contrário da moral, onde a luta de todos contra todos é infindável, visto que todo indivíduo ou grupo postula que a sua norma é a mais adequada para eles ou para o todo, a ética procura resolver os conflitos dos grupos através do debate social, chegando ao parlamentar, àss decisões e juízos dos tribunais, definindo uma isonomia dos grupos no seu modo de ser particular.
Um desastre ocorrido quando o Estado democrático de direito é ausente, ou foi abolido, situa-se justamente na perda dos limites do Estado, no seu trato com os grupos e indivíduos particulares. Refiro-me novamente à tentativa de impor doutrinas éticas e científicas aos pesquisadores, artistas, etc. Entre o nível em que se encontram os grupos particulares de cientistas e o todo do Estado, há uma escala de universalização da responsabilidade e da eficácia. Um erro do Estadista pode ser letal para toda a comunidade nacional e para a comunidade humana no seu todo. Um estadista que proclama a guerra sem pensar nos seus efeitos ou condições pode causar prejuízos tremendos aos seus patrícios e aos cidadãos do mundo. É justo por isto que ele precisa contar com ajuda de todos os grupos que se movem no interior do Estado. Assumir determinada política pública na ignorância dos hábitos e das riquezas espirituais que reinam nos grupos particulares gera desastres. Os soviéticos e os chineses do “Grande Passo à frente” são testemunhos disto. Por isto, quando se trata de política científica e tecnológica, o Estado, sobretudo na sua face executiva, precisa contar com o saber dos grupos organizados e conhecedores das várias faces fenômenicas que definem o conhecimento sobre natureza e sociedade. Quanto menor o erro na determinação macrológica, melhor para o Estado. O tempo é um fator vital, que não pode ser desperdiçado com erros.
É por esse motivo que os grupos de pesquisadores devem ter a maior licença para errar, utilizando o tempo em registro diferente ao ritmo da política, da guerra, etc. Se tempo é dado aos cientistas, o que lhes permite empreender vários caminhos, antes de seguir determinadas fórmulas ou procedimentos, o tempo é poupado ao estadista, porque ele não escolherá saberes e métodos pouco investigados, pouco testados. Se o estadista impede que o trabalho científico tateie nos laboratórios, nos campos de pesquisa, ele paga muito caro esta falta de emprego do tempo, quando escolhe certa política pública, em termos de paz ou de guerra.
Se a lógica da política é a de errar o mínimo possível, a da ética científica é a de garantir aos seus integrantes o direito de errar na busca de conhecimentos e de métodos. E não há moral de boas intenções, não existem normas éticas que podem ser definidas a priori neste campo. Se os grupos de pesquisa, se os grupos artisticos, enfim, se a comunidade universitária não tem o direito de livre investigação, a sua própria ética é suprimida. Este é o âmago, no meu entender, da autonomia de cátedra e da autonomia universitária. O Estado paga, em nome da sociedade civil, a reunião dos pesquisadores, e define os limites físicos e jurídicos da atividade científica. Mas o Estado não pode, com risco de se tornar mais fraco e menos eficaz na sua ação pública, retirar dos grupos de pesquisadores a sua ética essencial, a que se define essencialmente enquanto busca, e não como um apanhado de certezas engendradas em tempo certo, pré-estabelecido burocraticamente.
O direito de errar tem sido muito desrespeitado, nos últimos tempos, nos processos de avaliação, cuja idéia foi produzida no Império britânico pela Sra. Tatcher, para justamente controlar, em nome do Estado, a produção dos grandes conglomerados universitários daquele país. Este hábito do Estado e dos governos espalhou-se pelo mundo, causando prejuízos graves, no meu entender, aos setores de pesquisa e de ensino brasileiros.
Note-se a diminuição drástica do tempo atribuída à pesquisa, sobretudo a destinada à formação dos novos cientistas. Na CAPES, se um grupo ou indivíduo atrasa seis meses a sua dissertação ou tese, por força da busca imanente (falhas de método, hipóteses equivocadas, etc), todo o programa em que eles se inscrevem é punido, com diminuição de recursos, bolsas, etc. O Estado brasileiro, com este procedimento, atenta contra os seus próprios interesses, porque os saberes coletivos abreviados são pouco discutidos, experimentados, postos à prova pelos grupos de pesquisa. O Estado, agindo deste modo, põe-se contra a ética definida dos pesquisadores, ética que não raro é anterior à própria existência do Estado brasileiro, visto que foi gerada ao longo da história universitária, a qual tem mais de mil anos. Os hábitos universitários constituem uma segunda natureza, definem valores e atitudes mentais que não podem ser banidas ou usurpadas por este ou aquele partido governante, esta ou aquela seita religiosa, este ou aquele movimento de massas. A autonomia universitária não se define apenas diante do Estado, mas também frente à sociedade.
Se o Estado democrático de direito possui os monopólios das políticas públicas, se nele se resolvem os problemas éticos mais graves da vida de um país, também lhe cabe a função coletiva, ou seja, ética, de incentivar ao máximo a pesquisa em ciência e tecnologia, além de outros aspectos da cultura. Isto porque as sociedades que não adquirem saberes naqueles setores, como demonstra o grande etnólogo André Leroi-Gourhan, um especialista na história social unida à história da técnica, simplesmente perdem a força para continuar a luta pela sobrevivência e expansão, no interior da natureza e diante de outros coletivos humanos. O Estado moderno foi produzido para proteger as pessoas singulares e a sociedade da morte e para facilitar sua vida, ampliando o tempo da existência e adiando o mais possível o seu fim. Logo, um Estado que não provê os meios para que se produza a mais fina e abrangente rêde de instituições votadas à pesquisa avançada, não cumpre a finalidade para a qual é-lhe entregue o monopólio das políticas públicas. Além de formar pesquisadores em número adequado aos padrões internacionais, o Estado digno deste nome providencia para que eles tenham ambientes de trabalho dignos dos hábitos da comunidade, os seus paradigmas de excelência. Doutores em pesquisa científica que não tenham trabalho ou recebam pagamentos incompatíveis com a própria expansão de conhecimentos, estão sendo lesados pelo govêrno ou pela instituição estatal no seu todo. E as consequências éticas são letais ao coletivo que envolve a vida de pesquisa. A sociedade morre um pouco, sempre que recursos para a pesquisa científica e tecnológica são subtraídos dos laboratórios. A mediação entre o que se faz na comunidade acadêmica e os seus frutos para a sociedade é, pois, um problema ético, político, jurídico, econômico, ultrapassando de muito as opções morais deste ou daquele indivíduo ou grupo.
A universidade, as ciências e as técnicas. hoje
Expostas as bases da ética, na vida que se liga à pesquisa, vejamos agora a situação das nossas universidades. Estas passaram por um período negro, desde o governo Collor de Mello aos nossos dias. Recursos humanos e financeiros foram extraídos dos campi e os obstáculos sofridos nas suas determinações foram os costumeiros no país. As verbas receberam pleno controle dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Cortes e ajustes foram impostos, sem nenhuma consideração pelo principal fato da pesquisa e da docência: a continuidade e o tempo longo definem a essência do saber acadêmico. Assim, faço um balanço do estado em que se encontravam a pesquisa universitária nos últimos dias do governo FHC.
Começo com a citação da pesquisa coordenada pela professora Helena Nader, pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp). Ela mostra que pela primeira vez, após de três décadas de crescimento contínuo, caiu a participação do Brasil na produção científica mundial, passando de 1,08%, em 2000 para 0,95% no ano passado, o que representa uma queda de cerca de 12%. (Cf. jornal O Estado de São Paulo, 18 de setembro de 2002). A professora Nader indica, seguindo os indices ISI de 1973 a 2001, que “a produção brasileira continua crescendo, que o Brasil e o mundo estão investindo em ciência, mas o nosso país está investindo menos que os demais". Como salientaram a imprensa e vários outros pesquisadores, como os ligados diretamente ao MCT, a estimativa da pró-reitora pode não ser absolutamente certa. A participação brasileira teria crescido de 1,33% em 2000 para 1,44% em 2001. Nas duas versões, entretanto, ressalta o mais problema grave da política universitária nacional : a falta de recursos materiais.
O reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Carlos Henrique Brito da Cruz julga ser preciso verificar o número de citações feitas de trabalhos brasileiros, que demonstram a aceitação e importância dada pelo meio acadêmico. "O ideal é fazer uma análise do conjunto. Número de publicações, de citações, impacto provocado por elas. Nesse aspecto,vemos que a produção científica brasileira ganhou prestígio nos últimos tempos." Ele admite entretanto, que o setor de ciência e tecnologia vive um momento delicado. "Agências de financiamento como o CNPQ passam por um problema de verba que até hoje eu não havia presenciado".No seu entender, o contingenciamento de verbas num período em que a pesquisa brasileira demonstra respeito internacional revela uma necessidade urgente: "O Brasil ainda não conseguiu fazer uma conexão entre ciência, tecnologia e riqueza." Como exemplo, ele afirma que atualmente empresas no Brasil abrigam 9 mil pessoas na área da pesquisa. Na Coréia do Sul, onde a população é menor, esse número chega a 80 mil. "Precisamos criar um sistema integrado de pesquisa- produção tecnológica", afirma. Para que isso seja possível, completa, o ideal seria que o governo incentivasse medidas de pesquisa e desenvolvimento.
Já Fernando Galembeck , professor da Unicamp, pensa que “O quadro de hoje repete o que conhecemos dos últimos 20 anos, mas tem uma infeliz originalidade: é a perda de uma singular oportunidade, que não tem antecedente em toda a história brasileira. Pela primeira vez, temos no país uma população de pesquisadores realmente significativa, que incorpora a cada ano milhares de jovens muito bem formados, internacionalmente competitivos. Também pela primeira vez, temos uma convergência de motivações e de ações entre os acadêmicos, os empreendedores e os executores de políticas. Empresários buscam ativamente nas Universidades os temas e projetos que moldarão portfólios futuros de suas empresas, e também buscam o apoio da já rica (em conteúdo) ciência brasileira, para resolverem problemas e gargalos dos portfólios atuais.
Pesquisadores e empreendedores são recebidos e são ouvidos nas empresas e Universidades, surgindo cada vez mais casos importantes de trabalho conjunto, em busca da inovação produtora de emprego, de riqueza e bem-estar.Nunca antes vivemos uma tal situação, talvez por isso mesmo muitas pessoas não consigam reconhecê-la diante dos seus olhos. Certamente os que controlam os recursos da República não a reconhecem.
Estas pessoas não percebem que, se hoje ainda existem importantes recursos, é porque o Brasil se tornou inovador em muitos setores econômicos, graças à sua vigorosa, embora recente, prática de C&T. Não fossem casos notáveis como os da soja, do açúcar e álcool, do petróleo de águas profundas, das siderúrgicas, petroquímica e mineração, da indústria aeronáutica, bem como a nossa capacidade de atrair empresas de tecnologias de informação e de outras tecnologias avançadas, os controladores de boca de cofre não teriam cofre para controlar.
Por outro lado, se temos hoje uma capacidade de produzir riquezas, é porque outros controladores de cofre, no passado, foram lúcidos o suficiente para fazerem recursos fluírem para as atividades de ciência e tecnologia.Eles sabiam que estes recursos eram sementes, que se multiplicariam. As sementes se multiplicaram, por isso ainda somos uma nação e ainda podemos aspirar a termos um futuro.Hoje, o campo está mais fértil que nunca, e mais do que nunca necessitamos da colheita dos resultados da ciência, tecnologia e inovação. Por isso, precisamos insistir no discurso e nas ações mobilizadoras, até que os donos do cofre adquiram um mínimo de senso de estratégia. (“Controladores da boca do cofre minam desenvolvimento da C&T no Brasil,” artigo para o para o Jornal da Ciência da SBPC, e- mail).
Todos os citados acima, apesar de suas diferentes atitudes e doutrinas, afirmam a carência de recursos para a produção científica e a desejável passagem da pesquisa acadêmica para a indústria. E neste ponto, retomam, as teses sobre a passagem imanente do elemento técnico ao teórico e vice-versa. Não existe ruptura entre a produção científica e tecnológica, quando se trata de pensar o processo de humanização e de socialização. Os dois lados precisam ser valorzados, de modo que um não seja obstáculo ao outro. Sob pretexto de incentivar a inovação tecnológica, não se pode diminuir os recursos para a pesquisa de ponta. Mas esta última não pode atrair para si todos os investimentos do Estado e da sociedade, em prejuízo da produção. Sem a pesquisa de ponta, não há empréstimo de saberes e de técnicas avançadas, produzidas em outras sociedades. Sem aplicações técnicas, não ocorre fixação de tendências, o que permite que o rumo da pesquisa não se interrompa de modo catastrófico.
Que a nossa produtividade científica, apesar dos poucos investimentos estatais e privados, mantem às duras penas o ritmo e progresso, é algo inegável. No Jornal da Ciência, a Sra. Anelise Souza, Assessora de Comunicação do MCT, citando a revista Nature, em número recente (12\09\2002) indica que o Brasil, com a Coréia do Sul se destacam pela publicação de artigos científicos em publicações indexadas. Segundo dados prelimilares do novo relatório do (ISI), a produção científica do Brasil cresceu 11% de 2000 para 2001, passando de 9.511 para 10.555 artigos. A produção mundial, no mesmo período, apresentou o crescimento de 2,8%, passando de 714.171 para 734.248 artigos. No período entre 81 e 2000, pelos dados do ISI, o número de artigos brasileiros publicados em periódicos científicos internacionais passou de 1.889 (em 81) para 9.511 (em 2000), um crescimento de 403,49%, que coloca o Brasil entre os 17 países do mundo que mais produzem conhecimento. Esta conclusão, muito otimista na verdade, recebe duro golpe quando é lido o artigo do Prof. Sergio Ferreira, “A inadimplência da Fapesp” no mesmo número do Jornal da Ciência. Os termos do título e o conteúdo do artigo merecem toda atenção nossa. Mas fica sempre a pergunta: qual os limites da aplicação de recursos em inovação tecnológica? Neste instante, considerando-se a crise global de nossa economia e finanças públicas, tanto a pesquisa de ponta quanto a aplicação técnicas estão ameaçadas.
Essa é uma parte da herança que recebemos dos governos Collor de Mello e de FHC. Sem a continuidade na pesquisa, o plano do ensino entra de imediato em crise. Não é possível definir um ensino de padrão compatível com a contemporaneidade, sem investigações de ponta. Com o novo governo, as esperanças no plano educacional centraram-se ao redor das mudanças sociais e econômicas. Uma surpresa desagradável foi transmitida à comunidade acadêmica, logo nos primeiros dias da nova administração. Tendo em vista ampliar o superavit primário, às custas dos setores sociais, o setor financeiro da república tirou R$ 341 milhões do Ministério da Educação. Aqueles cortes não foram repostos, o que levou o ministro Cristovam Buarque a se posicionar contra eles em vários momentos.
Não faço, aqui, uma retomada dos elementos estatísticos envolvidos no assunto. Chamo a atenção, entretanto, para o problema da fé pública envolvida no recuo programático do governo. Creio que o novo governo inaugura um período administrativo sob o signo da ambigüidade. Em primeiro lugar, o seu Partido, logo nos primeiros dias, rompeu com o ideário que sustentou vinte anos de militância e de propostas contrárias aos modelos econômicos assumidos pelo país desde o fim do regime castrense. As reformas propostas ao Parlamento, a tributária e a da previdência, seguem o rumo diretamente oposto ao discurso do Partido durante os últimos governos. Algumas teses, como a taxação dos inativos, vão do enunciado negativo explícito, à marca de sua necessidade. Várias lideranças do novo ministério afirmam, alto e bom som, que o discurso anterior não era para valer, mas constituia apenas estratégia retórica ou propagandística para chegar ao mando.
Como todos os que observam a política nacional e a sua ética, deixo para analisar em outra ocasião o governo que assume a república. Lembro apenas que se um partido ou pessoa nega os valores que a levaram à vida pública e desconfessa sua fala anterior (no caso em pauta, meses apenas separam o dito do negado) a fé pública sofre abalos prejudiciais à governabilidade. Se é importante manter a confiança do abstrato mercado sem pátria nem alma, importa mais ainda guardar a palavra penhorada à cidadania. Ninguém rompe impunemente o contrato feito com a vontade geral e mantem a obediência às instituições. Quando a palavra assumida é quebrada pelo ocupante dos cargos oficiais, o âmbito político encolhe significativamente. Sem publicidade e transparência, nenhuma democracia persiste. Um Estado pode ser republicano e democrático nominalmente, mas desprovido de fé pública e alheio ao respeito pelos trato eleitoral que legitima o exercício da autoridade, ele é apenas máscara, trágica ou cômica, do poder baseado no direito. Nenhum carisma, por mais encanto que possua o seu possuidor, resiste à corrosão da confiança cidadã.
O cenário é sombrio. O que podemos fazer ? O primeiro passo, é lutar contra o monopólio do mando estatal, exercido pelo Executivo. Nossa história política está centrada nesta ditadura do governo sobre os demais setores do Estado. Legislativo e Judiciário, não raro, aceitam estas condições, vendendo, em prol de sua corporação, o direito de representar os povos e de lhes fazer justiça. Após as últimas atitudes do governo, cabe-nos alertar, dia e noite, de mil formas, parlamentares e magistrados, sobre o seu dever de controle sobre o Executivo, qualquer que seja o seu dirigente. É tempo de produzir, de estudar, com profundidade, todas as técnicas e saberes ao nosso alcance. É tempo de propor e lutar pela autonomia das agências de fomento à pesquisa e à pós-graduação, diante dos gabinetes da área econômica. O CNPq, a Capes,o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, não podem mais depender das decisões de uma equipe que só domina uma técnica econômica, a dos cortes orçamentários, e o manuseio do livro caixa, sendo inculta e bárbara em física, biologia, matemática, engenharia, educação, lógica, medicina, direito. É tempo de luta pela autonomia universitária, martelando sem cessar nos ouvidos dos parlamentares a importância estratégica deste passo.
É tempo, enfim, para a universidade, de assumir seu nome, sendo ao mesmo tempo universal e particular, constituindo uma instituição do Estado, no sentido mais amplo possível. Ela de servir como instrumento eficaz de aquisição e invenção de saberes, transmitindo-os em larga escala ao povo. Caso contrário, ela estará apenas colaborando para a morte coletiva, calada, como os doutores silentes e cúmplices nos regimes totalitários. Não temos força física, não ordenamos leis, não temos o controle do excedente econômico. Estas são as marcas do poder. Ainda possuimos autoridade científica e alguma elevação ética. Lembro uma a frase de Leroi-Gourhan, um dos maiores etnólogos do século passado, que pensou todos os momentos da hominização e da técnica : “somos inteligentes, porque ficamos de pé”.