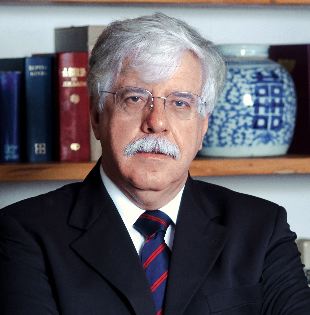ANPR.
BOLETIM 40 - AGOSTO DE 2001
JUSTIÇA PARA TODOS?
Roberto Romano
Ao contrário de todas as exposições de vosso encontro, a minha talvez não seja tempestiva. Não tecerei, porque me falta competência, considerandos jurídicos sobre o nosso mundo estatal. Vou permitir-me seguir uma via paralela e mais própria à filosofia. Os que trabalham na minha área desconfiam de termos e de enunciados. Vou desconfiar em voz alta do objetivo definido para este painel. Os senhores irão me perdoar a impertinência. Espero apenas que as minhas ponderações, extraídas da filosofia, da religião e de uma cotidiana e contínua luta pelos direitos humanos, sejam postas no rol das opiniões prováveis.
O tema indicado para a reflexão é árduo. Sentimos angústia ao dele nos aproximar. Ele apresenta todas as marcas da experiência definida pela estética filosófica como “sublime”. Respeito e temor, de um lado, aspirações nobres da luz natural, de outro, cercam a noção arcaica de justiça. Quando evoco a palavra “arcaica” refiro-me à lógica do termo grego, arché, que abarca ao mesmo tempo as origens do mundo e do homem, o poder e o fundamento da polis. A noção polissêmica de justiça evidencia o seu aspecto arcaico porque conduz o pensamento sobre o poder para além da finitude, abrindo o horizonte em realidades que transcendem o tempo e o espaço, rumo à divindade ou à natureza. Justiça plena não é destinada aos mortais. Estes apenas conseguem entrever, com muitas dificuldades, os traços de superfície da ordem justa. O mal e o bem são vistos pelos humanos sem a devida profundeza. E por isto eles se colocam a julgar tudo, do universo à divindade. É assim que surgiu a experiência de um tribunal da razão onde Deus tem sido julgado desde os tempos antigos, constituindo-se o campo imenso da Teodicéia.
Platão situa-se no início da longa fieira dos filósofos que defendam as divindades, “os deuses são inocentes”. O mal no universo, entretanto, sempre levantou acusações perenes contra os numes. A solução de Leibniz é conhecida: o mal seria um problema de perspectiva. Nós, mônadas que espelham o cosmos, somos limitados. A nossa percepção do mundo é sempre anamorfótica. (1 ) Enxergamos tudo distorcido, de modo que a justiça e a bondade nos parecem pervertidas ou enodoadas. Apenas Deus visualiza o todo simultâneamente. Só Ele tem o saber sobre si mesmo. Refletimos outros eventos e seres. Em nosso horizonte a justiça é relativa por necessidade ontológica.
Assim, o tema da mesa e o seu rigor “Justiça para todos”, pode ser ponderado. A idéia mesma de “pensar” une-se de imediato à de pesar. Pensamento é pesagem de palavras e de conceitos. Todo juiz deve ser um pensador, imagino. A balança depositada nas mãos da justiça é simbolo eloquente deste vínculo.(2)Deixem-me ponderar esta moeda que se apresenta hoje para nós, o enunciado sobre a Justiça para todos.
Pensadores gregos e personagens bíblicos indicam a frágil consistência de nossa justiça, a sua pobre universalidade. O mais arcaico dos livros sobre a justiça e a política, a República platônica, insiste em mostrar que a justiça, para os mortais, é caça fugidía, a qual sempre pode escapar de nossas mãos e inteligências. Permitam-me repetir as palavras dos interlocutores daquele diálogo. Sócrates e Glaucon já definiram as bases harmônicas do governo, com o estabelecimento de quem deve mandar na cidade. Mas isto não basta. É preciso ir mais fundo e atingir a justiça. Mas como encontrá-la? Olhe Glaucon, adverte Sócrates, “agora temos de nos postar em círculo à volta da moita, como caçadores de espírito atento, não vá a justiça fugir por qualquer lado, tornar-se invisível e desaparecer. Pois é evidente que ela anda aí por qualquer canto. Olha então e esforça-te por a descortinares, a ver se a avistas antes de mim e me prevines”. A Justiça não é evidente, pois habita, afiança o arguto Sócrates, num “lugar inacessível e sombrio, pois é escuro e dificil para a batida”.(3 ) Resta a esperança de pegar a caça/Justiça através de seu rasto. É para isto que Platão redigiu a República. Este texto apresenta as pistas para se atingir a Justiça. Nenhuma certeza entretanto é concedida, porque a caça depende da boa constituição do caçador, de seu treino, e sobremodo de sua astúcia.
A busca da Justiça, determinada enquanto caça que exige destreza do pesquisador, insere-se num pensamento mais amplo sobre o mundo e a existência humana coletiva, onde o conceito mesmo de astúcia define todos vínculos entre os seres. Para os gregos, a metis habita todo ente vivo, sendo ela mesma uma forma de vida. Todo ser possui sua astúcia, o peixe a tem. O pescador dela precisa se utilizar. O camaleão e o governante, todos expandem o seu ser através da astúcia. Ulisses é dito polimetis, homem de muitas astúcias, e por isto sobreviveu aos horrendos monstros e aos mais violentos inimigos humanos. (4 ) A arte da caça e a política, bem como o exercício da justiça, têm em comum a própria astúcia. Até os nossos dias a palavra “meticulosidade” constitui um sinal distintivo do bom governante e do juiz competente. A justiça e o governo correto resultam da busca treinada e jamais são garantidos pelo status deste ou daquele indivíduo.
Se entre os gregos a justiça não é um dom, mas deve ser conquistada com diligente inteligência, o Antigo Testamento define que o único juiz e a única justiça efetiva é a divina. O grande enunciado sobre o Deus justo encontra-se no Livro de Jó, que serviu até em I. Kant como referência para o problema do mal e da liberdade humana. Lemos no texto sagrado: “Na verdade, Deus não pratica o mal, Shaddai não perverte o direito (...) Um inimigo do direito saberia governar? Ousarias condenar o Justo onipotente?”. Se na República a justiça se esconde num lugar sombrio, aqui a injustiça, mesmo envolta em trevas, não escapa aos olhos divinos: “não há trevas, nem sombras espessas, onde possam esconder-se os malfeitores. Pois que não se fixa ao homem um prazo para comparecer ao tribunal divino. Ele aniquila os poderosos sem muitos inqueritos e põe outros em seu lugar”.(34, 12-24). (5 )
Um fato interessante de referência textual, ajuda a refletir sobre a justiça e o poder, neste Livro de Jó. O texto é muito corrompido, cheio de incertezas para o exegeta moderno, cujos parâmetros são dados pela ciência e pela história. Mas a Septuaginta e a Vulgata trazem um versículo relevante, que ajudou a cultura cristã a pensar os nexos entre o governo e a justiça divinos e o mesmo prisma no campo humano. “Ele faz reinar o homem hipócrita por causa dos pecados do povo”. (6 ) Dois lados da mesma experiência sobre a justiça, bem apanhados por Tomás de Aquino no seu comentário sobre Jó : Deus justo, povo injusto. E o resultado disto é que reina o tirano que, bom artista, exerce o julgamento e o poder e por isto ostenta a máscara da justiça, mas só a máscara. (7 ) Esta doutrina sobre o poderoso enquanto persona do ser divino tem origem no Evangelho de Mateus sendo de lá que os tradutores latinos e gregos retiraram a idéia da magistratura enquanto máscara: “Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus” (5, 20). A justiça é algo que não se exibe, visto que em nós ela é um empréstimo da verdadeira, a divina: “guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles” (6, 1). A nossa justiça é falha, unida à vingança e às paixões, entre elas a da vaidade. Esquecemos que somos apenas a persona de Deus e nos arrogamos o direito de julgar em última instância. Cautela, “não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados; e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também (...) Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão” (7, 1-5). A justiça humana é cheia de embustes e astúcias. Os que obedecem a justiça divina devem saber, de antemão, que seu destino é mover-se entre serpes. Eles também devem ser astutos como as cobras, porque os homens têm o costume de mandar os justos para os tribunais, punindo neles exatamente a justiça, aprovando o mal. (Mateus, 10, 16-17). O ponto culminante da doutrina sobre os poderosos e juízes enquanto máscaras de Deus, encontra-se em Mateus 23: “Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras; porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los” (1-4).
Quanto à Justiça, pois, é preciso considerar que as duas vertentes, a grega e a judaico-cristã, não a determinam como acessível de modo íntegro nos limites do tempo e do espaço. Na versão platônica, a esperança de atingí-la encontra-se no conhecimento e na disciplina de corpos e de mentes. Na ordem do Antigo Testamento e do Novo, ela só pode ser atribuída a um Ser que nos ultrapassa de modo infinito. Para nós, vale a face fenomênica da justiça, a sua superfície, e quem a aplica não passa de uma distorcida máscara divina. Vem daí a insistência do Cristo no termo “hipócrita”. Nossos juízes e governos são apenas a persona do Absoluto. E a justiça ao nosso alcance é apenas relativa.
A filosofia opera sempre com a passagem do Absoluto, o que não tem amarras espaço-temporais, para o relativo, o finito. No caso da justiça e do poder, ninguém mais do que Blaise Pascal foi adiante na dedução da nossa terrível fragilidade diante do infinito. Deste modo, ele escreveu a sátira mais dura contra os governantes e a justiça dos homens, em pleno século 17, época do apogeu da monarquia supostamente “absoluta”. A coragem de Pascal e de seus companheiros jansenistas lhes valeu a ira de Luis 14. Espanta, até hoje, saber que o mosteiro de Port-Royal foi salgado, destruído, e os mortos foram extraídos de seus túmulos para receberem a fôrca, a fim de aplacar a justiça do rei. Se relermos os fragmentos pascalinos sobre a justiça, não apenas no seu conceito, mas na sua execução, e os enunciados sobre o poder, veremos que a violência real tinha motivos.Não só no conceito (sabemos o que disse ele nos Pensamentos, com acentuado sabor cético) sobre a justiça que muda segundo os acidentes geográficos e os costumes. A justiça pode mudar de um lado do rio para o outro. Num século que buscava, com Descartes, fundamentos sólidos para a ciência e para o convívio humano, Pascal foi incômodo. Mas fiquemos com o exercício cotidiano do poder e dos tribunais.
Os juízes são atores que portam a máscara da justiça, mas não a exercem de fato. Se eles tivessem a justiça verdadeira “eles não teriam o que fazer de seus bonés quadrados”. O costume é descrever o autor dos Pensamentos como um místico, crítico da filosofia cartesiana em plano sentimental. Os temas pascalinos do coração, com suas razões que a própria razão desconhece, tornou-se risível lugar comum. Que o Pascal místico e inimigo do pensamento não é o verdadeiro, nós todos sabemos, sobretudo após as pesquisas de Lucien Goldman. Mas é preciso aprofundar as razões pascalinas para definir bem o que ele pensava da sociedade e da política. Um autor importante na análise do tempo, Sainte Beuve, no clássico texto sobre Port Royal, diz que a diferença entre Hobbes e Pascal é mínima. Autores de hoje comparam as teses políticas do filósofo às de Maquiavel e de Montaigne. Trata-se de um item do maior interesse, mormente quando, no mundo acadêmico se questiona a idéia de um direito natural. Pascal desconfiava daquele suposto direito, o que embaraça os comentadores, sobretudo quando analisam as suas teses sobre o direito de propriedade, o exército, o respeito às autoridades constituidas.
“Há sem dúvida leis naturais”, diz Pascal,”mas esta bela razão corrompida tudo corrompeu (...) Desta confusão ocorre que um diz que a essência da justiça é a autoridade do legislador; o outro, a comodidade do soberano; o outro o costume presente, e isto é o mais seguro : nada, segundo apenas a razão, é justo em si; tudo é abalado com o tempo. O costume determina toda equidade, só porque o costume é recebido; este é o fundamento místico de sua autoridade” (Pensées, Pléiade, frag. 230). A Justiça pode ser ainda mais frívola: “Comme la mode fait l´agrément, aussi fait-elle la justice” (frag. 237). Justiça unida à moda : é um pouco forte, mesmo em nossos dias.
Na época de Pascal domina a estrita conformidade política, pois se trata da França sob o absolutismo instituido por Richelieu, o qual domou a nobreza em Versalhes e impos à nação o Estado centralizador e centralizado, com um permanente culto ao rei, o qual não permitia oposições internas. As lutas sangrentas de religião, que culminaram na Noite de São Bartolomeu, trouxeram a norma que proibia aos particulares lutar para impor a sua crença acima do Estado. Tudo isso possibilitou, como antecedentes do absolutismo, um clima de medo e de obediência forçada diante do rei e de seus ministros. As heterodoxias religiosas e civís foram banidas. Se no século 16 ainda eram mortos na fogueira os livres pensadores ou ateus, no século 17 eles sequer vinham a público para apresentar idéias.Surgem os escritores anônimos. Não raro, eles eram piedosos na vida civil e críticos ferozes dos dogmas religiosos na existência privada. (8 ) A censura era eficiente. Além dela, a ação das Academias de ciências, artes, literatura, etc. serviu para impor uma ortodoxia do Estado, com o rei no seu ápice. Tudo passou a ser feito para propagar o culto à personalidade do rei. (9 )
Pascal considera as idéias de propriedade e as instituições políticas apenas como instituições cômodas para manter a ordem. Elas indicam a servidão do povo. O filósofo pergunta: quem dispensa a reputação dos indivíduos? Quem fornece o respeito e a veneração pelas pessoas, obras, leis, aos grandes, senão a faculdade imaginante? (10 ) As riquezas, seriam insuficientes sem o consentimento da imaginação.
Mesmo um magistrado venerável, será que ele enuncia suas sentenças sem apego ao imaginário que fere as mentes fracas? Se este mesmo juiz entra numa igreja e o padre apresenta algum defeito (uma barba mal feita, e outros pequenos erros no rosto ou vestimenta) “aposto” diz Pascal, “na perda de sua gravidade”. E mesmo o maior filósofo, diz Pascal, andando sobre uma prancha, a maior que se possa encontrar, se em baixo percebe um precipício, embora a sua razão o convença de que está em segurança, prevalecerá a sua imaginação. “Muitos não conseguiriam sustentar o pensamento sem suar e empalidecer”.
O pensamento que capta o real é insuportável, como o próprio real. Daí, o consolo da imaginação que enfeita o efetivo, dando-nos medo ou encanto, mas sempre nos poupando da verdade, a qual tememos e que pode ser letífera. A retórica usa a imaginação para mudar opiniões, e faz isto não apenas com imagens completas, belas, cativantes. Ela faz isto até mesmo com uma pequena mudança na inflexão da voz. Um tom de autoridade pode mudar até mesmo a opinião de um homem que se julga, e é julgado pelos homens, como superior. Nós sabemos, diz Pascal, “que um advogado bem pago previamente considera mais justa a causa que ele defende. O quanto o seu gesto ousado o faz parecer melhor para os juízes, enganados por esta aparência...” Razão engraçada esta, continua Pascal, “que muda com um vento, em todos os sentidos!”
Quem desejasse seguir apenas a razão seria louco. Trabalha-se o dia todo tendo em vista bens imaginários, dorme-se e se acorda para ir atrás de fumaças, à procura desta senhora do mundo. O predomínio da imaginação sobre a razão é uma das causas do erro, mas não a única. E aqui chega a frase satírica e justa: “nossos magistrados conhecem bem este mistério (o predominio da imaginação sobre a razão), pois usam vestidos vermelhos, arminhos, usam palácios, flores de lis em suas armas.Se os médicos não tivessem nem sotainas nem mulas, e se os doutores não tivessem bonés quadrados e vestidos amplo, nunca teriam enganado (dupé) o mundo que não pode resistir a esta mostra tão autêntica. Mas só possuindo ciências imaginárias, é preciso que eles peguem estes instrumentos que ferem a imaginação, à qual eles mesmos se apegam. E por este meio eles atraem para si o respeito. Só os guerreiros não se disfarçam deste modo, porque sua parte é mais essencial, eles se estabelecem pela força, enquanto os demais o fazem através de caretas”. (11)
Assim, juízes e médicos recebem as flechas de Pascal, com base no seu uso da imaginação e no desempenho de ciencias imaginárias. Também os reis são por ele ironizados. Eles se fazem respeitar por se apresentarem sempre com homens em armas, tambores, trombetas, as quais fazem “tremer os mais firmes”.
“O costume de ver reis acompanhados de guardas tambores, oficiais, e de todas as coisas que inclinam a máquina rumo ao respeito e ao terror, faz com que seu rosto, quando estão sós e sem os seus acompanhamentos, imprima aos súditos o respeito e o terror, porque não se separa a sua pessoa dos acessórios que sempre vem juntos deles. E o mundo que não sabe de onde vem este costume, acredita que ele vem de uma força natural, e dai derivam estas palavras: ´o caráter divino está impresso em seu rosto´, etc”. A força mostra seu papel, ao lado da imaginação ou unida a ela. “Não podendo encontrar o justo, encontrou-se o forte”, “não podendo fazer com que o justo fosse forte, fez-se com que o forte fosse justo”. (12)
Finalmente, vem o engano para manter o Estado e a sociedade. “Pelo bem dos homens, é preciso enganá-los com muita frequência”. É estratégico que o povo não sinta a verdade da usurpação. “Ela foi introduzida anteriormente sem razão, ela tornou-se razoável, é preciso fazer com que se a olhe como autêntica, eterna, esconder o começo se desejamos que ela não chegue rapido ao fim”. A tese sobre o imaginário e a força, bases do exercício da justiça, encontra seu correspondente na doutrina pascalina sobre o poder. Seguindo a tradição cristã que aponta o juiz e o poderoso como simples máscaras divinas, os Três Discursos sobre a condição dos Grandes enuncia que o ocupante do poder deve se considerar apenas como um náufrago parecido com o rei ausente de uma ilha. O respeito a ele prestado não lhe pertence. O povo se engana, imaginando ser ele o poderoso. O mando lhe vem de Deus, ou da natureza. A sua justiça é incerta como o fundamento de seu poder : a qualquer momento ela pode ser-lhe retirada. E nem a força militar possui fundações estáveis. Cromwell estava para dominar o mundo. De repente, um pequeno grão em sua uretra o colocou no túmulo. O poder que vem da força é limitado, finito, como a opinião que vem do imaginário. Mas os juízes devem temer a força : sempre pode ocorrer um evento em que “um simples soldado arranca o boné de um primeiro presidente de tribunal, e o faz voar pela janela” (Pensées, Pléiade, frag. 245).
Justiça para todos. Quanto ao primeiro termo, a filosofia só pode responder com uma busca de sentido, apontar para os inumeráveis desvios de significação que nele se encontram. Justiça, justiças. A força e a política, a retórica e a propaganda definem o campo destes valores, tornando dificílimo determinar lógica e ontológicamente o seu estatuto. Cautela, pois, diante da palavra e do que nela se visa. Afirma Pascal, “as palavras diversamente arrumadas proporcionam um sentido diferente, e os sentidos arrumados diversamente produzem efeitos diferentes”. (Pensées,Pléiade, frag. 66). A justiça e a política são pouco afeitas à razão, mas sim ao imaginário dos homens. Se Platão e Aristóteles, diz Pascal, escreveram sobre as leis e sobre o governo, “era como se eles quisessem regulamentar um hospício; e se pareceram falar destes assuntos como se fosse grande coisa, é que eles sabiam muito bem que os loucos a quem falavam pensavam ser reis e imperadores. Eles entraram nos seus princípios, para moderar sua loucura”. (Pensées, Pléiade, frag. 294). Não seria preciso Pascal para lembrar esta atitude filosófica. O próprio Platão, na Carta Sétima, diz que “nenhum homem sério, ocupado por questões sérias, não arriscará colocar no domínio público semelhantes questões (...) quando vemos obras escritas em forma de leis por algum legislador (...) saibamos que isto não é para ele o mais sério.(...) Supondo-se que aos seus olhos estas coisas sejam sérias, e por isto foram escritas, então podemos dizer que não os deuses, mas os mortais, lhe arruinaram totalmente o juízo”. (13 )
A razão aplicada sem cautelas lógicas à política e à sociedade não é racional. Ela se transforma em loucura. O poderoso é um ícone da vida humana e sua forma de ser o coloca apenas no ápice da Stultifera navis da humanidade, sempre à deriva. Peço licença para abordar, justo como um complemento das enunciações pascalinas, a lembrança do juiz extremamente racional, cujo livro é uma das maiores fontes para a análise do poder em nossos tempos. Refiro-me às Memórias de um doente de nervos (14 ) do presidente Daniel Paul Schreber e às observações a seu respeito em Massa e Poder de Elias Canetti. (15 )
Segundo Canetti, Schreber é paranóico e a sua doença liga-se diretamente ao poder. Ela é a normalidade dos homens numa sociedade de massas. No delírio, o juiz alemão insere a própria massa dos homens em seu corpo e em sua alma, digerindo-a. Os homens não existem para ele enquanto indivíduos autônomos, mas se diluem em multidões de pequenos entes ameaçadores. “Qualquer tentativa de análise conceitual do poder será mais pobre do que a clareza da visão de Schreber. Todos os elementos das circunstancias reais estão nela: a intensa e contínua tração sobre os indivíduos que irão se reunir numa massa, sua intenção duvidosa, sua domesticação, sua miniaturização, o fato de se amalgamarem no poderoso que representa o poder político em sua pessoa (...) o sentimento do catastrófico que está vinculado a tudo isso, uma ameaça à ordem universal...”.
Nos Testamentos, judaico e cristão, Deus é o único poderoso e o único justo. Com Schreber ficamos informados de que Deus, detentor do poder, tem partidos e seu reino reúne províncias. Para aumentar o seu mando, Deus elimina os homens incômodos. A impressão que temos ao ler o livro do juiz alemão, diz Canetti, é que “Deus está em guarda, como uma aranha, no centro da teia política”. Quando se percebe que na terra um Salvador representa Deus, e Schreber sintetiza em sua pessoa o Soter religioso e o político, captamos a extensão da paranóia instalada no indivíduo que ocupa o cargo de julgador dos homens e de mando sobre eles.
Alguns comentadores de Schreber, como o psicanalista Lacan, afirmam que nele encontra-se a razão das Luzes levadas ao paroxismo. Mas existe uma enorme distância entre o ideário sobre o papel de juiz nas Memórias de um doente de nervos, e as perspectivas dos philosophes no século 18. Para isto, basta consultar o verbete da Encyclopédie diderotiana, sobre o juíz: “ Como somos demasiadamente expostos à ceder às influencias da paixão quando se trata de nossos interesses, considerou-se bom, quando muitas famílias se reuniram num mesmo lugar, estabelecer juízes e revestí-los do poder de vingar os ofendidos, de modo que todos os membros da comunidade foram privados da liberdade oferecida pela natureza. Depois, tratou-se de remediar os males que a intriga ou a amizade, o amor ou o ódio, poderiam causar no espírito dos juízes nomeados. Foram feitas leis sobre este ponto, as quais regulamentaram a maneira de dar satisfações às injúrias, e a satisfação que as injúrias requeriam. Os juízes foram submetidos às leis; foram atadas as suas mãos, após terem sido cobertos os seus olhos para impedí-los de favorecer alguém; é por isto (...) que eles devem dizer o direito, e não fazer o direito. Eles não são árbitros, mas interpretes e defensores das leis”. (16 )
O juiz das Luzes interpreta a lei, o personagem de Schreber disputa com o artífice das leis, na tentativa de se fazer Deus. “Um doente mental”, enuncia Canetti, “que passou seus dias vegetando numa clínica, pode, pelos conhecimentos que proporciona, ser muito mais significativo do que Hitler ou Napoleão, e iluminar a humanidade a respeito de sua maldição e de seus senhores”. Nas Memórias, Schreber indica que as tentativas de dominação que sofreu por parte de seres minúsculos se caracterizavam sobretudo pelas perguntas e ordens. Comenta Elias Canetti: “Como instrumentos do poder, ambas são bem conhecidas; como juiz, Schreber mesmo as tinha manipulado exaustivamente”.
Dentre os desejos de Schreber, está o de invulnerabilidade frente à massa dos mortais, além da volúpia de sobreviver à custa dos subordinados, a mais forte inclinação dos poderosos. Deus é o máximo poder. Schreber termina sua delirante narrativa com um “fato” essencial. Enquanto juiz e poderoso, “tudo o que ocorre refere-se a mim. Eu me converti para Deus no homem absoluto ou no único homem, em torno do qual tudo gira, ao qual deve ser relacionado tudo o que ocorre e o qual, a partir do seu próprio ponto de vista, também deve referir todas as coisas a si mesmo”.
Justiça fugidía em Platão, inacessível plenamente ao homem nos textos bíblicos, exercida em plano cósmico e político na persona de Schreber, juiz poderoso e isolado de todos os demais homens, por ele percebidos como simples mortos. A paranóia, doença do mando, torna quem deveria ser apenas a máscara divina em rival de Deus. Suas sentenças seriam tão absolutas quanto as do ser divino. Ele distribui justiça para todos, sine ira et studio, mas apenas no conjunto, nunca visando indivíduos. Estes estão amalgamados num Todo indistinto. O comentário de Canetti sobre a atitude do juiz que domina, soberano, o mundo social, e para quem os homens nada significam a não ser que sejam integrados numa multidão, é perfeito: “Vêm-nos à lembrança algumas representações da iconografia cristã: anjos e santos, todos apertados lado a lado feito nuvens, às vezes como nuvens de verdade, nas quais apenas olhando-se com muita atenção percebem-se as cabeças individuais”. Tal é delírio totalitário in nuce na razão paranóica, e que tantos poderosos e magistrados a eles afins tentaram impôr, desgraçando milhões de individualidades. Aqui, o “todos” têm uma consistência monstruosa, pois exclui as partes, de uma forma ou de outra.
Desculpando-me pela impertinência, passo ao último ponto de minha fala, o âmbito da força enquanto verdade última da justiça, enunciada por Pascal. Antes, ainda uma nota sobre o paranóico: ele se percebe cercado. “Seu inimigo principal jamais se contentará com atacá-lo sozinho. Sempre procurará atiçar contra ele uma malta odiosa, soltando-a no momento exato. Os membros da malta a princípio se mantêm ocultos, podem estar por toda parte”. O vínculo da força e a desconfiança produziram os organismos secretos de vigia sobre os dominados em todos os regimes políticos autoritários do mundo moderno. Para o poderoso que só conhece a lógica da força, todos conspiram contra ele. Se o seu nome é Luiz 14 ou Napoleão, Hitler ou Stalin, Vargas ou...., é preciso vigiar os submetidos. E eles são uma totalidade compacta e homogênea. Indivíduos, para os poderosos da história ou segundo Schreber, simplesmente não existem: estão diluídos em massas compactas. O poderoso desmascara, com a polícia política, os supostos indivíduos, reduzindo-os a um Todo, o inimigo da França, do Reich, do proletariado, do povo brasileiro. Arrancada a máscara de cada um dos vigiados e presos, o poderoso os integra naqueles universais abstratos, o campo dos seus amigos e o dos seus inimigos, pois é seu suposto dever e missão julgar o mundo, como se ele fosse Deus. Aos seus olhos, todos conspiram para que ele, poderoso, morra. Só ele, inocente, pode sentenciar milhões à morte.
Se Schreber enunciou a lógica do isolamento que marca os poderosos e os magistrados dos tribunais de exceção, se um paranóico diz algo muito real sobre a essência do mando político autoritário, a lógica da espionagem governamental foi enunciada de modo perfeito por um inimigo jurado da democracia, Donoso Cortés. No Discurso sobre la dictadura (1849), ele diz que mais desce o nível da fé em Deus na sociedade, e mais o poder precisa emprestar a onisciência divina, além da onipotência. Chega um dia em que o governo diz: “temos um milhão de braços, mas não bastam. Precisamos mais, precisamos de um milhão de olhos. E tiveram a polícia e com ela um milhão de olhos. Apesar disto (...) o termômetro político e a repressão política deviam subir, porque, apesar de tudo, o termômetro religioso baixava, e subiram. Não bastou aos governos um milhão de braços, não lhes bastou um milhão de olhos. Eles quiseram um milhão de ouvidos, e os tiveram com a centralização administrativa, pela qual vieram parar no governo todas as reclamações e todas as queixas. (...) Mas os governos disseram: não me bastam, para reprimir, um milhão de braços; não me bastam, para reprimir, um milhão de olhos; não me bastam, para reprimir, um milhão de ouvidos; precisamos mais, precisamos ter o privilégio de nos encontrar ao mesmo tempo em todas as partes. E tiveram isto, pois se inventou o telégrafo”. (17 ) O texto é do século 19. Depois disto, quantos olhos e ouvidos, quanta ubiquidade ganharam os governos que têm a força e desconfiam dos subordinados !
Encerro minha fala. Em resumo, sublinho que o tema posto em debate, justiça para todos, precisa ser encarado com delicadeza máxima. Em primeiro lugar, porque a noção de Justiça pode ser transposta dos deuses para os homens poderosos, os quais se colocam como os grandes justiceiros da sociedade, ditando regras loucas mas fortes a que todos devem submeter-se. A história do nazismo e do estalinismo, a crônica das ditaduras brasileiras, tudo isso aconselha prudente desconfiança e sadio empirismo no trato da justiça. Razão em demasia na vida política e jurídica pode conduzir à gênese de personalidades como a do presidente Schreber, prototipo dos poderosos modernos. O segundo ponto que desejei mencionar é o quanto os que mandam guardam desconfiança absoluta diante dos subordinados. Esta falta de fé só pode ser atenuada em regime democrático. Neste, como não existem deuses dirigindo os destinos dos cidadãos, não ocorrem muitos segredos de Estado.(18 ) Para defendê-los, nenhuma instância pode se arrogar o direito de, com mil ou um milhão de olhos, ouvidos, braços, telégrafo, rádio, TV, jornais, Internet, destruir a intimidade dos indivíduos e a sua forma íntegra. Na democracia, a justiça considera as pessoas uma a uma, jamais subsumindo-as em pretensos coletivos, totalidades ontológica e lógicamente superiores aos átomos sociais. Justiça para todos significa justiça para cada um dos humanos. Nesta ordem, é inadmissível e monstruoso que organismos secretos tenham o direito de “arranhar” ou de abolir os direitos individuais ou as prerrogativas das pessoas reunidas em movimentos, partidos, igrejas.
Justiça para todos? Talvez, mas como avaliar a decisão que devolve aos organismos de espionagem documentos onde se confessa a tranqüila violência contra os direitos supremos da cidadania? Os representantes do poder executivo entram com procedimentos contra os Procuradores da República, tentando lhes aplicar penalidades por “abuso de autoridade”.(19 ) Os que decidem no tribunal aceitam argumentos como a “segurança do Estado”, quando a imprensa, no caso a Folha de São Paulo, mostra cópias dos mesmos documentos onde brasileiros são definidos como “prejudiciais” à vida nacional, operando os orgãos de informação como se ainda estivessemos sob a égide do AI-5. Não sou jurista. Mas além de pagar impostos que mantêm os três poderes, estudo um pouco a questão do Estado, tendo inclusive um doutoramento sobre o assunto na França, país onde se originaram as liberdades democráticas. Considero estranho que o termo “Estado” entre nós conote organismos de espionagem contra os compatriotas. Desde muito tempo, pelo menos desde a época em que a Revolução Francesa declarou os direitos do homem, e acabou o absolutismo do rei -cujo marco mais evidente foi o famoso “L´État c´est moi”- o “Estado” é o conjunto da cidadania. Basta dos grupos, de direita ou de esquerda, que no pretérito, em Moscou ou Berlim, praticaram todos os crimes imagináveis e não imagináveis em nome da segurança do Estado. Elias Canetti disse um dia que tendo o homem inventado o inferno, infinitos seriam os horrores que poderíamos esperar deste ser “racional”. Devem encontrar segurança contra o inferno autoritário os indivíduos que trabalham e sacrificam suas forças em prol do bem comum, nunca os espiões que não se pejam de conviver disfarçados, de jornalistas ou com outra máscara, e ousam julgar os seus irmãos, que os chefes apontam, sem provas e com dolo, como “inimigos” ao modo de Carl Schmitt.
Justiça para todos? Se os documentos apreendidos pelos Procuradores da República enunciam monstruosidades subversivas como as que todos lemos é preciso decidir: ou o Estado é aquele onde o povo detêm a soberania e no qual todo poder só pode exercitar-se em seu nome, ou ele resume-se ao Executivo e aos seus pretores, esbirros e similares. Como cidadão que frequentou as cadeias da ditadura militar, não aceito a maneira pela qual os procedimentos daquela época são mantidos, apenas mudando-se os nomes, reiterando-se a mesma doutrina paranóica e anti-democrática sobre a “segurança nacional”, a mesma polícia secreta à qual se atribui o privilégio de julgar quem é bom cidadão brasileiro, e à qual se permite violar a intimidade das pessoas, atentando contra as garantias constitucionais.
Isto constitui, de fato e de direito, a suprema injustiça. Que os espiões e seus líderes saibam: com a pretensão de se julgarem deuses consagrados pela onisciência, eles sim, integram o número das “forças adversas” que destroem na raiz a justiça, a fé pública, componentes sine qua non do regime democrático e das liberdades individuais e coletivas. Enquanto existirem espiões pagos pelos contribuintes e cidadãos, agindo de modo conspiratório e marcados pela paranóia, tenho a certeza de que não haverá justiça, nem para cada um, nem para todos nós.
Obrigado.
O tema indicado para a reflexão é árduo. Sentimos angústia ao dele nos aproximar. Ele apresenta todas as marcas da experiência definida pela estética filosófica como “sublime”. Respeito e temor, de um lado, aspirações nobres da luz natural, de outro, cercam a noção arcaica de justiça. Quando evoco a palavra “arcaica” refiro-me à lógica do termo grego, arché, que abarca ao mesmo tempo as origens do mundo e do homem, o poder e o fundamento da polis. A noção polissêmica de justiça evidencia o seu aspecto arcaico porque conduz o pensamento sobre o poder para além da finitude, abrindo o horizonte em realidades que transcendem o tempo e o espaço, rumo à divindade ou à natureza. Justiça plena não é destinada aos mortais. Estes apenas conseguem entrever, com muitas dificuldades, os traços de superfície da ordem justa. O mal e o bem são vistos pelos humanos sem a devida profundeza. E por isto eles se colocam a julgar tudo, do universo à divindade. É assim que surgiu a experiência de um tribunal da razão onde Deus tem sido julgado desde os tempos antigos, constituindo-se o campo imenso da Teodicéia.
Platão situa-se no início da longa fieira dos filósofos que defendam as divindades, “os deuses são inocentes”. O mal no universo, entretanto, sempre levantou acusações perenes contra os numes. A solução de Leibniz é conhecida: o mal seria um problema de perspectiva. Nós, mônadas que espelham o cosmos, somos limitados. A nossa percepção do mundo é sempre anamorfótica. (1 ) Enxergamos tudo distorcido, de modo que a justiça e a bondade nos parecem pervertidas ou enodoadas. Apenas Deus visualiza o todo simultâneamente. Só Ele tem o saber sobre si mesmo. Refletimos outros eventos e seres. Em nosso horizonte a justiça é relativa por necessidade ontológica.
Assim, o tema da mesa e o seu rigor “Justiça para todos”, pode ser ponderado. A idéia mesma de “pensar” une-se de imediato à de pesar. Pensamento é pesagem de palavras e de conceitos. Todo juiz deve ser um pensador, imagino. A balança depositada nas mãos da justiça é simbolo eloquente deste vínculo.(2)Deixem-me ponderar esta moeda que se apresenta hoje para nós, o enunciado sobre a Justiça para todos.
Pensadores gregos e personagens bíblicos indicam a frágil consistência de nossa justiça, a sua pobre universalidade. O mais arcaico dos livros sobre a justiça e a política, a República platônica, insiste em mostrar que a justiça, para os mortais, é caça fugidía, a qual sempre pode escapar de nossas mãos e inteligências. Permitam-me repetir as palavras dos interlocutores daquele diálogo. Sócrates e Glaucon já definiram as bases harmônicas do governo, com o estabelecimento de quem deve mandar na cidade. Mas isto não basta. É preciso ir mais fundo e atingir a justiça. Mas como encontrá-la? Olhe Glaucon, adverte Sócrates, “agora temos de nos postar em círculo à volta da moita, como caçadores de espírito atento, não vá a justiça fugir por qualquer lado, tornar-se invisível e desaparecer. Pois é evidente que ela anda aí por qualquer canto. Olha então e esforça-te por a descortinares, a ver se a avistas antes de mim e me prevines”. A Justiça não é evidente, pois habita, afiança o arguto Sócrates, num “lugar inacessível e sombrio, pois é escuro e dificil para a batida”.(3 ) Resta a esperança de pegar a caça/Justiça através de seu rasto. É para isto que Platão redigiu a República. Este texto apresenta as pistas para se atingir a Justiça. Nenhuma certeza entretanto é concedida, porque a caça depende da boa constituição do caçador, de seu treino, e sobremodo de sua astúcia.
A busca da Justiça, determinada enquanto caça que exige destreza do pesquisador, insere-se num pensamento mais amplo sobre o mundo e a existência humana coletiva, onde o conceito mesmo de astúcia define todos vínculos entre os seres. Para os gregos, a metis habita todo ente vivo, sendo ela mesma uma forma de vida. Todo ser possui sua astúcia, o peixe a tem. O pescador dela precisa se utilizar. O camaleão e o governante, todos expandem o seu ser através da astúcia. Ulisses é dito polimetis, homem de muitas astúcias, e por isto sobreviveu aos horrendos monstros e aos mais violentos inimigos humanos. (4 ) A arte da caça e a política, bem como o exercício da justiça, têm em comum a própria astúcia. Até os nossos dias a palavra “meticulosidade” constitui um sinal distintivo do bom governante e do juiz competente. A justiça e o governo correto resultam da busca treinada e jamais são garantidos pelo status deste ou daquele indivíduo.
Se entre os gregos a justiça não é um dom, mas deve ser conquistada com diligente inteligência, o Antigo Testamento define que o único juiz e a única justiça efetiva é a divina. O grande enunciado sobre o Deus justo encontra-se no Livro de Jó, que serviu até em I. Kant como referência para o problema do mal e da liberdade humana. Lemos no texto sagrado: “Na verdade, Deus não pratica o mal, Shaddai não perverte o direito (...) Um inimigo do direito saberia governar? Ousarias condenar o Justo onipotente?”. Se na República a justiça se esconde num lugar sombrio, aqui a injustiça, mesmo envolta em trevas, não escapa aos olhos divinos: “não há trevas, nem sombras espessas, onde possam esconder-se os malfeitores. Pois que não se fixa ao homem um prazo para comparecer ao tribunal divino. Ele aniquila os poderosos sem muitos inqueritos e põe outros em seu lugar”.(34, 12-24). (5 )
Um fato interessante de referência textual, ajuda a refletir sobre a justiça e o poder, neste Livro de Jó. O texto é muito corrompido, cheio de incertezas para o exegeta moderno, cujos parâmetros são dados pela ciência e pela história. Mas a Septuaginta e a Vulgata trazem um versículo relevante, que ajudou a cultura cristã a pensar os nexos entre o governo e a justiça divinos e o mesmo prisma no campo humano. “Ele faz reinar o homem hipócrita por causa dos pecados do povo”. (6 ) Dois lados da mesma experiência sobre a justiça, bem apanhados por Tomás de Aquino no seu comentário sobre Jó : Deus justo, povo injusto. E o resultado disto é que reina o tirano que, bom artista, exerce o julgamento e o poder e por isto ostenta a máscara da justiça, mas só a máscara. (7 ) Esta doutrina sobre o poderoso enquanto persona do ser divino tem origem no Evangelho de Mateus sendo de lá que os tradutores latinos e gregos retiraram a idéia da magistratura enquanto máscara: “Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus” (5, 20). A justiça é algo que não se exibe, visto que em nós ela é um empréstimo da verdadeira, a divina: “guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles” (6, 1). A nossa justiça é falha, unida à vingança e às paixões, entre elas a da vaidade. Esquecemos que somos apenas a persona de Deus e nos arrogamos o direito de julgar em última instância. Cautela, “não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados; e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também (...) Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão” (7, 1-5). A justiça humana é cheia de embustes e astúcias. Os que obedecem a justiça divina devem saber, de antemão, que seu destino é mover-se entre serpes. Eles também devem ser astutos como as cobras, porque os homens têm o costume de mandar os justos para os tribunais, punindo neles exatamente a justiça, aprovando o mal. (Mateus, 10, 16-17). O ponto culminante da doutrina sobre os poderosos e juízes enquanto máscaras de Deus, encontra-se em Mateus 23: “Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras; porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los” (1-4).
Quanto à Justiça, pois, é preciso considerar que as duas vertentes, a grega e a judaico-cristã, não a determinam como acessível de modo íntegro nos limites do tempo e do espaço. Na versão platônica, a esperança de atingí-la encontra-se no conhecimento e na disciplina de corpos e de mentes. Na ordem do Antigo Testamento e do Novo, ela só pode ser atribuída a um Ser que nos ultrapassa de modo infinito. Para nós, vale a face fenomênica da justiça, a sua superfície, e quem a aplica não passa de uma distorcida máscara divina. Vem daí a insistência do Cristo no termo “hipócrita”. Nossos juízes e governos são apenas a persona do Absoluto. E a justiça ao nosso alcance é apenas relativa.
A filosofia opera sempre com a passagem do Absoluto, o que não tem amarras espaço-temporais, para o relativo, o finito. No caso da justiça e do poder, ninguém mais do que Blaise Pascal foi adiante na dedução da nossa terrível fragilidade diante do infinito. Deste modo, ele escreveu a sátira mais dura contra os governantes e a justiça dos homens, em pleno século 17, época do apogeu da monarquia supostamente “absoluta”. A coragem de Pascal e de seus companheiros jansenistas lhes valeu a ira de Luis 14. Espanta, até hoje, saber que o mosteiro de Port-Royal foi salgado, destruído, e os mortos foram extraídos de seus túmulos para receberem a fôrca, a fim de aplacar a justiça do rei. Se relermos os fragmentos pascalinos sobre a justiça, não apenas no seu conceito, mas na sua execução, e os enunciados sobre o poder, veremos que a violência real tinha motivos.Não só no conceito (sabemos o que disse ele nos Pensamentos, com acentuado sabor cético) sobre a justiça que muda segundo os acidentes geográficos e os costumes. A justiça pode mudar de um lado do rio para o outro. Num século que buscava, com Descartes, fundamentos sólidos para a ciência e para o convívio humano, Pascal foi incômodo. Mas fiquemos com o exercício cotidiano do poder e dos tribunais.
Os juízes são atores que portam a máscara da justiça, mas não a exercem de fato. Se eles tivessem a justiça verdadeira “eles não teriam o que fazer de seus bonés quadrados”. O costume é descrever o autor dos Pensamentos como um místico, crítico da filosofia cartesiana em plano sentimental. Os temas pascalinos do coração, com suas razões que a própria razão desconhece, tornou-se risível lugar comum. Que o Pascal místico e inimigo do pensamento não é o verdadeiro, nós todos sabemos, sobretudo após as pesquisas de Lucien Goldman. Mas é preciso aprofundar as razões pascalinas para definir bem o que ele pensava da sociedade e da política. Um autor importante na análise do tempo, Sainte Beuve, no clássico texto sobre Port Royal, diz que a diferença entre Hobbes e Pascal é mínima. Autores de hoje comparam as teses políticas do filósofo às de Maquiavel e de Montaigne. Trata-se de um item do maior interesse, mormente quando, no mundo acadêmico se questiona a idéia de um direito natural. Pascal desconfiava daquele suposto direito, o que embaraça os comentadores, sobretudo quando analisam as suas teses sobre o direito de propriedade, o exército, o respeito às autoridades constituidas.
“Há sem dúvida leis naturais”, diz Pascal,”mas esta bela razão corrompida tudo corrompeu (...) Desta confusão ocorre que um diz que a essência da justiça é a autoridade do legislador; o outro, a comodidade do soberano; o outro o costume presente, e isto é o mais seguro : nada, segundo apenas a razão, é justo em si; tudo é abalado com o tempo. O costume determina toda equidade, só porque o costume é recebido; este é o fundamento místico de sua autoridade” (Pensées, Pléiade, frag. 230). A Justiça pode ser ainda mais frívola: “Comme la mode fait l´agrément, aussi fait-elle la justice” (frag. 237). Justiça unida à moda : é um pouco forte, mesmo em nossos dias.
Na época de Pascal domina a estrita conformidade política, pois se trata da França sob o absolutismo instituido por Richelieu, o qual domou a nobreza em Versalhes e impos à nação o Estado centralizador e centralizado, com um permanente culto ao rei, o qual não permitia oposições internas. As lutas sangrentas de religião, que culminaram na Noite de São Bartolomeu, trouxeram a norma que proibia aos particulares lutar para impor a sua crença acima do Estado. Tudo isso possibilitou, como antecedentes do absolutismo, um clima de medo e de obediência forçada diante do rei e de seus ministros. As heterodoxias religiosas e civís foram banidas. Se no século 16 ainda eram mortos na fogueira os livres pensadores ou ateus, no século 17 eles sequer vinham a público para apresentar idéias.Surgem os escritores anônimos. Não raro, eles eram piedosos na vida civil e críticos ferozes dos dogmas religiosos na existência privada. (8 ) A censura era eficiente. Além dela, a ação das Academias de ciências, artes, literatura, etc. serviu para impor uma ortodoxia do Estado, com o rei no seu ápice. Tudo passou a ser feito para propagar o culto à personalidade do rei. (9 )
Pascal considera as idéias de propriedade e as instituições políticas apenas como instituições cômodas para manter a ordem. Elas indicam a servidão do povo. O filósofo pergunta: quem dispensa a reputação dos indivíduos? Quem fornece o respeito e a veneração pelas pessoas, obras, leis, aos grandes, senão a faculdade imaginante? (10 ) As riquezas, seriam insuficientes sem o consentimento da imaginação.
Mesmo um magistrado venerável, será que ele enuncia suas sentenças sem apego ao imaginário que fere as mentes fracas? Se este mesmo juiz entra numa igreja e o padre apresenta algum defeito (uma barba mal feita, e outros pequenos erros no rosto ou vestimenta) “aposto” diz Pascal, “na perda de sua gravidade”. E mesmo o maior filósofo, diz Pascal, andando sobre uma prancha, a maior que se possa encontrar, se em baixo percebe um precipício, embora a sua razão o convença de que está em segurança, prevalecerá a sua imaginação. “Muitos não conseguiriam sustentar o pensamento sem suar e empalidecer”.
O pensamento que capta o real é insuportável, como o próprio real. Daí, o consolo da imaginação que enfeita o efetivo, dando-nos medo ou encanto, mas sempre nos poupando da verdade, a qual tememos e que pode ser letífera. A retórica usa a imaginação para mudar opiniões, e faz isto não apenas com imagens completas, belas, cativantes. Ela faz isto até mesmo com uma pequena mudança na inflexão da voz. Um tom de autoridade pode mudar até mesmo a opinião de um homem que se julga, e é julgado pelos homens, como superior. Nós sabemos, diz Pascal, “que um advogado bem pago previamente considera mais justa a causa que ele defende. O quanto o seu gesto ousado o faz parecer melhor para os juízes, enganados por esta aparência...” Razão engraçada esta, continua Pascal, “que muda com um vento, em todos os sentidos!”
Quem desejasse seguir apenas a razão seria louco. Trabalha-se o dia todo tendo em vista bens imaginários, dorme-se e se acorda para ir atrás de fumaças, à procura desta senhora do mundo. O predomínio da imaginação sobre a razão é uma das causas do erro, mas não a única. E aqui chega a frase satírica e justa: “nossos magistrados conhecem bem este mistério (o predominio da imaginação sobre a razão), pois usam vestidos vermelhos, arminhos, usam palácios, flores de lis em suas armas.Se os médicos não tivessem nem sotainas nem mulas, e se os doutores não tivessem bonés quadrados e vestidos amplo, nunca teriam enganado (dupé) o mundo que não pode resistir a esta mostra tão autêntica. Mas só possuindo ciências imaginárias, é preciso que eles peguem estes instrumentos que ferem a imaginação, à qual eles mesmos se apegam. E por este meio eles atraem para si o respeito. Só os guerreiros não se disfarçam deste modo, porque sua parte é mais essencial, eles se estabelecem pela força, enquanto os demais o fazem através de caretas”. (11)
Assim, juízes e médicos recebem as flechas de Pascal, com base no seu uso da imaginação e no desempenho de ciencias imaginárias. Também os reis são por ele ironizados. Eles se fazem respeitar por se apresentarem sempre com homens em armas, tambores, trombetas, as quais fazem “tremer os mais firmes”.
“O costume de ver reis acompanhados de guardas tambores, oficiais, e de todas as coisas que inclinam a máquina rumo ao respeito e ao terror, faz com que seu rosto, quando estão sós e sem os seus acompanhamentos, imprima aos súditos o respeito e o terror, porque não se separa a sua pessoa dos acessórios que sempre vem juntos deles. E o mundo que não sabe de onde vem este costume, acredita que ele vem de uma força natural, e dai derivam estas palavras: ´o caráter divino está impresso em seu rosto´, etc”. A força mostra seu papel, ao lado da imaginação ou unida a ela. “Não podendo encontrar o justo, encontrou-se o forte”, “não podendo fazer com que o justo fosse forte, fez-se com que o forte fosse justo”. (12)
Finalmente, vem o engano para manter o Estado e a sociedade. “Pelo bem dos homens, é preciso enganá-los com muita frequência”. É estratégico que o povo não sinta a verdade da usurpação. “Ela foi introduzida anteriormente sem razão, ela tornou-se razoável, é preciso fazer com que se a olhe como autêntica, eterna, esconder o começo se desejamos que ela não chegue rapido ao fim”. A tese sobre o imaginário e a força, bases do exercício da justiça, encontra seu correspondente na doutrina pascalina sobre o poder. Seguindo a tradição cristã que aponta o juiz e o poderoso como simples máscaras divinas, os Três Discursos sobre a condição dos Grandes enuncia que o ocupante do poder deve se considerar apenas como um náufrago parecido com o rei ausente de uma ilha. O respeito a ele prestado não lhe pertence. O povo se engana, imaginando ser ele o poderoso. O mando lhe vem de Deus, ou da natureza. A sua justiça é incerta como o fundamento de seu poder : a qualquer momento ela pode ser-lhe retirada. E nem a força militar possui fundações estáveis. Cromwell estava para dominar o mundo. De repente, um pequeno grão em sua uretra o colocou no túmulo. O poder que vem da força é limitado, finito, como a opinião que vem do imaginário. Mas os juízes devem temer a força : sempre pode ocorrer um evento em que “um simples soldado arranca o boné de um primeiro presidente de tribunal, e o faz voar pela janela” (Pensées, Pléiade, frag. 245).
Justiça para todos. Quanto ao primeiro termo, a filosofia só pode responder com uma busca de sentido, apontar para os inumeráveis desvios de significação que nele se encontram. Justiça, justiças. A força e a política, a retórica e a propaganda definem o campo destes valores, tornando dificílimo determinar lógica e ontológicamente o seu estatuto. Cautela, pois, diante da palavra e do que nela se visa. Afirma Pascal, “as palavras diversamente arrumadas proporcionam um sentido diferente, e os sentidos arrumados diversamente produzem efeitos diferentes”. (Pensées,Pléiade, frag. 66). A justiça e a política são pouco afeitas à razão, mas sim ao imaginário dos homens. Se Platão e Aristóteles, diz Pascal, escreveram sobre as leis e sobre o governo, “era como se eles quisessem regulamentar um hospício; e se pareceram falar destes assuntos como se fosse grande coisa, é que eles sabiam muito bem que os loucos a quem falavam pensavam ser reis e imperadores. Eles entraram nos seus princípios, para moderar sua loucura”. (Pensées, Pléiade, frag. 294). Não seria preciso Pascal para lembrar esta atitude filosófica. O próprio Platão, na Carta Sétima, diz que “nenhum homem sério, ocupado por questões sérias, não arriscará colocar no domínio público semelhantes questões (...) quando vemos obras escritas em forma de leis por algum legislador (...) saibamos que isto não é para ele o mais sério.(...) Supondo-se que aos seus olhos estas coisas sejam sérias, e por isto foram escritas, então podemos dizer que não os deuses, mas os mortais, lhe arruinaram totalmente o juízo”. (13 )
A razão aplicada sem cautelas lógicas à política e à sociedade não é racional. Ela se transforma em loucura. O poderoso é um ícone da vida humana e sua forma de ser o coloca apenas no ápice da Stultifera navis da humanidade, sempre à deriva. Peço licença para abordar, justo como um complemento das enunciações pascalinas, a lembrança do juiz extremamente racional, cujo livro é uma das maiores fontes para a análise do poder em nossos tempos. Refiro-me às Memórias de um doente de nervos (14 ) do presidente Daniel Paul Schreber e às observações a seu respeito em Massa e Poder de Elias Canetti. (15 )
Segundo Canetti, Schreber é paranóico e a sua doença liga-se diretamente ao poder. Ela é a normalidade dos homens numa sociedade de massas. No delírio, o juiz alemão insere a própria massa dos homens em seu corpo e em sua alma, digerindo-a. Os homens não existem para ele enquanto indivíduos autônomos, mas se diluem em multidões de pequenos entes ameaçadores. “Qualquer tentativa de análise conceitual do poder será mais pobre do que a clareza da visão de Schreber. Todos os elementos das circunstancias reais estão nela: a intensa e contínua tração sobre os indivíduos que irão se reunir numa massa, sua intenção duvidosa, sua domesticação, sua miniaturização, o fato de se amalgamarem no poderoso que representa o poder político em sua pessoa (...) o sentimento do catastrófico que está vinculado a tudo isso, uma ameaça à ordem universal...”.
Nos Testamentos, judaico e cristão, Deus é o único poderoso e o único justo. Com Schreber ficamos informados de que Deus, detentor do poder, tem partidos e seu reino reúne províncias. Para aumentar o seu mando, Deus elimina os homens incômodos. A impressão que temos ao ler o livro do juiz alemão, diz Canetti, é que “Deus está em guarda, como uma aranha, no centro da teia política”. Quando se percebe que na terra um Salvador representa Deus, e Schreber sintetiza em sua pessoa o Soter religioso e o político, captamos a extensão da paranóia instalada no indivíduo que ocupa o cargo de julgador dos homens e de mando sobre eles.
Alguns comentadores de Schreber, como o psicanalista Lacan, afirmam que nele encontra-se a razão das Luzes levadas ao paroxismo. Mas existe uma enorme distância entre o ideário sobre o papel de juiz nas Memórias de um doente de nervos, e as perspectivas dos philosophes no século 18. Para isto, basta consultar o verbete da Encyclopédie diderotiana, sobre o juíz: “ Como somos demasiadamente expostos à ceder às influencias da paixão quando se trata de nossos interesses, considerou-se bom, quando muitas famílias se reuniram num mesmo lugar, estabelecer juízes e revestí-los do poder de vingar os ofendidos, de modo que todos os membros da comunidade foram privados da liberdade oferecida pela natureza. Depois, tratou-se de remediar os males que a intriga ou a amizade, o amor ou o ódio, poderiam causar no espírito dos juízes nomeados. Foram feitas leis sobre este ponto, as quais regulamentaram a maneira de dar satisfações às injúrias, e a satisfação que as injúrias requeriam. Os juízes foram submetidos às leis; foram atadas as suas mãos, após terem sido cobertos os seus olhos para impedí-los de favorecer alguém; é por isto (...) que eles devem dizer o direito, e não fazer o direito. Eles não são árbitros, mas interpretes e defensores das leis”. (16 )
O juiz das Luzes interpreta a lei, o personagem de Schreber disputa com o artífice das leis, na tentativa de se fazer Deus. “Um doente mental”, enuncia Canetti, “que passou seus dias vegetando numa clínica, pode, pelos conhecimentos que proporciona, ser muito mais significativo do que Hitler ou Napoleão, e iluminar a humanidade a respeito de sua maldição e de seus senhores”. Nas Memórias, Schreber indica que as tentativas de dominação que sofreu por parte de seres minúsculos se caracterizavam sobretudo pelas perguntas e ordens. Comenta Elias Canetti: “Como instrumentos do poder, ambas são bem conhecidas; como juiz, Schreber mesmo as tinha manipulado exaustivamente”.
Dentre os desejos de Schreber, está o de invulnerabilidade frente à massa dos mortais, além da volúpia de sobreviver à custa dos subordinados, a mais forte inclinação dos poderosos. Deus é o máximo poder. Schreber termina sua delirante narrativa com um “fato” essencial. Enquanto juiz e poderoso, “tudo o que ocorre refere-se a mim. Eu me converti para Deus no homem absoluto ou no único homem, em torno do qual tudo gira, ao qual deve ser relacionado tudo o que ocorre e o qual, a partir do seu próprio ponto de vista, também deve referir todas as coisas a si mesmo”.
Justiça fugidía em Platão, inacessível plenamente ao homem nos textos bíblicos, exercida em plano cósmico e político na persona de Schreber, juiz poderoso e isolado de todos os demais homens, por ele percebidos como simples mortos. A paranóia, doença do mando, torna quem deveria ser apenas a máscara divina em rival de Deus. Suas sentenças seriam tão absolutas quanto as do ser divino. Ele distribui justiça para todos, sine ira et studio, mas apenas no conjunto, nunca visando indivíduos. Estes estão amalgamados num Todo indistinto. O comentário de Canetti sobre a atitude do juiz que domina, soberano, o mundo social, e para quem os homens nada significam a não ser que sejam integrados numa multidão, é perfeito: “Vêm-nos à lembrança algumas representações da iconografia cristã: anjos e santos, todos apertados lado a lado feito nuvens, às vezes como nuvens de verdade, nas quais apenas olhando-se com muita atenção percebem-se as cabeças individuais”. Tal é delírio totalitário in nuce na razão paranóica, e que tantos poderosos e magistrados a eles afins tentaram impôr, desgraçando milhões de individualidades. Aqui, o “todos” têm uma consistência monstruosa, pois exclui as partes, de uma forma ou de outra.
Desculpando-me pela impertinência, passo ao último ponto de minha fala, o âmbito da força enquanto verdade última da justiça, enunciada por Pascal. Antes, ainda uma nota sobre o paranóico: ele se percebe cercado. “Seu inimigo principal jamais se contentará com atacá-lo sozinho. Sempre procurará atiçar contra ele uma malta odiosa, soltando-a no momento exato. Os membros da malta a princípio se mantêm ocultos, podem estar por toda parte”. O vínculo da força e a desconfiança produziram os organismos secretos de vigia sobre os dominados em todos os regimes políticos autoritários do mundo moderno. Para o poderoso que só conhece a lógica da força, todos conspiram contra ele. Se o seu nome é Luiz 14 ou Napoleão, Hitler ou Stalin, Vargas ou...., é preciso vigiar os submetidos. E eles são uma totalidade compacta e homogênea. Indivíduos, para os poderosos da história ou segundo Schreber, simplesmente não existem: estão diluídos em massas compactas. O poderoso desmascara, com a polícia política, os supostos indivíduos, reduzindo-os a um Todo, o inimigo da França, do Reich, do proletariado, do povo brasileiro. Arrancada a máscara de cada um dos vigiados e presos, o poderoso os integra naqueles universais abstratos, o campo dos seus amigos e o dos seus inimigos, pois é seu suposto dever e missão julgar o mundo, como se ele fosse Deus. Aos seus olhos, todos conspiram para que ele, poderoso, morra. Só ele, inocente, pode sentenciar milhões à morte.
Se Schreber enunciou a lógica do isolamento que marca os poderosos e os magistrados dos tribunais de exceção, se um paranóico diz algo muito real sobre a essência do mando político autoritário, a lógica da espionagem governamental foi enunciada de modo perfeito por um inimigo jurado da democracia, Donoso Cortés. No Discurso sobre la dictadura (1849), ele diz que mais desce o nível da fé em Deus na sociedade, e mais o poder precisa emprestar a onisciência divina, além da onipotência. Chega um dia em que o governo diz: “temos um milhão de braços, mas não bastam. Precisamos mais, precisamos de um milhão de olhos. E tiveram a polícia e com ela um milhão de olhos. Apesar disto (...) o termômetro político e a repressão política deviam subir, porque, apesar de tudo, o termômetro religioso baixava, e subiram. Não bastou aos governos um milhão de braços, não lhes bastou um milhão de olhos. Eles quiseram um milhão de ouvidos, e os tiveram com a centralização administrativa, pela qual vieram parar no governo todas as reclamações e todas as queixas. (...) Mas os governos disseram: não me bastam, para reprimir, um milhão de braços; não me bastam, para reprimir, um milhão de olhos; não me bastam, para reprimir, um milhão de ouvidos; precisamos mais, precisamos ter o privilégio de nos encontrar ao mesmo tempo em todas as partes. E tiveram isto, pois se inventou o telégrafo”. (17 ) O texto é do século 19. Depois disto, quantos olhos e ouvidos, quanta ubiquidade ganharam os governos que têm a força e desconfiam dos subordinados !
Encerro minha fala. Em resumo, sublinho que o tema posto em debate, justiça para todos, precisa ser encarado com delicadeza máxima. Em primeiro lugar, porque a noção de Justiça pode ser transposta dos deuses para os homens poderosos, os quais se colocam como os grandes justiceiros da sociedade, ditando regras loucas mas fortes a que todos devem submeter-se. A história do nazismo e do estalinismo, a crônica das ditaduras brasileiras, tudo isso aconselha prudente desconfiança e sadio empirismo no trato da justiça. Razão em demasia na vida política e jurídica pode conduzir à gênese de personalidades como a do presidente Schreber, prototipo dos poderosos modernos. O segundo ponto que desejei mencionar é o quanto os que mandam guardam desconfiança absoluta diante dos subordinados. Esta falta de fé só pode ser atenuada em regime democrático. Neste, como não existem deuses dirigindo os destinos dos cidadãos, não ocorrem muitos segredos de Estado.(18 ) Para defendê-los, nenhuma instância pode se arrogar o direito de, com mil ou um milhão de olhos, ouvidos, braços, telégrafo, rádio, TV, jornais, Internet, destruir a intimidade dos indivíduos e a sua forma íntegra. Na democracia, a justiça considera as pessoas uma a uma, jamais subsumindo-as em pretensos coletivos, totalidades ontológica e lógicamente superiores aos átomos sociais. Justiça para todos significa justiça para cada um dos humanos. Nesta ordem, é inadmissível e monstruoso que organismos secretos tenham o direito de “arranhar” ou de abolir os direitos individuais ou as prerrogativas das pessoas reunidas em movimentos, partidos, igrejas.
Justiça para todos? Talvez, mas como avaliar a decisão que devolve aos organismos de espionagem documentos onde se confessa a tranqüila violência contra os direitos supremos da cidadania? Os representantes do poder executivo entram com procedimentos contra os Procuradores da República, tentando lhes aplicar penalidades por “abuso de autoridade”.(19 ) Os que decidem no tribunal aceitam argumentos como a “segurança do Estado”, quando a imprensa, no caso a Folha de São Paulo, mostra cópias dos mesmos documentos onde brasileiros são definidos como “prejudiciais” à vida nacional, operando os orgãos de informação como se ainda estivessemos sob a égide do AI-5. Não sou jurista. Mas além de pagar impostos que mantêm os três poderes, estudo um pouco a questão do Estado, tendo inclusive um doutoramento sobre o assunto na França, país onde se originaram as liberdades democráticas. Considero estranho que o termo “Estado” entre nós conote organismos de espionagem contra os compatriotas. Desde muito tempo, pelo menos desde a época em que a Revolução Francesa declarou os direitos do homem, e acabou o absolutismo do rei -cujo marco mais evidente foi o famoso “L´État c´est moi”- o “Estado” é o conjunto da cidadania. Basta dos grupos, de direita ou de esquerda, que no pretérito, em Moscou ou Berlim, praticaram todos os crimes imagináveis e não imagináveis em nome da segurança do Estado. Elias Canetti disse um dia que tendo o homem inventado o inferno, infinitos seriam os horrores que poderíamos esperar deste ser “racional”. Devem encontrar segurança contra o inferno autoritário os indivíduos que trabalham e sacrificam suas forças em prol do bem comum, nunca os espiões que não se pejam de conviver disfarçados, de jornalistas ou com outra máscara, e ousam julgar os seus irmãos, que os chefes apontam, sem provas e com dolo, como “inimigos” ao modo de Carl Schmitt.
Justiça para todos? Se os documentos apreendidos pelos Procuradores da República enunciam monstruosidades subversivas como as que todos lemos é preciso decidir: ou o Estado é aquele onde o povo detêm a soberania e no qual todo poder só pode exercitar-se em seu nome, ou ele resume-se ao Executivo e aos seus pretores, esbirros e similares. Como cidadão que frequentou as cadeias da ditadura militar, não aceito a maneira pela qual os procedimentos daquela época são mantidos, apenas mudando-se os nomes, reiterando-se a mesma doutrina paranóica e anti-democrática sobre a “segurança nacional”, a mesma polícia secreta à qual se atribui o privilégio de julgar quem é bom cidadão brasileiro, e à qual se permite violar a intimidade das pessoas, atentando contra as garantias constitucionais.
Isto constitui, de fato e de direito, a suprema injustiça. Que os espiões e seus líderes saibam: com a pretensão de se julgarem deuses consagrados pela onisciência, eles sim, integram o número das “forças adversas” que destroem na raiz a justiça, a fé pública, componentes sine qua non do regime democrático e das liberdades individuais e coletivas. Enquanto existirem espiões pagos pelos contribuintes e cidadãos, agindo de modo conspiratório e marcados pela paranóia, tenho a certeza de que não haverá justiça, nem para cada um, nem para todos nós.
Obrigado.
___________
1 A visão do mal é como “nestas invenções de perspectiva onde certos desenhos belos parecem apenas confusos, até que sejam relacionados aos seus verdadeiros pontos de vista, onde os olhamos por meio de um vidro ou espelho (...) Assim as disformidades aparentes de nossos pequenos mundos reunem-se em belezas no grande”. Leibniz, G. W. : Essais de Théodicée. Sur la Bonté de Dieu, la Liberté de l ´Homme et l ´Origine du Mal. Paris, Flammarion, 1969, § 147, p. 199. Anamorfose é fenômeno optico que preocupou muito os pensadores até que suas regras fossem descobertas .Ela coloca em dúvida a percepção do olhar, pois apresenta a possibilidade de o mundo “real” ser disforme. A metáfora de Leibniz, do mundo físico para o moral, é questionável. I. Kant não aceita semelhante passagem do campo natural para o do espírito. Para ele, “o céu estrelado” está diante de mim e a lei moral “está em mim”. Apenas a faculdade do julgamento, na Terceira Critica, permite passar do visível, o fenômeno, ao invisível, o noumeno. E isto é possibilitado pela arte, não pela física ou pela moral. Sobre a anamorfose, cf. Baltrusaitis, Jurgis, Anamorphoses, ou les perspectives dépravées, Paris, Flammarionm 1984. Do mesmo autor, cf. Le Miroir, Paris, Seuil/Elmayan, 1978. Sobre o assunto, cf. Hocke, Gustav R. Maneirismo: o mundo como labirinto. São Paulo, Perspectiva/Usp, 1974.
2 Cf. sobre este ponto, as análises de Silvio Lima em Ensaio sobre a Essência do Ensaio. São Paulo, Saraiva & Cia. Edit., 1946, pp.69 e ss.
3 Utilizo a tradução portuguêsa da República, feita por Maria Helena da Rocha Pereira, Lisboa, Calouste Gulbenkian Ed., 3a edição, 1980. pp-184-185.
4 O grande texto nosso contemporâneo sobre o tema da astúcia é o escrito de Jean Pierre Vernant e Marcel Detienne, Les ruses de l ´intelligence. La mètis des Grecs. Paris, Flammarion, 1974.
5 Utilizo a tradução da Biblia de Jerusalem em português. São Paulo, Paulinas Ed., 1973, pp.928-929.
6 “Qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi” (Vulgata, 34, 30, Marietti Ed., Roma, 1959, p. 428; Septuaginta, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 1979, p. 328.
7 Cf. Job un homme pour notre temps. De Saint Thomas d´Aquin, Exposition littérale sur le Livre de Job. Paris, Tequi Ed., 1980, pp. 458 e ss.
8 Ainda no século 18, a existência dupla é o apanágio dos que pensam contra o rei ou contra a religião de Estado. Diderot foi preso em Vincennes por este motivo, ao escrever a Carta sobre os Cegos. Entre muitos estudos sobre este ponto, cf. Macary, Jean: Masque et Lumières au XVIIIe siècle. André-François Deslandes ´citoyen et philosophe´, 1689-1757. La Haye, M. Nijhoff, 1975.
10 Blaise Pascal, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, 1964, Coleção La Pléiade, pp. 852 e
11 Cf. Ferreyrolles, Gérard : “L ´imagination en procès”, in Révue XVIIe siècle. Pascal. Octobre-décembre 1992, n. 177, 44e année, pp. 469 e ss.
12 Cf. Mckenna, A. : “Deux termes-clef du vocabulaire pascalien: idée et fantaisie”, in Pascal, L´Exercice de l´esprit. Révue des Sciences Humaines. 244, Octobre-décembre, 1996,pp. 103 e ss.
13 Tradução de Leon Robin, Oeuvres de Platon , Paris, Gallimard, Coleção Le Pléiade, 1950, Volume 2, p. 1214. Cf. Letter VII in Plato, Volume IX, Loeb Classical Library, Cambridge, Harvard University Press, 1975, pp. 541-542.
14 Edição francêsa : Mémoires d´un névropathe. Paris, Seuil, 1975.
15 Uso a edição brasileira da Universidade de Brasilia /Melhoramentos, Brasilia, 1986, pp. 493 e ss. Também me valho da tradução francesa: Masse et puissance, Paris, Gallimard, 1960, traduction R. Rovini, pp. 475-476.
16 Encyclopédie raisonée des Arts et des Métiers, de D´Alembert et de Denis Diderot. Utilizo a edição em CD Ed. da Redon, Paris, 2000.
17 in Obras Completas de Donoso Cortés, Madrid, BAC, 1970, v. 2, p. 318.
18 “Uma boa parte do prestígio de que gozam as ditaduras deve-se ao fato de lhes ser concedida a força concentrada do segredo, que nas democracias se reparte e se dilui entre muitos”. Elias Canetti, Massa e Poder, Ed. brasileira Universidade de Brasilia, p. 329. Todo este capítulo de Massa e Poder sobre o segredo é vital para a existência política brasileira nestes últimos tempos. A questão do segredo pode ser encarada de maneira diversa. Um exemplo de atitude democrática é a do Ministro Paulo Costa Leite: “Na minha gestão, estou determinado a buscar cada vez mais a visibilidade. Queremos um Tribunal em que as pessoas confiem e se sintam efetivamente atendidas em suas demandas”. Formas de pensamento democráticas merecem receber o máximo incentivo, sobretudo nos graves momentos que atravessamos na vida pública nacional. Cf.Discurso de posse na Presidência do STJ, citado na Revista a Ajufe, em homenagem ao Ministro Costa Leite.
19 O documento seguinte entrará para a história do Brasil, como sinal de um grave retrocesso na vida política nacional : “O mais grave, Senhor Procurador-Geral, é que vários documentos ilegalmente apreendidos têm caráter reservado e confidencial, sendo alguns deles de classificação secreta, e ainda assim tiveram ampla e indevida publicidade, através de jornais e televisão. Aliás, segundo informações do Comando Militar da Amazônia, durante a invasão, foi notada a presença da jornalista Andréa Michael da Folha de S. Paulo”. E mais : “Os documentos apreendidos, repita-se, não têm qualquer pertinência com o objetivo da Medida Cautelar de Exibição de Documentos de onde extraiu o Mandado de Busca e Apreensão, alguns são sigilosos e reservados, outros têm classificação secreta, e até a presente data não foram restituídos ao Ministério da Defesa (Comando do Exército)”. São apontadas também “evidências de que membros do Ministério Público Federal seriam os responsáveis pelo vazamento do teor dos documentos com classificação secreta, atitude que, salvo melhor juízo, merece ser amplamente investigada nas instâncias penal e administrativa”. Gilmar Ferreira Mendes, ao Procurador Geral da República, Geraldo Brindeiro. Consultor Jurídico, 1 de setembro de 2001. Quem lutou durante anos contra a ditadura militar, com a sua doutrina de segurança nacional, sabe perfeitamente o que significa “secredo de Estado”. Mas se as evidências se encaminham todas no sentido de que os documentos secretos afirmam que direitos constitucionais dos cidadãos podem (e devem) ser arranhados por organismos que deveriam agir segundo a lei, se milhares de seres pensantes puderam ler na Folha de São Paulo monstruosidades tirânicas, então cabe a pergunta: quem a Advocacia da União representa, na verdade? Qual a base da soberania? Todas estas questões fazem recordar um pretérito que teima em não morrer, o passado produzido por juristas como Francisco Campos, e seus pares do período militar. A franqueza era a virtude daqueles autoritários, inspirados na doutrina da soberania da contra revolução, a mesma que gerou o decisionismo brutal : “Souverän ist, wer über den Ausnachmezustand entscheidet”. Não mais o povo, mas os dirigentes do Estado detêm a decisão sobre o direito. Cf. Schmitt, Carl : Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1934.Getúlio Vargas, embalado por esta doutrina, afirmou: “O Estado não conhece direitos de indivíduos contra a coletividade. Os indivíduos não têm direitos, têm deveres! Os direitos pertecem à coletividade!” (Discurso de 1 de Maio de 1938, citado por L.W. Viana, Liberalismo e sindicato no Brasil, Paz e Terra Ed., 1976, p. 213). Se a franqueza de nossos políticos “realistas” fosse maior, a Constituição deveria ser redigida no sentido de enunciar: “todo poder emana dos dirigentes (no Executivo, Legislativo, Judiciário, com seus adendos, como o Exército) e em seu nome será exercido”.